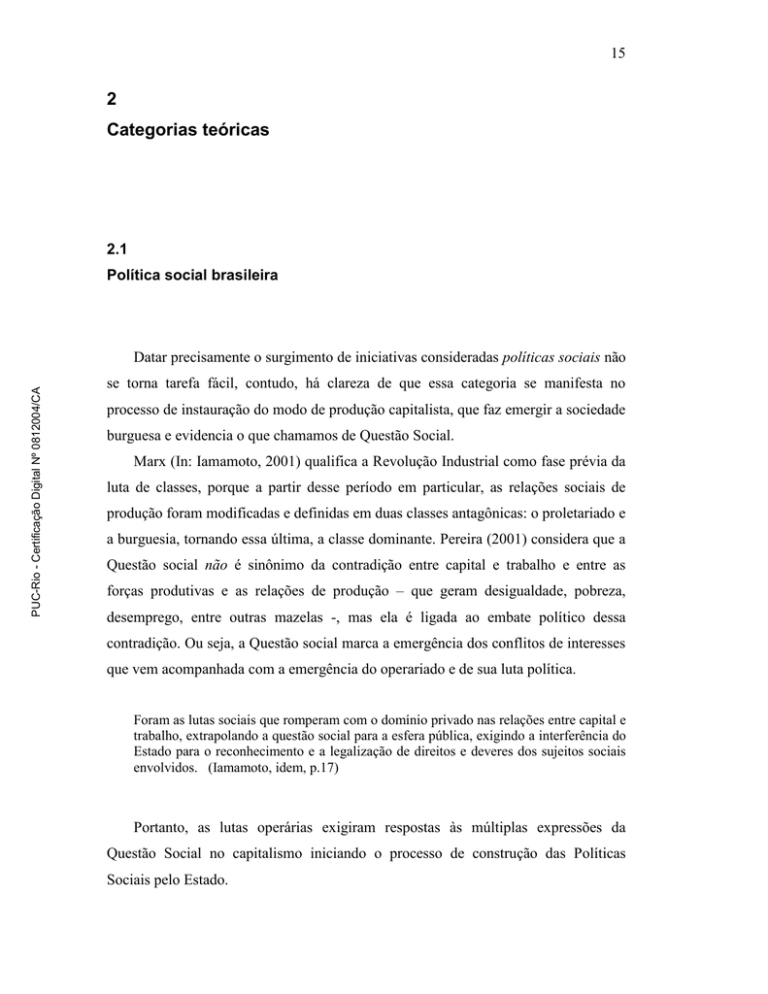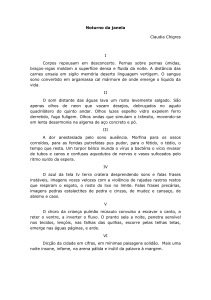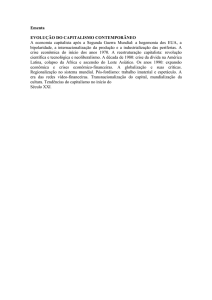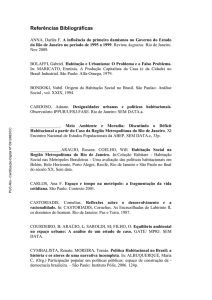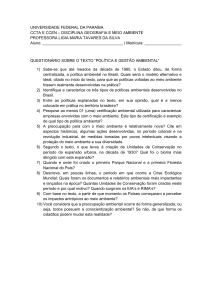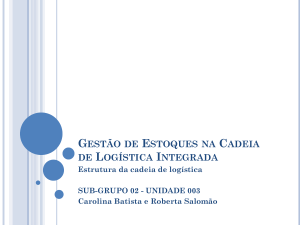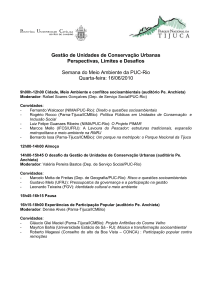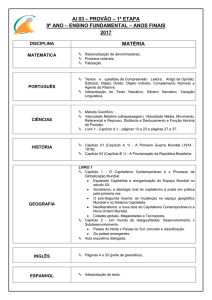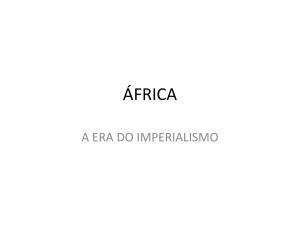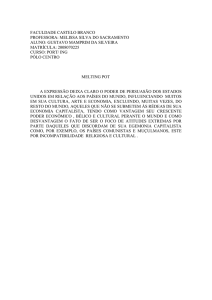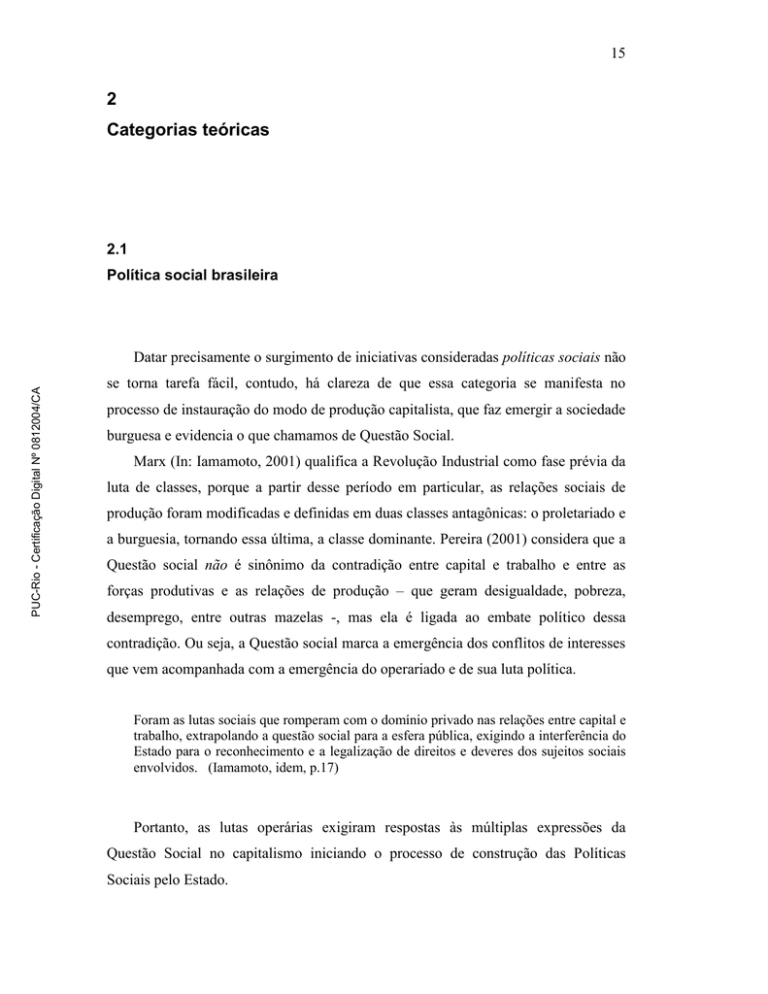
15
2
Categorias teóricas
2.1
Política social brasileira
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Datar precisamente o surgimento de iniciativas consideradas políticas sociais não
se torna tarefa fácil, contudo, há clareza de que essa categoria se manifesta no
processo de instauração do modo de produção capitalista, que faz emergir a sociedade
burguesa e evidencia o que chamamos de Questão Social.
Marx (In: Iamamoto, 2001) qualifica a Revolução Industrial como fase prévia da
luta de classes, porque a partir desse período em particular, as relações sociais de
produção foram modificadas e definidas em duas classes antagônicas: o proletariado e
a burguesia, tornando essa última, a classe dominante. Pereira (2001) considera que a
Questão social não é sinônimo da contradição entre capital e trabalho e entre as
forças produtivas e as relações de produção – que geram desigualdade, pobreza,
desemprego, entre outras mazelas -, mas ela é ligada ao embate político dessa
contradição. Ou seja, a Questão social marca a emergência dos conflitos de interesses
que vem acompanhada com a emergência do operariado e de sua luta política.
Foram as lutas sociais que romperam com o domínio privado nas relações entre capital e
trabalho, extrapolando a questão social para a esfera pública, exigindo a interferência do
Estado para o reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais
envolvidos. (Iamamoto, idem, p.17)
Portanto, as lutas operárias exigiram respostas às múltiplas expressões da
Questão Social no capitalismo iniciando o processo de construção das Políticas
Sociais pelo Estado.
16
Não se pode indicar com precisão um período específico de surgimento das primeiras
iniciativas reconhecíveis de políticas sociais, pois, como processo social, elas se
gestaram na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a Revolução
Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção estatal. Sua origem é
comumente relacionada aos movimentos de massa social-democratas e ao
estabelecimento dos Estados-nação na Europa ocidental do final do século XIX (...), mas
sua generalização situa-se na passagem do capitalismo concorrencial para o
monopolista, em especial na sua fase tardia, após a Segunda Guerra Mundial (pós-1945).
(Behring & Boschetti, 2008, p. 47)
Para analisarmos essas políticas precisamos considerar três elementos para
explicar seu surgimento: a natureza do capitalismo, o papel do Estado e o papel das
classes sociais. Destacamos o ator social Estado através das políticas públicas, como
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
objeto de análise nessa dissertação em função do seu papel de regulamentador e
implementador de políticas. Acompanhamos a visão de Abranches (1987) de que as
políticas sociais estão diretamente ligadas aos direitos sociais e por isso são
universais e asseguradas pelo Estado, o que as colocam no universo de políticas
públicas.
Essa posição é contrária das autoras Behring & Boschetti, (idem) que discordam
dessa perspectiva, considerando-a unilateral, pois predomina uma visão de Estado
pacifista desprovido de interesses, desconsiderando as luta de classes, ou pior, reside
a compreensão das políticas sociais como funcionais à acumulação capitalista,
assumindo função de mantenedora dos níveis de demanda e consumo e de
legitimadora da ordem capitalista, através da adesão dos trabalhadores ao sistema.
Assim, as políticas sociais, na visão das autoras, não são exclusivas do Estado, até
porque envolve outros atores, como as instituições privadas além da própria rede
solidária da sociedade civil, tampouco são fruto unicamente da classe trabalhadora.
Concordamos que as políticas sociais ocupam papel central de mediadoras, sendo
um espaço onde essas diversas forças e interesses podem atuar, porém quem as
regulamenta é o próprio Estado, cabendo a ele assegurar a sua vigência, pois nenhum
outro ator, mercado ou instituições do Terceiro Setor 1, possuem poder tão forte de
1
Segundo Neder (In: Pereira, 2003:24) a filantropia empresarial, junto com as entidades religiosas, as
associações beneficentes e esportivas, os sindicatos, as federações e confederações, as universidades e
fundações, agrupam-se no universo das Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) regulamentadas
pelo Código Civil Brasileiro de 1935. É importante esclarecer que as Organizações Não-
17
atuação. Sabemos que o Estado não é um espaço neutro, pacífico e aistórico, pelo
contrário, ele representa um conjunto de relações criado e recriado num processo
histórico tenso entre grupos diversos com interesses particulares, e daí reside a
importância de sua ação mesmo que não seja, muitas vezes, a mais justa possível.
Sendo assim, nessa dissertação consideramos então as políticas públicas, tanto na
pesquisa bibliográfica quanto na escolha do objeto de investigação, o Projeto
EcoBarreiras.
Na segunda metade do século XIX, o Estado assume uma postura menos
coercitiva, deixando de tratar os problemas sociais como “casos de polícia” e
passando a intervir na liberdade individual como forma de responder às grandes
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
demandas socioeconômicas ocasionadas pela sociedade de livre comércio e de base
industrial. Nasce assim, o Estado capitalista regulador ou claramente intervencionista.
Esse modelo de Estado foi adotado de maneira diferenciada em cada país
capitalista avançado europeu, atendendo em sua maioria demandas trabalhistas e
previdenciárias, mas sempre fundamentado na garantia por lei ao acesso a certos
serviços e benefícios, onde o cidadão é um sujeito de direitos sociais. Essa afirmação
explicita que a nação e seu povo encontram-se soberanas, acima do Estado, que passa
a servi-la conforme os preceitos democráticos.
No caso dos países periféricos, como o Brasil, ele adquiriu outras configurações.
Não encontramos, contudo, consenso teórico entre os estudiosos do tema sobre se
houve ou não um Estado de Bem-Estar no Brasil, ou seja, algumas linhas de
pensamento defendem a tese de que não houve de fato um Estado de Bem-Estar
nacional, pois ele é entendido como benefício e não como direito, onde os indivíduos
devem comprovar seu estado de miserabilidade para adquirirem acesso a serviços
mínimos. Embora já houvesse proteção social no Brasil elas só adquirem o conceito
de seguridade social, ou seja, pela tríade Assistência social, Saúde e Previdência, a
partir de 1988, com a nova Constituição Federal (Carvalho, 2008).
Governamentais (ONGs) não se enquadram dentro da categoria OSFL, pois ao contrário dessas, que
têm finalidades corporativas estritas, são classificadas como entidades com finalidades de interesse
coletivo pertencendo à categoria OSCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Tanto
as OSCIPs quanto as OSFLs compõem o campo do Terceiro Setor.
18
Nas palavras de Faleiros “No Estado do Bem-Estar social, a maior ou menor
restrição ao acesso a bens e serviços sociais está articulada ao desenvolvimento do
capitalismo e de suas contradições.” (1991, p.26) o que indica que o momento de
emergência do Estado Social vinha acompanhado de um processo de fortalecimento
do movimento operário, ocupando inclusive espaços políticos e sociais importantes,
como a participação no Parlamento; e paralelamente a um processo de concentração e
monopolização do capital. Esse movimento capitalista elevou à escala mundial a
concorrência por mercados dando origem ao capital financeiro que sob interferência
mínima dos governos culmina na I Guerra Mundial, mais conhecida como Guerra
imperialista.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Posteriormente ele dá sinais de crise quando em 1929 ocorre a Quebra da Bolsa
de Valores de Nova Iorque indicando que uma nova divisão de trabalho era
necessária para assegurar o consumo da produção em massa que vinha se realizando
(técnica Taylorista) e esclarecendo a incapacidade do mercado se autoregular.
O acirramento da exploração e da alienação desencadeia pobreza e desemprego
em massa, e o Estado é obrigado a atuar economicamente, apresentando como
alternativa o Fordismo 2, que garantiria níveis de consumo favoráveis para o
capitalismo, e oferecendo políticas sociais que assegurassem a reprodução da força de
trabalho. Nesse contexto começa-se a questionar o liberalismo ortodoxo e as
proposições de Keynes 3 ganham força, principalmente com as experiências do New
Deal 4 americano, como inspiração para saída da crise econômica européia e para o
fortalecimento das políticas sociais como forma de amortecer as crises cíclicas,
próprias do capitalismo.
O pacto fordista-keynesiano coloca o Estado como administrador na produção e
regulação das relações econômicas e sociais, garantindo níveis de consumo
favoráveis para o capitalismo e também para o trabalhador, através das políticas
2
Elaborada pelo industrial H. Ford a proposta fordista de nova divisão técnico-científica do trabalho
previa a “produção em massa para consumo em massa”.
3
J. Keynes em seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, de 1936, defendia a
intervenção do Estado na economia, com o papel de restabelecer o equilíbrio econômico e evitar nova
crise.
4
O New Deal foi um movimento de forte intervenção estatal na regulação agrícola, industrial,
monetária e social empreendida pelo Presidente americano Roosevelt entre 1932 a 1940 com o
objetivo de tirar o país da crise que o assolava.
19
sociais, tornando-se um modelo a ser seguido para reerguer os países europeus.
Aliado a isso a ajuda financeira americana através do Plano Marshall resultou em
nova onda cíclica de crescimento para a Europa, assolada pela guerra. Estabelece-se
nesse período os chamados “Anos Dourados” que elevam os EUA ao nível de
potência econômica mundial.
Nesse período, compreendido entre as décadas de 50 e 60, o Estado já se
encontra refuncionalizado e as políticas sociais tornam-se mais abrangentes e
universalizadas sob a fundamentação da cidadania “(...) de compromisso
governamental com aumento de recursos para expansão de benefícios sociais, de
consenso político em favor da economia mista e de um amplo sistema de bem-estar e
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
de comprometimento estatal com crescimento econômico e pleno emprego” (Behring
& Boschetti, idem, p.92).
Embora o princípio fosse o mesmo, o Welfare State na Europa adquiriu óticas
diferentes, seja na Alemanha, no final do século XIX com o modelo bismarckiano, ou
na Inglaterra com o Plano Beveridge (1942) que alterou significativamente os seguros
sociais qualificando-os como pertencentes a todos os indivíduos, ofertados de
maneira pública e contemplando outros serviços como educação, saúde, habitação,
assistência e emprego. O modelo beveridgiano foi inclusive utilizado pelo governo
americano embora tenha ganhado conotações mais restritivas e mercantis.
No caso brasileiro existem diferentes teses se o Estado de Bem-Estar de fato
existiu ou recebeu reinterpretações dos modelos inglês ou alemão, mas é fato que a
crise internacional de 1929 repercutiu no país e trouxe mudanças na economia e nas
classes sociais.
A crise financeira mundial deixou vulneráveis tanto as economias nacionais,
baseadas na monocultura para exportação, como a própria oligarquia cafeeira que vê
o enfraquecimento econômico alterar as correlações de poder. A diversificação da
economia com o ingresso do gado, do açúcar e outros itens, viabiliza o ingresso
político de novas oligarquias industriais. Entre elas, ganha especial destaque a
liderança de Getúlio Vargas, que apoiado a certos segmentos militares e sob a
bandeira da industrialização, instaura a chamada Revolução de 30. Essa nova etapa
político-econômica se torna evidente pela agenda modernizadora que funda a fase do
20
Estado de Compromisso, no enfrentamento da questão social, de maneira menos
coercitiva e mais voltada às demandas da classe trabalhadora.
Draibe (apud Behring & Boschetti: 2008) demarca o período de 1930 a 1943
como os anos de introdução da política social no Brasil e onde se desenvolve um
Estado social caracterizado como corporativo e fragmentado, pois a proteção social é
fundada exclusivamente nos trabalhadores ligados aos setores estratégicos da
economia, distante da perspectiva da universalização de inspiração beveridgiana.
O período que compreende da Revolução varguista até o golpe de 1964 foi de
expansão lenta e seletiva dos direitos sociais, mantendo-se fragmentados do ponto de
vista da cidadania. As políticas sociais da época apoiavam-se no tripé da previdência,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
com os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), na educação e saúde; com a
criação em 1930 do Ministério da Educação e Saúde Pública, e também em relação à
assistência social, com a Legião Brasileira de Assistência (LBA) em 1942.
Carvalho (2008) aponta que na década de 60, apesar de cercear os direitos civis e
políticos, os governos militares investiram na expansão dos direitos sociais, através
da unificação e universalização da previdência, algo que nem Vargas e Goulart
conseguiram realizar. Ao longo dessa década perpetua-se a lógica contributiva e do
clientelismo nas políticas e, no caso da cidadania, prevalece a ênfase no direito social
em detrimento dos outros direitos.
Já na década de 70, os reduzidos índices de crescimento nos países
industrializados acompanhado com o aumento das taxas de inflação fomentaram a
pressão para a reconfiguração do papel do Estado, pois pela lógica liberal as políticas
keynesianas não conseguiam mais responder à recessão advinda da crise capitalista de
1969 a 1973. Começa a ganhar força então um conjunto de receitas econômicas e
programas políticos inspirados pelo economista Milton Friedman e por outros
ferrenhos inimigos do keynesianismo e do New Deal americano, que compunham a
Sociedade de Mont Pèlerin 5 e propunham uma alternativa chamada de:
neoliberalismo.
5
Na realidade a Sociedade de Mont Pèlerin surge anteriormente, em 1947, quando as bases do Welfare
State se construíam, mas somente ganhou força com a crise de 1973 e com o governo inglês de
Thatcher em 1979.
21
Para eles a crise era resultado “(...) do poder excessivo e nefasto dos sindicatos e
do movimento operário, que corroeram as bases da acumulação, e do aumento dos
gastos sociais do Estado, o que desencadearia processos inflacionários” (Behring &
Boschetti: 2008, p.126). A hegemonia neoliberal ganha força no final dos anos 70
defendendo a não intervenção do Estado na regulação do comércio exterior e nos
mercados financeiros e tornando-se agenda em diversos países da Europa, como no
governo inglês de Margareth Tatcher e nos EUA, com o presidente Ronald Reagan.
O projeto neoliberal não foi capaz, no entanto, de resolver a crise do capitalismo
e o baixo crescimento econômico. Pelo contrário, suas metas não superaram os
resultados da política keynesiana, atingindo fortemente a classe trabalhadora e
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
tornando mais aguda a questão social e suas expressões. O crescimento dos índices de
desemprego, os aumentos dos impostos para a classe trabalhadora e as mudanças na
organização do trabalho geraram alta concentração de renda em índices nunca vistos.
No caso dos países latinoamericanos, a agenda neoliberal atuou de maneira mais
eficaz e perversa em relação à redução dos gastos sociais e na precarização das
políticas sociais. Esses elementos contribuiram para o processo de privatização da
proteção social vividos nas décadas de 80 e 90.
Anderson (1995) enfatiza que a meta do projeto neoliberal era manter um Estado
mínimo voltado prioritariamente à estabilidade monetária e seguidor de uma
disciplina orçamentária voltada para a contenção dos gastos com bem-estar,
restaurando a taxa natural de desemprego, ou seja, mantendo um exército industrial
de reserva e a desigualdade socioeconômica, fatores inerentes ao modo de produção
capitalista. A penetração neoliberal nos países da América Latina deu-se de forma
diferenciada em grande parte pelo evento intitulado de Consenso de Washington e
pelas idéias voltadas para uma Reforma do Estado, objetivando mínima interferência
deste. Além disso, a crise econômica do final dos anos 70 e inicio dos anos 80,
possibilitou a ascensão dos partidos de direita, que representavam a força política e
ideológica dos postulados neoliberais.
Os efeitos sobre as políticas sociais se deram de maneira diferenciada nos países
capitalistas avançados, como Europa e EUA. Particularmente no caso brasileiro,
22
atuou
sucateando
a
tríade
previdência-saúde-assistência
e
estimulando
a
privatização 6.
Paralelamente ao processo de seletividade e focalização das políticas sociais, na
contramão das propostas da Constituição Federal de 1988, abre-se espaço para a
intervenção da sociedade civil e do mercado sobre a questão social. O discurso
neoliberal reforçava a idéia de um Estado corrupto e ineficiente, deixando à sociedade
e aos indivíduos a responsabilidade social. Dessa forma, cabia aos setores
empresariais o papel de atender às áreas da Saúde e Seguridade Social e aos setores
filantrópicos e não-governamentais (popularmente chamado de Terceiro Setor) o
papel na área da Assistência Social.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Embora o Brasil estivesse sofrendo esse processo de reestruturação capitalista, ao
mesmo tempo, ele passava por um avanço quanto à organização e fortalecimento dos
movimentos sociais engajados na luta por direitos sociais e cidadania, constituindo-se
uma força de oposição às idéias neoliberais de acirramento das desigualdades sociais
e econômicas. A Carta Magna de 1988 representou a força desses atores, trazendo
avanços sobre a política social brasileira, com a introdução da seguridade social, dos
direitos urbanos, das minorias e do tratamento dado ao meio ambiente e da maior
ingerência da sociedade sobre a gestão pública, via controle social, através dos
conselhos nacionais, estaduais e municipais nas mais diversas áreas.
No entanto, conforme assinala Laurell (1995), apesar da constituição de
processos democráticos e da orientação das políticas sociais serem características de
um Estado de Bem-estar, estes são considerados ‘incompletos’ por possuírem
limitações, principalmente quanto à universalização do seu atendimento, que passou a
ficar reduzida a grupos em condições muito precárias de sobrevivência, desde que
conseguissem comprovar sua situação. Exemplo disso é a adoção de programas de
6
O Plano Brady Collor (1990-1992) negociado pelo Governo brasileiro com o FMI estabelece como
contrapartida para a redução da divida externa e dos juros, a abertura comercial e financeira e a
privatização da economia brasileira.
23
transferência de renda, que ganha destaque na década de 70 na Europa e se dissemina
no Brasil atualmente, como o programa Bolsa-Escola 7 do Governo Lula.
A política de garantia de uma renda social mínima surge no Brasil apenas na
década de 1990, com características compensatórias, sob orientação de instituições
multilaterais como o FMI e Banco Mundial e tratando a família como ator político e
de intervenção social como a Lei 9.533/97 8 no Governo FHC e, posteriormente, a Lei
10.836/2004 9 no Governo Lula. Contudo, esses programas não estão associados a
mudanças profundas, não tendo alterado os determinantes da pobreza estrutural
(Mendes e Marques, 2007).
Retomando o debate da Seguridade social, a expressão traz em seu bojo uma
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
visão sistêmica da política social, caracterizada por Vianna (2002) “como conjunto
integrado de ações, como dever do Estado e como direito do cidadão” (p.173), que
qualifica a inserção do termo seguridade na constituinte de 1988 como um sinal de
consolidação de mecanismos de gestão mais equânimes capazes de darem conta das
especificidades de cada área mantendo o espírito universal, distributivo e nãoestigmatizador. Na prática sabemos que nada disso se materializou e, ao contrário,
caminhou e caminha para o retrocesso da seguridade.
Cada área passou a ser regida por leis distintas e por ministérios diferentes assim
como seus orçamentos, Conferências e Conselhos. Um exemplo disso foi a
recondução da Previdência, através do INSS, ao Ministério do Trabalho no governo
Sarney (1989) e a não aprovação da criação de um Ministério da Seguridade Social
que agruparia as três pastas.
Reforça-se então importância da política econômica sobre a política social,
minando as bases de sustentação do projeto alternativo e democrático de proteção
social e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para ações cada vez mais particularizadas e
restritas do mercado (vide os planos de seguro privados) e da sociedade civil no
atendimento das expressões da questão social, se valendo do mito da ineficiência e
burocracia estatal. É importante destacar que além da seguridade social, a área
ambiental também é vista sob essa perspectiva compartimentada das outras áreas e
7
Lei 10.219/2001
Dispõe sobre o apoio financeiro aos municípios que instituírem programas de renda mínima.
9
Programa Bolsa Família.
8
24
sob uma lógica de mercado, o que discutiremos a seguir. Concluindo, através da luta
para o fortalecimento das políticas públicas podemos efetivamente mudar o rumo da
nossa história e, quem sabe retomar o debate da política social através de uma visão
de totalidade incorporando essa as novas demandas que vêm se configurando, como o
caso das questões ambientais, sob uma perspectiva integrada e universal.
2.2
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Política ambiental brasileira
Ao iniciarmos a discussão sobre a política ambiental brasileira, primeiramente
enfatizemos que essa análise se fará sob um enfoque de resgate histórico e dos
processos sociais que fizeram emergir a questão ecológica. Bredariol & Vieira (1998)
apresentam a idéia de que a temática ecológica foi inserida na agenda das políticas
públicas brasileiras em grande parte em função das pressões internacionais.
Até o evento de Estocolmo em 1972 10 não havia uma política ambiental
propriamente dita e tampouco uma ação coordenada de governo ou uma entidade
gestora. No Brasil, no período do Estado nacional-desenvolvimentista demarcado
entre 1930 a 1970 a gestão ambiental era marcada pela racionalização dos recursos
naturais em prol do desenvolvimento econômico e a definição de áreas de
preservação permanentes e unidades de conservação 11. Criam-se diversos
departamentos nacionais, de Águas e Energia (DNAE), de Obras e Saneamento
(DNOS) ligados a diferentes ministérios, gerando uma compartimentação da questão
ambiental e sobreposição de ações no âmbito de políticas públicas, sob orientação
conservacionista e burocrática (por meio de proibições, licenciamentos, outorgas).
A agenda desenvolvimentista no período ditatorial das décadas de 60 e 70 era
centralizada na construção de infra-estrutura para o país e no desenvolvimento
10
Primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente das Nações Unidas, realizada em Estocolmo em
1972.
11
Não podemos, descartar a importância da política de criação de parques e reservas biológicas
considerada bastante avançada para época e que permanece em vigor e ampliando-se.
25
industrial sem preocupação com os impactos ambientais 12 e desconsiderando a
diversidade cultural e étnica das populações tradicionais, ou seja, sem incorporar uma
dimensão social nas questões ambientais.
Mesmo assim, é clara a importância do evento de Estocolmo que colabora para a
discussão de um novo espaço público internacional de tratamento da questão
ambiental permitindo o surgimento de uma participação política de grupos, pessoas e
organizações ambientalistas de todas as partes do mundo. No caso dos países em
desenvolvimento, o documento centrava-se na degradação ambiental relacionada aos
problemas demográficos e de pobreza, principalmente em relação à poluição
industrial. Há uma forte conexão da política econômica e a industrialização nacional -
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
que alteraram os padrões de consumo e produção e intensificaram a pobreza e a
urbanização - com a depredação ambiental.
No quadro brasileiro as políticas governamentais nesta matéria nos anos 70 ficaram
muito aquém das já limitadas recomendações de Estocolmo, tendo se concentrado na
criação de agências ambientais nos Estados, ora sob o enfoque ambíguo do
conservadorismo clássico, ora tendo a gestão ambiental identificada com o controle da
poluição industrial em zonas metropolitanas. (NEDER, 1994, p.121)
Para Bredariol & Vieira (idem) ainda na ditadura, abre-se um espaço de
intervenção do movimento ecológico, que embora ainda fosse pulverizado 13 e restrito
a ações regionais e locais, consegue em conjunto com as pressões internacionais
propiciar a criação, pela primeira vez na história do país, de uma Política Ambiental
nacional, pela Lei n° 6.938 de 1981. Essa política ambiental tratava o meio ambiente
sob forma sistêmica em seus diferentes orgãos, legitimando o Ministério Público na
responsabilidade civil e criminal de danos ambientais, com ênfase no controle da
poluição através de legislações de zoneamento industrial, sobre uso do solo urbano e
sobre avaliações de impactos ambientais.
Com o processo de redemocratização do país nas décadas de 80 e 90 o
ambientalismo ganha força e passa a estabelecer relação com os movimentos
12
Como por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, num acordo assinado entre Brasil e
Paraguai em 1973.
13
O movimento ambientalista brasileiro era restrito às camadas médias e intelectualizadas da
sociedade em geral das regiões Sul-Sudeste, sendo marcado pela diversidade de ativismo - alguns
ligados à corrente conservacionista americana e outros ao Novo Ambientalismo .
26
populares, como por exemplo, os dos seringueiros no Acre liderados pelo ativista
Chico Mendes. A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) em 1992 no Rio de Janeiro, popularmente
conhecido como ECO-92, evidenciou uma nova fase sobre a discussão e
responsabilidade sobre o meio ambiente aos governos, com a participação de agente
privados, organismos multilaterais e principalmente, da sociedade civil sob nova
configuração: organizações não-governamentais.
Podemos dizer que a realização da Conferência de 1992 no Brasil incentivou a
popularização do debate ambiental, ou seja, disseminou-se um olhar mais atento às
questões ambientais brasileiras em todas as camadas sociais e nos governos locais.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Concomitantemente, o governo federal funda a Secretaria Especial do Meio
Ambiente (Sema) vinculada ao Ministério do Interior com a função de traçar
estratégias para conservação do meio ambiente, e ao mesmo atenuar a imagem
negativa do país no cenário internacional pós-evento de Estocolmo. Verifica-se a
multiplicação de secretarias e órgãos locais ambientais como a Feema (Fundação de
Engenharia do Meio Ambiente) no Rio de Janeiro e a Companhia de Tecnologia e
Saneamento ambiental (Cetesb) em São Paulo.
Neder (idem) assim como Graf (2005) afirma que na prática a Política Nacional
Ambiental constitui-se pouco consistente e sob desarticulação intersetorial,
estimulando uma maior inserção dos movimentos sociais e ambientalistas na defesa
do meio ambiente inclusive na construção de uma política mais adequada às
demandas da sociedade, como se manifesta no conteúdo da própria constituinte de
1988.
Para Santilli (2005) essa Política, na forma da Lei n° 6.938/1981, não condiz com
as leis ambientais posteriores, nem com os princípios definidos pela nova
Constituição Federal, pois não rompe com a ênfase ao controle e repressão de práticas
lesivas ao meio ambiente, integrando os bens naturais aos bens culturais 14. O texto
constitucional valoriza as questões sociais de culturas populares, indígenas e afrobrasileiras relacionando-as com as questões ambientais, mudando a perspectiva das
14
O artigo 216 da Constituição estabelece como patrimônio cultural brasileiro bens de natureza
material e imaterial, incluindo tanto conjuntos urbanos e sítios de valor histórico como também sítios
ecológicos.
27
políticas públicas através da construção do desenvolvimento sustentável e da
cidadania.
Verifica-se no texto constitucional uma clara ampliação da noção de patrimônio
cultural, a valorização da pluralidade cultural e um espírito de democratização das
políticas culturais, inseridos em um contexto de busca de concretização da cidadania
e de direitos culturais. (SANTILLI, idem, p.74)
O evento da ECO-92 e a nova Constituição Federal trouxeram grande
visibilidade pública sobre as questões ambientais além de fortalecer politicamente os
movimentos e organizações da sociedade civil personificados como co-responsáveis
no chamado controle social 15 através dos conselhos de meio ambiente , os comitês de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
bacias e de áreas de proteção ambiental (APAs). Além disso, abriu-se espaço para a
entrada da comunidade científica e do empresariado nas ações e debates ambientais
resultando em um boom de pesquisas na área e de parcerias entre esses novos atores,
que mais a frente gerou o chamado campo da Responsabilidade sócio-ambiental.
Um dos aspectos observados na ECO 92 foi a constituição de redes
objetivando maior articulação entre as infinitas organizações ambientalistas que se
proliferaram pelo país sob a proposta de construir uma Agenda 21 nacional,
documento-base produzido como resultado da Conferência do Rio de Janeiro. Nessa
época funda-se o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos sociais para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento encarregado de mobilizar a discussão sobre os desafios
específicos da sustentabilidade brasileira, subdivididos em redes e coalizões entre
grupos de atuação, como águas e rios, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, etc.
A Agenda 21 apresenta como indissociável a problemática social e ambiental,
seja nos âmbitos locais, como nacionais e internacionais, estabelecendo um pacto de
mudança – através de metas - do padrão de desenvolvimento para o próximo século.
Cada país construiu sua agenda nacional e local considerando as suas particularidades
históricas e culturais, adotando áreas temáticas que representavam a problemática
socioambiental como forma de pensar saídas através do desenvolvimento sustentável.
15
Por controle social entende-se a participação da sociedade, com a representação de governantes,
usuários e de movimentos sociais e/ou organizações não-governamentais, no acompanhamento e
avaliação das ações da gestão pública na execução das políticas sociais.
28
Esse documento constituiu-se um símbolo de maior definição e aplicabilidade
a níveis locais de uma política ambiental brasileira, chamando à responsabilização
estados e municípios e de cobrança da sociedade civil sobre as formas de exploração
e qualidade dos recursos naturais através de instrumentos legais, como as audiências e
consultas públicas ou pelos conselhos de meio ambiente (leia-se CONAMA,
CONEMAs, etc). A agenda brasileira envolveu desde 1997 até 2002, ano de sua
conclusão, cerca de 40.000 pessoas nas discussões tendo sido considerado o mais
amplo processo de participação popular na definição de políticas públicas no país
(Bredariol & Vieira). E de fato foi um processo democrático e inovador, utilizando
experiências locais e regionais para construção de políticas sob o norte do
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
desenvolvimento sustentável, e por que não, do termo socioambiental.
A Agenda 21 Brasileira procura, pois, estabelecer equilíbrio negociado entre os
objetivos e as estratégias das políticas ambientais e de desenvolvimento econômico e
social, para consolidá-los num processo de desenvolvimento sustentável. Esse
esclarecimento é indispensável uma vez que os planos de desenvolvimento no Brasil
tendem, em geral, a listar objetivos e diretrizes potencialmente conflitivos sem
explicitar para o poder público os valores e preferências envolvidos. A ausência de
negociação no processo de planejamento leva os conflitos entre objetivos a soluções
casuísticas, que refletem, em última instância, a pressão de grupos de interesse.
Historicamente, as políticas, programas e projetos de desenvolvimento
socioambiental têm demonstrado menor poder de barganha 16.
Retomando o debate em torno da Política Ambiental, Graf (idem) a define
como “o conjunto de regulamentações e ações governamentais que visam a
sustentabilidade ambiental das atividades humanas, a conservação dos recursos
naturais, a recuperação de ecossistemas degradados, a manutenção dos ciclos
ecológicos e a garantia da qualidade ambiental para as gerações presentes e
futuras” (p.101)
A autora descreve que um dos principais conflitos socioambientais, e que
incidem sobre a política ambiental brasileira, é a questão da propriedade privada e o
16
AGENDA 21Brasileira, no item Ações prioritárias, 2ª edição. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=4989&i
dMenu=4590>. Acesso em: 10 março 2010.
29
bem comum, agravada pela apropriação desigual dos recursos naturais, intimamente
conectadas com o modo de produção e consumo atual. Melhor dizendo, a
problemática ambiental gera questionamentos sobre o direito de propriedade, um dos
pilares do capitalismo, abrindo um fervoroso debate no plano econômico e
sociopolítico sobre a difícil viabilidade de políticas que atendam às demandas sociais
e ambientais dentro da atual conjuntura da ordem neoliberal.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
O novo Código Civil também reforça o conceito de função socioambiental da
propriedade, ao estabelecer, no artigo 1.228, que o direito de propriedade deve ser
exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que
sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, e evitada a poluição do ar e das águas. (SANTILLI,
idem, p. 89)
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257), em seu primeiro parágrafo, também
apresenta essa relação entre propriedade, no caso a urbana, em prol do bem-estar dos
cidadãos e do equilíbrio ambiental:
Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes
gerais:
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
(...)
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de
baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e
ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população
e as normas ambientais;
Estão dispostos então um dos principais desafios das políticas públicas, em
especial da ambiental: de atender aos diferentes interesses de classe propiciando o
desenvolvimento social e econômico em conjunto com a preservação ambiental.
Muitos atores sociais nesse processo sejam públicos ou privados, responderiam que
uma das respostas encontra-se na própria Agenda 21, contudo a questão vai além:
30
como pensar políticas públicas numa ordem capitalista que vai de encontro com essas
propostas?
Graf (ibidem) nos responde com a idéia da sustentabilidade ambiental nas
políticas públicas como um todo, onde a política ambiental deve ser transversal
perpassando as demais políticas. Para tal, seriam necessários novos modelos de
desenvolvimento, sob prioridade ambiental.
Porém, a autora não menciona de qual maneira, pela política transversal,
conseguiríamos superar a crise econômica, as taxas oscilantes de desemprego e a
desigualdade social, enraizada historicamente em nosso país e, sobretudo à lógica
capitalista onde esses fatores são inerentes à sua produção e reprodução. A Agenda
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
21 nacional tampouco apresenta soluções de transformações estruturais 17. Ela elenca
temas estratégicos para o Desenvolvimento Sustentável entendendo que ele é passível
de existir dentro do sistema atual, sob a lógica do capital.
Por fim, chegamos a um dilema sobre como se colocam as políticas públicas
atualmente, as sociais e ambientais, e como queremos que elas se configurem no
futuro. Pensamos que a construção teórica do conceito de Questão socioambiental
seja um caminho para ampliação do debate e das lutas, assim como a análise de ações
sociais e ambientais do Governo do estado do Rio de Janeiro, que se apresentam
como um projeto dessa superação. É exatamente esse ponto que se foca essa
dissertação.
17
A AGENDA 21 brasileira foi construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global em 1996 e
concluída em 2002 após ampla consulta e participação popular e do governo federal. Em sua segunda
edição (2004), a Agenda é dividida entre “Resultado da Consulta nacional” e “Ações Prioritárias”. Na
primeira parte é apresentada uma visão de sustentabilidade das diferentes regiões do país organizadas
em forma de princípios orientadores de políticas públicas. Além disso, o documento reúne todas as
ações sugeridas nos debates estaduais sobre os seis temas eleitos como estratégicos pela Comissão de
Política de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Brasileira (CPDS): gestão dos recursos
naturais, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, redução das desigualdades sociais, infraestrutura e integração regional e ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável.
31
2.3
Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade ou
Ecodesenvolvimento: a heterogenia de terminologias
Para tratar do que denomino de questões socioambientais, e assim discutir
políticas públicas afinadas a elas, faz-se necessário uma discussão sobre como se
desenvolveu e continua a desenvolver a relação com os dilemas sociais com a
problemática ambiental. Supomos que essa definição deve ser construída de maneira
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
cuidadosa em vista da extensão de significados que esse termo ganhou, muitas vezes
associada com outros já estabelecidos como desenvolvimento sustentável ou
sustentabilidade, sendo utilizado por diferentes atores e segmentos da sociedade.
Para contextualizarmos, Maricato (2001) e Abreu (1988) apresentam a idéia
de que o processo de industrialização no século XIX, decorrente da Revolução
Industrial, foi o pontapé inicial na degradação do meio ambiente, provocando uma
explosão populacional e uma acelerada urbanização, intensificada no século seguinte,
mas que já produzia efeitos claramente percebidos pela população e governantes
como, por exemplo, problemas de saúde decorrentes da poluição.
Pádua (2002), ao contrário, afirma que o pensamento político e a crítica
ambiental já eram percebidos, embora timidamente, nos séculos XVII e XVIII em
países europeus e suas colônias. O autor descreve o desenvolvimento de estudos de
mineralogia, de vegetais e animais, influenciados pelo Darwinismo, Iluminismo e
Romantismo, onde se relatavam impactos destrutivos decorrentes da ação humana em
florestas, bosques e até na cadeia dos Alpes. Um dos resultados dessa preocupação foi
o estabelecimento de jardins botânicos nas colônias, transportando espécies de outras
regiões para garantir sua sobrevivência 18 e verificar utilidades econômicas e
alternativas comerciais, como ocorreu no caso da descoberta de novas minas de ouro,
18
Na Guiana Francesa foi erguido um jardim botânico denominado La Gabrielle. No Brasil, o
primeiro jardim construído ocorreu no Rio de Janeiro em 1808.
32
na introdução da cana e do algodão, impulsionando o comércio agro-exportador, e
inclusive a descoberta das seringueiras para extração da borracha no século XIX.
De toda forma, os esforços de crítica ambiental existentes a partir do século XVIII,
que estão sendo redescobertos pela historiografia recente, podem ser visto como
momentos no processo de tomada de consciência dos dilemas ambientais no universo
da modernidade. Eles foram capazes de enunciar uma questão política global que
apenas hoje, em plena mudança de milênio, está sendo percebida em toda a sua
radicalidade. (PÁDUA, idem, p.29-30)
Os primeiros passos rumo ao debate político sobre a proteção à natureza
ocorreu em 1909 no Congresso Internacional para Proteção da Natureza em Paris,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
sob a proposta de criar uma organização internacional com essa finalidade
(McCormick, 1992). Infelizmente a eclosão da primeira Guerra Mundial impediu sua
concretização e somente nos períodos pós-segunda guerra é que se faz ressurgir essa
idéia. A criação da FAO 19, Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação, em 1945 torna-se um exemplo das concepções passadas, mas sob nova
roupagem, menos preservacionista. Ela se propunha ao desenvolvimento e a
exploração de recursos naturais para atender as necessidades do mundo assolado pela
fome, primordialmente centrada na sobrevivência humana.
Mesmo assim, a organização de uma consciência social e política em torno dos
problemas ambientais só começou a manifestar-se, de forma vigorosa, a partir da
segunda metade dos anos sessenta, particularmente nos países desenvolvidos, os
primeiros a sofrer severos problemas de poluição industrial.
(Graf, 2005, p.3)
Um dos símbolos do processo de conscientização ambiental foi a publicação
em 1962 do livro Primavera Silenciosa pela americana Rachel Carson que
denunciava o desaparecimento de pássaros nos campos silvestres, provocado pela
utilização do pesticida DDT na agricultura. O livro gerou tamanha força e
mobilização dos cidadãos, que o DDT acabou sendo proibido nos Estados Unidos, e
logo a seguir, na maioria dos países do mundo. A partir desse evento iniciou-se um
19
Sigla em inglês para Food and Agriculture Organization.
33
processo de exigência da população, ainda exclusivo nos países desenvolvidos,
cobrando das autoridades maiores informações sobre as condições do meio ambiente
e controle da poluição.
Uma das conseqüências desse movimento foi a criação do Clube de Roma em
1968, formado por um grupo de cientistas internacionais intencionados em estudar e
propor soluções para os problemas decorrentes da explosão demográfica que incidia
sobre o equilíbrio dos ecossistemas do planeta. Em 1971, o grupo produziu o
primeiro relatório intitulado The Limits to Growth (Os Limites do Crescimento) que
recomendava a imediata adoção de uma política mundial de contenção do
crescimento econômico, influenciando inclusive nas propostas apresentadas na
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Conferência de Estocolmo em 1972. Haroldo Mattos de Lemos 20 coloca que “os
países subdesenvolvidos entenderam que esta política, denominada crescimento zero,
se adotada, condenaria a maioria dos países da Terra a situações de permanente
subdesenvolvimento”
21
e por isso condenaram as propostas do Relatório, sob
liderança do Brasil e da Índia.
Eventos anteriores ao de Estocolmo em 1972 objetivavam a adequação de
recursos naturais para atendimento das demandas mundiais, mas pouco interferiu na
agenda política e econômica dos países. Assim tanto essa Conferência, como a
posterior no Rio de Janeiro em 1992, representaram um marco no reconhecimento
global de que as questões ambientais estão profundamente ligadas às questões sociais
e econômicas, trazendo à agenda internacional o conceito de desenvolvimento
sustentável.
Embora esse conceito tenha sido empregado inicialmente no Relatório
Brundtland 22 somente na ECO-92 ele ganha força, sendo entendido como aquele que
atende às necessidades das gerações presentes, sem comprometer as gerações futuras.
Portanto, Desenvolvimento sustentável requer um processo de revisão dos padrões de
20
Prof. Adjunto da Escola Politécnica da UFRJ; MSc em Engenharia Sanitária e Presidente do
Instituto Brasil PNUMA, do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente.
21
Texto escrito pelo Prof. Haroldo M. Lemos extraído do material didático utilizado no curso de PósGraduação em Gestão Ambiental da UFRJ em parceria com o Instituto Brasil PNUMA.
22
Segundo VEIGA (2007) o termo foi publicamente empregado pela primeira vez em agosto de 1979
no Simpósio das Nações Unidas sobre Inter-relações entre Recursos, Ambiente e Desenvolvimento,
mas se legitimou como conceito político com esse Relatório, apresentado na Assembléia Geral da
ONU em 1987.
34
produção e consumo, de forma a não pôr em risco os ecossistemas, a água e o solo e,
paralelamente, promover igualdade de oportunidades a todos. Não precisamos dizer
que o conceito além de inovador repercutiu criticamente sobre os governos e sobre a
liberalização da economia existente nos países.
Fonseca (2005) aponta que esse termo ganha diferentes significados de acordo
com as agendas políticas e o contexto histórico vigente. Assim, “(...) no princípio da
década de 1990, o termo desenvolvimento significava a capacidade dos países de
produzir mais, o que equivale a dizer, que a sua primeira parte estava diretamente
ligada ao campo da economia. A palavra sustentável, naquele momento, se referia às
idéias de preservação, conservação e proteção ambiental. (...) Desta relação
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
improvável entre economia e natureza, cujos valores eram incompatíveis e
antagônicos por definição, nascia a tensão essencial do conceito desenvolvimento
sustentável de então.” (p.4)
É importante colocar que nessa época não houve menção à temática social,
deixando implícito que caberia a responsabilidade aos Estados.
Em meados da década de 90, o termo foge da dimensão econômica e adquire
um viés social, principalmente pelo cenário mundial de catástrofes ambientais 23.
Dessa forma o termo desenvolvimento adquire novo significado na Conferência
Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em
Joanesburgo no ano de 2002 - conhecida como a Rio+10 – onde as pautas centrais
eram a erradicação da pobreza, a preocupação sobre a humanidade e a
responsabilidade comum a todos, reconhecendo as ações dos atores sociais da esfera
não-estatal, no atendimento dessas questões.
Os resultados desse evento, a Declaração de Joanesburgo e o Plano de
Implementação, indicavam metas e temáticas mais amplas como o acesso à água
tratada e o saneamento, o gerenciamento de resíduos tóxicos e uso de fontes
alternativas de energia, mas não apontaram um avanço na discussão do
desenvolvimento sustentável.
23
Refiro-me ao fenômeno El Nino que atingiu vários países das Américas, como Equador em 1997 e o
debate sobre o aquecimento global, estimulado pelo Protocolo de Kioto em 1998.
35
Oliveira (2009) critica o uso indiscriminado na atualidade, seja no meio
científico como nas diversas camadas sociais e até em correntes do movimento
ambientalista, do desenvolvimento sustentável, pois o que o torna mais aceito é
exatamente sua imprecisão. Já para Acselrad (2001), a imprecisão do conceito sugere
que não há hegemonia estabelecida entre os diferentes discursos, e com isso, “abre-se,
portanto, uma luta simbólica pelo reconhecimento da autoridade para falar em
sustentabilidade” (p.29) já que ele é definido pelo conjunto de práticas, não estando
estabelecido.
Por fim Leff (2001) complementa essa discussão descrevendo que a noção
atual de desenvolvimento sustentável fundamenta-se no discurso do crescimento
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
econômico sustentado, sendo divulgada e vulgarizada até fazer parte do discurso
oficial e pelo senso comum.
Concordamos com os autores, pois o conceito carrega em si uma aura de
positividade amplamente utilizada por instituições governamentais, organizações
internacionais, empresas e meio de comunicação, mas que na prática não revelam
suas intenções, pregando em sua maioria, a viabilidade do desenvolvimento
sustentável dentro do atual modelo econômico.
A percepção do que é ou constitui esse conceito – bem como o seu oposto, isto é, a
condição de subdesenvolvimento – está inscrita no imaginário social de maneira
arraigada, principalmente nos seguintes aspectos relacionados ao conceito: o
impedimento de reflexões mais aprofundadas sobre seu significado; a sua aceitação
praticamente unânime nas diferentes sociedades; as classificações e estigmas que têm
perpetrado ao servir às definições dos países do Norte sobre como devem agir as
sociedades do Sul, para que estas alcancem o status de desenvolvidas. (Oliveira,
2009, p.37)
De maneira pioneira, Ignacy Sachs difundiu o conceito de ecodesenvolvimento
proposto como um desenvolvimento endógeno, extraído das potencialidades
particulares de cada país ou região, sem criar dívida externa e com gestão responsável
do meio ambiente. O conceito nasceu pelas questões apontadas na Conferência de 72,
tendo influenciado diretamente as formulações da Rio 92 e, inclusive na construção
do conceito de desenvolvimento sustentável, pois pensava de maneira pioneira
36
projetos alternativos, em geral ligados à definição de um novo modelo energético de
incentivo à economia e de superação da miséria 24.
O documento construído a partir da ECO 92, a Agenda 21 global, apontava a
relação entre desigualdades sociais e meio ambiente, enfatizando que sem a
erradicação da pobreza não há viabilidade de desenvolvimento sustentável. Para a
Agenda 21 brasileira, esse esforço deveria estar centrado na redução de fatores
determinantes das desigualdades sociais nacionais, como: a concentração e
distribuição de renda, as taxas de mortalidade infantil e esperança de vida, a situação
educacional, o uso do trabalho infantil, as condições das moradias quanto à
infraestrutura básica, as condições de acesso ao sistema de saúde, a situação social
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
das minorias como as mulheres e populações afrodescendentes e, por último, o
problema da segurança pública e da violência, urbana ou doméstica 25.
Um dos itens que a Agenda 21 traz de mais interessante é a qualificação das
raízes históricas e dos fatores determinantes das desigualdades sociais no Brasil,
apontando que a questão social é historicamente construída e, portanto na atual
conjuntura de acirramento da problemática ambiental é prioritária a realização de
ações transformadoras por parte do Estado via políticas públicas, idéia que
compartilhamos no norteamento dessa pesquisa.
O documento adota o conceito de sustentabilidade ampliada para tratar da
complexa e desigual realidade brasileira, definido como “o instrumental apropriado
para operar, no médio prazo, a transição do estágio atual de desenvolvimento do país
para uma sociedade sustentável”. Dessa forma, a questão ambiental incorpora novos
significados, como a busca de uma sustentabilidade social, isto é, maior equidade e
justiça para os diversos segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade,
considerando que o desenvolvimento econômico equilibrado é condição necessária,
mas não suficiente, para reduzir as desigualdades sociais.
Santilli (2005) apresenta uma conotação diferenciada ao termo, entendendo
que cada local tem particularidades físicas, econômicas, políticas e culturais e por
24
Bredariol & Vieira (ibidem) apontam o Pró-Álcool brasileiro durante o governo militar como
exemplo da influência do Ecodesenvolvimentismo.
25
Agenda 21 brasileira, item Resultado da Consulta Nacional 2ª edição. Capítulo 3. Disponível:
<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=908&id
Menu=374>. Acesso em janeiro 2010.
37
isso deve ser tratado por uma perspectiva própria de desenvolvimento e de
sustentabilidades. Ela intitula de socioambientalista 26, o movimento que defende essa
concepção, nascido na segunda metade dos anos 80, a partir de articulações políticas
entre os movimentos sociais e ambientalistas nacionais e que valorizam os saberes e
culturas tradicionais e indígenas como alternativa ao modelo anterior de exploração
dos recursos naturais.
Verificamos que essas duas correntes se aproximam bastante quanto à
discussão e tratamento das questões sociais e ambientais, numa perspectiva de
unidade, ou seja, como questões socioambientais. Contudo, não fazem crítica ao atual
sistema de produção capitalista, ao contrário, buscam alternativas dentro do próprio
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
modelo econômico, o que em si está restrito a ações e propostas paliativas.
Autores como Oliveira (idem) e Veiga (2007) discorrem sobre as diferentes
correntes do movimento ambientalista que utilizam e reutilizam o conceito do
desenvolvimento sustentável.
Vemos emergir linhas de pensamento da economia ambiental, como a
economia ecológica ou ecoeficiência, assim como discussões acaloradas de correntes
da ecologia política como a ecologia dos pobres (Alier, 2007), o ecomarxismo
(Altvater) e eco-socialismo (Löwi).
Esse ecologismo dos pobres ou ecologismo popular é fundamentado na justiça
social e no desenvolvimento sustentável, sendo visto como um movimento de base,
ou seja, proveniente da luta dos trabalhadores e populações que sofrem
cotidianamente com a exploração e o esgotamento de seus meios de sobrevivência
Esse movimento composto por grupos de pescadores, mineradores, campesinos não
utilizam um discurso teórico ambientalista, embora nas décadas seguintes muitos
destes movimentos tenham se aliado a organizações e entidades filantrópicas
nacionais e internacionais.
26
“O socioambientalismo foi construído com base na idéia de que as políticas públicas ambientais
devem incluir e envolver as comunidades locais, detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo
ambiental. Mais do que isso, desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país pobre e com
tantas desigualdades sociais, um novo paradigma de desenvolvimento deve promover não só a
sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de espécies, ecossistemas e
processos ecológicos – como também a sustentabilidade social – ou seja, deve contribuir também para
a redução da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como justiça social e equidade.”
(Santilli, ibidem, p.34)
38
No caso do ecomarxismo e do eco-socialismo, ambos criticam uma
transformação ecológica dentro do sistema capitalista. Contudo, os eco-socialistas
vão além, apontam que o marxismo deve ser revisto, principalmente sobre sua
concepção tradicional de “forças produtivas” e da ideologia do progresso 27 :
Pela sua dinâmica expansionista, o capital põe em perigo ou destrói as suas próprias
condições, a começar pelo meio ambiente natural – uma possibilidade que Marx não
tinha levado suficientemente em consideração.
(Löwi, idem, p.47)
Sejam quais forem as denominações e significados dados à temática
socioambiental parece-nos que com exceção do ecomarxismo e do eco-socialismo,
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
todas as correntes levam em consideração a viabilidade de uma resolução de conflitos
ambientais e sociais dentro de uma lógica capitalista de exploração humana e
ambiental. Oliveira (ibidem) considera a possibilidade de se conciliar o
desenvolvimento sustentável com o capitalismo um mito, pois reside no próprio modo
de produção sua contradição: quanto mais avança o sistema capitalista, maiores são as
chances de se encontrar limites físicos e naturais para seu desenvolvimento e
manutenção, sendo assim maior a sua derrocada. É através da natureza via trabalho
que ele produz mercadorias e assim, a mais-valia, portanto, sua exploração
desenfreada constitui seu próprio extermínio.
A violação de sua integridade por meio da degradação ou, inclusive, da destruição
das condições naturais de produção e reprodução, portanto, não é algo externo à
economia, mas sim pertence a seu desenvolvimento contraditório. Os efeitos
negativos da contaminação do ar e da água, da violação das leis de segurança
alimentar ou do uso excessivo dos oceanos e da erosão da terra têm um efeito direto
(negativo) sobre os custos de reprodução e a capacidade produtiva da força de
trabalho e, em conseqüência, no processo de produção de mais-valia.
(Altvater, 2007, p.15)
27
“O movimento eco-socialista desenvolveu-se nos últimos trinta anos não se constituindo em uma
corrente politicamente homogênea, mas a maioria dos seus representantes partilha alguns
temas comuns: Em ruptura com a ideologia produtivista do progresso – na sua forma
capitalista e/ou burocrática – e oposta à expansão até ao infinito de um modo de produção e
de consumo destruidor da natureza, tal corrente representa uma tentativa original de articular
as idéias fundamentais do socialismo marxista com as aquisições da crítica ecológica” (Löwi,
ibidem, p.48).
39
O´Connor apud Altvater nos oferece a idéia de que os problemas ambientais
envolvem também conflitos de classe visto que a desigualdade e injustiça, inerentes
ao sistema capitalista, viabilizam ou não o acesso e uso à natureza e seus bens
produzidos dela. Ele cita um exemplo referente aos recursos não-renováveis, como o
petróleo:
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Como os recursos fósseis certamente se esgotarão em poucas décadas, as guerras
sobre a distribuição de recursos escassos já começaram. A guerra dos Estados Unidos
contra Iraque pode ser interpretada como uma ouverture 28 do advento dos conflitos
sobre o recurso do petróleo no mundo. Neste ponto do raciocínio fica claro que a
questão ecológica (...) inclui outra questão: como distribuir justamente os recursos
escassos de uma maneira pacífica e como organizar a transição a um regime
sustentável de energia. (Idem, p.27)
Gould (2004) adiciona essa concepção de classe à questão de raça,
introduzindo o conceito do racismo ambiental, descrito como a descriminação de
base racial sobre a segregação habitacional e espacial. Ou seja, a habitação distribuída
na base da riqueza, por classe social, é “resultado normal do funcionamento da
economia capitalista” (p.72), portanto para o autor “as comunidades de cor” (p.69)
são mais expostas que somente as classes pobres aos riscos ambientais.
De uma forma ou de outra, esses autores explicitam a relação existente entre a
questão da classe, e assim da questão social, na determinação e ocupação das
moradias pelas classes mais pobres, expostas à riscos ambientais, provocados por
falta de políticas públicas inclusivas.
Em breve análise dessas diversas correntes e movimentos em prol da justiça
social, democracia e proteção ambiental, como forma de proteção de nossa própria
existência, observa-se que muitas possuem lutas e ideários semelhantes, atuando ou
vendo a sua prática e efetivação de maneira diferenciada. Um exemplo disso são as
correntes marxistas que embora muitas vezes utópicas, buscando um modo de vida
alternativo, “uma civilização nova, eco-socialista, para além do reino do dinheiro
(Löwi)” levantam o debate crítico sobre o sistema de produção capitalista e sua
28
Ouverture (francês) é aqui entendido como abertura.
40
roupagem verde, mantenedora do status quo, e exigem uma leitura mais humanista da
ecologia, em oposição aos preservacionistas, da natureza intocada.
Nessa reflexão vemos uma aproximação do debate do ecologismo dos pobres
com o do socioambientalismo ao não desconsiderarem as lutas cotidianas de
movimentos sociais e ambientalistas, refutando o interesse das classes dominantes e
buscando novas práticas mais locais e de participação comum.
Gould (idem) nos oferece a idéia de que é mais que necessária e urgente uma
intervenção política na tentativa de abalar o funcionamento da economia do capital. A
melhor forma de se conseguir isso, para ele, é através da mobilização e organização
política principalmente das comunidades mais pobres e vulneráveis através de uma
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
resistência sustentada permanente e do empoderamento (empowerment) desses
grupos na tomada de conscientização ambiental e da luta de classes, denominada de
justiça ambiental. Essa concepção se alinha com as propostas de Santilli (ibidem),
mas ao contrário do socioambientalismo, amplia o enfoque na luta contra o sistema
capitalista, ao invés de se deixar determinar por ele.
Reflexos dessa discussão pluralista sobre as questões socioambientais são
percebidos no mundo todo: as ecovilas, as comunidades quilombolas e indígenas que
buscam novas formas de trabalho e educação através da valorização de suas culturas
tradicionais, as reservas extrativistas garantidas a partir da luta dos seringueiros
liderados por Chico Mendes na década de 80, entre outros.
Devemos esclarecer que nossa linha de pensamento se coaduna com a crítica
marxista, reconhecendo as várias formas de pensamento e ações que lutam contra a
ordem vigente, de práticas individualistas e de exploração, humana e dos recursos
naturais, para obtenção de lucro e mais-valia.
O desenvolvimento sustentável, só será viabilizado com a erradicação da
pobreza, arraigada às desigualdades sociais históricas, que se intensificam e se
reproduzem através do modo de produção capitalista existente, o que confirma o
pensamento dos ecomarxistas, mas não é criticado na Agenda 21 brasileira:
Por outro lado, torna-se importante promover estratégias diferenciadas para favorecer
a plena inserção da economia brasileira na nova ordem econômica global. Além de
uma série de medidas voltadas para o processo de reconversão produtiva – as quais
41
envolvem a renovação de equipamentos, o enxugamento de pessoal, o
reescalonamento da empresa, uma maior agilidade comercial, etc. –, inevitáveis,
parecem, no atual contexto da economia mundial, é necessário adotar medidas que
combinem políticas compensatórias, de curto prazo, com políticas estruturais, de
longo prazo, de forma a permitir a “travessia” do atual período de reacomodação da
economia brasileira 29.
Entendemos que socioambiental remete-nos à reflexão sobre as questões
sociais na contemporaneidade aliada aos problemas ambientais que se intensificaram
desde a Revolução Industrial e que hoje são alvo da responsabilidade da sociedade,
governo e mercado no mundo todo. Assuntos relativos ao aquecimento global,
derretimento glacial e catástrofes naturais não podem mais ser desvinculado à
pobreza, fome e outras expressões da questão social.
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
Lima & Roncaglio (2001) adotam o termo socioambiental “(...) como a
constatação de que não se pode conceber ambiente e/ou natureza isoladamente,
independente e indiferente à ação humana.” (p.55). As autoras compreendem a
questão ambiental como fruto da relação sociedade-natureza, que diz respeito não
apenas aos problemas essencialmente naturais, mas também às problemáticas
decorrentes da ação social e, indo além, que se estendem ao meio urbano.
Torna-se difícil, então, estabelecer uma definição de questões socioambientais
sob o risco de que o conceito seja utilizado de maneira despolitizada e simplista como
vem ocorrendo com o desenvolvimento sustentável, caindo na própria armadilha das
críticas apontadas pelos ecomarxistas.
Em função disso, desejamos utilizar o termo socioambiental, a partir do
entendimento de que certos aspectos da questão ambiental podem se inserir na
questão social. Pretende-se aqui conceber a questão ambiental não como algo
subjugado à social, numa perspectiva de hierarquia de importância ou prioridade, pois
ela sempre existiu (Pádua, idem). Porém é na emergência das lutas advindas da
relação capital/trabalho que a questão social se torna evidente, assim como suas
expressões e desdobramentos.
Dessa forma, nem toda questão ambiental é considerada uma questão social,
mas seu marco de lutas e mobilização por direitos e justiça no campo ambiental pode
29
AGENDA 21 brasileira, segunda edição (2004), item “Resultado da Consulta nacional”.
42
ser datado a partir do legado deixado pelas lutas trabalhistas contra a opressão e
exploração da força de trabalho. Exemplificamos essa afirmação com o caso da
população indígena e de seu habitat natural, que sempre ocupou o território nacional,
porém o tratamento dado a ela nos tempos de colonização era catequização ou morte
e os recursos naturais eram visto de forma exploratória. Com o advento da percepção
da questão social, das lutas pelos direitos humanos e por políticas e direitos
destinados a esses povos, muda-se o olhar e atendimento, inaugurando a discussão
sobre as reservas indígenas e as reservas extrativistas de uso regulado, e insere-se as
minorias e o meio ambiente no campo da cidadania.
Ou seja, por possuir diversidade de debate tanto nas ciências naturais como
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
atualmente nas ciências sociais, a questão ambiental torna-se uma expressão com
muitos significados, relacionada a diferentes correntes da ecologia (biologia, da
geografia, da engenharia ambiental, da economia política e do comportamento
humano) ou ecologias, nas palavras de Bredariol & Vieira (1998), e por isso não
possui uma linha histórica e política definida. Já em relação à questão social, ela é
datada historicamente e definida como “expressão do processo de formação e
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da
sociedade” (Iamamoto, 2001, p.77) decorrente das mudanças no modo de produzir e
de se apropriar o trabalho excedente.
Assim, justificamos o uso do termo questão socioambiental como um
conceito que incorpora a problemática ambiental como mais uma das expressões da
questão social e não como algo paralelo e extrínseco à ela. O tratamento dado à
questão socioambiental segue o viés de crítica à agenda capitalista e busca práticas
contrárias à ordem estabelecida.
Posto isso, verificamos a ampliação de projetos que se aproximam dessa idéia
e por isso, possuem uma perspectiva transformadora com ações que representam
conquistas de direitos e vitórias no campo social e ambiental, mesmo utilizando ou
não a terminologia socioambiental.
Pensando nisso, essa dissertação pesquisou práticas no campo governamental,
pois o nosso interesse é centrado nas políticas públicas, que buscassem solucionar
dilemas sociais e ambientais sob uma perspectiva integradora. Objetivamos assim
43
identificar projetos que poderão se tornar políticas garantidoras de direitos e pautadas
na democracia e na justiça ambiental, pois é na práxis que poderemos construir o
conceito de políticas socioambientais.
Para isso, realizamos um recorte investigativo-científico sobre a região
metropolitana do Rio de Janeiro, verificando indícios da questão socioambiental, em
especial da decorrente do espaço urbano, com destaque os relacionados à habitação e
aos serviços públicos, como saneamento, água e a questão do lixo.
Para análise nessa região, faz-se necessário uma introdução sobre os
problemas advindos do processo de industrialização, em especial os relacionados à
urbanização. Entendemos que relacionar a questão urbana à questão socioambiental é
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0812004/CA
um caminho mais que pertinente e que realizaremos no capítulo seguinte.