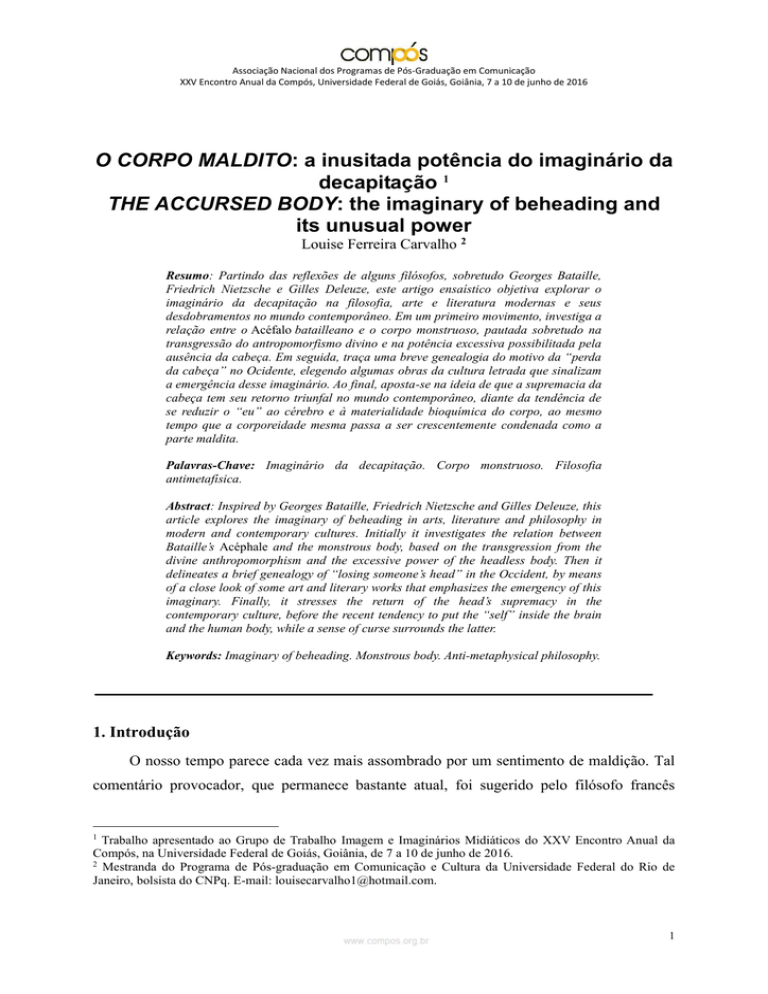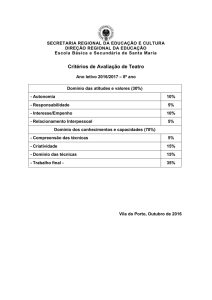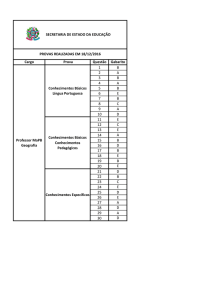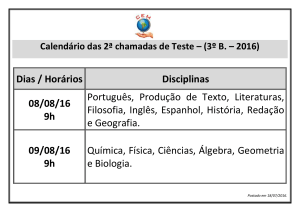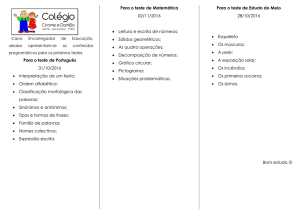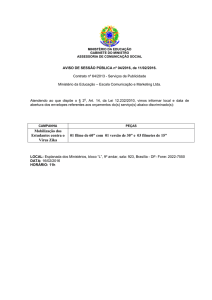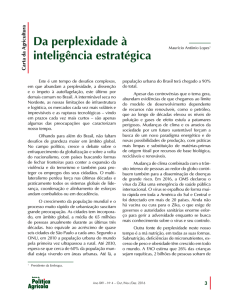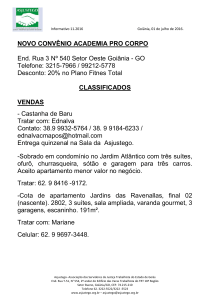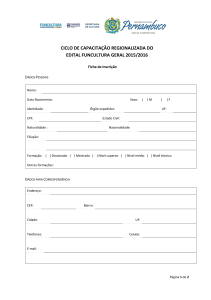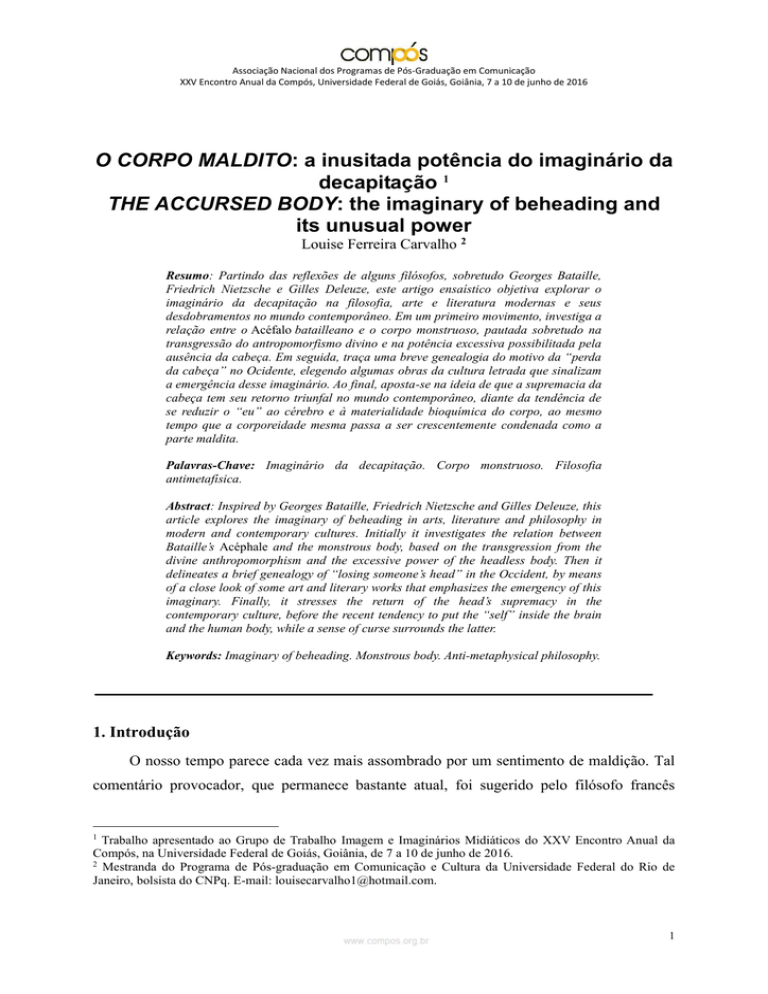
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
O CORPO MALDITO: a inusitada potência do imaginário da
decapitação 1
THE ACCURSED BODY: the imaginary of beheading and
its unusual power
Louise Ferreira Carvalho 2
Resumo: Partindo das reflexões de alguns filósofos, sobretudo Georges Bataille,
Friedrich Nietzsche e Gilles Deleuze, este artigo ensaístico objetiva explorar o
imaginário da decapitação na filosofia, arte e literatura modernas e seus
desdobramentos no mundo contemporâneo. Em um primeiro movimento, investiga a
relação entre o Acéfalo batailleano e o corpo monstruoso, pautada sobretudo na
transgressão do antropomorfismo divino e na potência excessiva possibilitada pela
ausência da cabeça. Em seguida, traça uma breve genealogia do motivo da “perda
da cabeça” no Ocidente, elegendo algumas obras da cultura letrada que sinalizam
a emergência desse imaginário. Ao final, aposta-se na ideia de que a supremacia da
cabeça tem seu retorno triunfal no mundo contemporâneo, diante da tendência de
se reduzir o “eu” ao cérebro e à materialidade bioquímica do corpo, ao mesmo
tempo que a corporeidade mesma passa a ser crescentemente condenada como a
parte maldita.
Palavras-Chave: Imaginário da decapitação. Corpo monstruoso. Filosofia
antimetafísica.
Abstract: Inspired by Georges Bataille, Friedrich Nietzsche and Gilles Deleuze, this
article explores the imaginary of beheading in arts, literature and philosophy in
modern and contemporary cultures. Initially it investigates the relation between
Bataille’s Acéphale and the monstrous body, based on the transgression from the
divine anthropomorphism and the excessive power of the headless body. Then it
delineates a brief genealogy of “losing someone’s head” in the Occident, by means
of a close look of some art and literary works that emphasizes the emergency of this
imaginary. Finally, it stresses the return of the head’s supremacy in the
contemporary culture, before the recent tendency to put the “self” inside the brain
and the human body, while a sense of curse surrounds the latter.
Keywords: Imaginary of beheading. Monstrous body. Anti-metaphysical philosophy.
1. Introdução
O nosso tempo parece cada vez mais assombrado por um sentimento de maldição. Tal
comentário provocador, que permanece bastante atual, foi sugerido pelo filósofo francês
1
Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho Imagem e Imaginários Midiáticos do XXV Encontro Anual da
Compós, na Universidade Federal de Goiás, Goiânia, de 7 a 10 de junho de 2016.
2
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, bolsista do CNPq. E-mail: [email protected].
1
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
Georges Bataille (2013, p. 57) em seu livro A parte maldita ainda em meados do século
passado, permeado por uma visão do homem e do mundo – ou melhor, do homem no mundo
– em relação aos princípios de ganho e de dispêndio. Tanto os ensaios filosóficos quanto as
obras literárias do autor abordam, de alguma maneira, as noções de excesso e de falta, que
irão se refletir, por um lado, numa “arqueologia do gozo” realizada em seus estudos sobre o
erotismo e, por outro, na perturbadora figura do Acéfalo apresentada por Bataille e André
Masson em 1936. É de inspiração batailleana, portanto, que este artigo busca investigar o
curioso repertório do corpo humano decapitado no Ocidente, através de um gesto filosófico,
ressaltando a inusitada potência excessiva da carne maldita e de suas transformações
monstruosas.
A escolha desse ato tão violento de fragmentação do corpo humano nada tem de
arbitrária. Em meio à popularidade dos vídeos de decapitações no mundo cibernético –
postados em diferentes contextos, das punições do narcotráfico mexicano à brutalidade
midiatizada do grupo terrorista Estado Islâmico –, faz-se necessário refletir sobre espessura
histórica dessa prática. Afinal, “perder a cabeça” foi um importante tema artístico e literário
na modernidade, desde os emblemáticos “retratos de guilhotinados” durante os anos do
Terror na Revolução Francesa no final do século XVIII, passando pelo nefasto pedido de
Salomé pela cabeça de João Batista no século seguinte, até a desfiguração total do corpo
acéfalo batailleano. Nesse sentido, ainda que o presente artigo esteja menos à mercê das
decapitações literais, violentas e midiatizadas, e volte-se para a discussão acerca da cabeça e
de sua separação do corpo no mundo ocidental, torna-se até mesmo urgente sinalizar os
sentidos e valores que cercaram esse imaginário em diferentes épocas.
Daí algumas questões. De que forma a decapitação marcou as imagens e vivências
corporais na modernidade e como essa retórica aparece na contemporaneidade? Em que
medida o corpo do decapitado pode ser compreendido como um corpo monstruoso? Que
sensações de maldição cercam o corpo humano e, nesse contexto, de que maneira o
imaginário da decapitação pode ser interpretado? Que provocações a expressão “perder a
cabeça” suscita e como esse tema aparece na cultura letrada e na arte pictórica? A intenção
dessa sondagem consiste em detectar certas continuidades e sublinhar algumas rupturas
envolvendo o corpo decapitado que sejam significativas para problematizar alguns
fenômenos atuais, relacionados sobretudo à ênfase contemporânea dada ao cérebro e ao
interior do corpo. Para compreender as transformações e os questionamentos em curso, o
2
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
método utilizado será o genealógico, proposto por Michel Foucault na esteira da filosofia
nietzschiana, e que já possui uma longa e rica tradição no campo acadêmico da
Comunicação.
Em uma perspectiva antimetafísica, a análise genealógica permite investigar os
sentidos, os valores e as crenças que variam em diferentes momentos históricos: embora uma
mesma prática possa se repetir e pareça persistir no tempo, seus sentidos e finalidades mudam
porque são influenciados pelos diferentes fatores que constituem cada época (socioculturais,
políticos, econômicos, morais). Por isso, essa perspectiva abre caminhos para observar linhas
de continuidade e, principalmente, para apontar significativas rupturas nas formas de ser e
estar no mundo. A intenção é, inicialmente, investigar o corpo decapitado como um corpo
monstruoso e sua relação com o sentimento de maldição que cerca a organicidade do ser
humano; em seguida, busca-se traçar uma breve genealogia da “perda da cabeça” na cultura
letrada; ao final, enriquece-se o método genealógico ao traçar algumas pistas do tema de
investigação na inflexão somática contemporânea: eis a proposta que subjaz ao movimento
deste texto.
2. Monstros e maldições
De início, cabe realizar um breve recuo histórico para melhor compreender a
importância da cabeça e o que a sua falta no monstro Acéfalo de Bataille representa. Na
tradição platônica, explicitada sobretudo no diálogo Timeu (2011) e na obra A república
(1990), a esfera é o modelo da perfeição que se manifesta em todo o universo: nos planetas,
nas estrelas (entre elas, o Sol), na natureza e também no corpo humano (cabeça e olhos).
Nessa filosofia, a cabeça é compreendida como a parte mais divina do homem justamente
pela sua forma esférica, elegida inclusive como o lugar que abrigaria a alma, e por isso
poderia bastar-se em si mesma, caso não existissem as necessidades orgânicas que a ligam ao
corpo. Em outras palavras, essa parte “superior”, ao responder a um ideal da forma, tem o seu
modelo eletivo no antropomorfismo divino, secularmente pensada no elemento mítico da
semelhança com deus. É para negar esse contorno perfeito – em sintonia com as deformações
do corpo humano realizadas pelo movimento surrealista – que Bataille, de inspiração
explicitamente nietzschiana, conclui em 1936, na revista Acéphale, que “o assassino de Deus
não pode ter cabeça” (le meurtrier de Dieu ne peut pas avoir de tête). O Acéfalo expõe uma
ambivalência simbólica: ao mesmo tempo em que representa aquilo que lhe falta, também, e
3
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
sobretudo, representa o excesso possibilitado por essa mesma ausência (MORAES, 2012, p.
186 e 209).
Não foi por acaso que Bataille resgatou um monstro arcaico acéfalo, encontrado tanto
em mitologias quanto em bestiários antigos, para apoiar suas críticas. Segundo José Gil
(2006), no ensaio Monstros, já no campo religioso da Idade Média algumas criaturas (por
exemplo, anjos e demônios) eram compreendidas como monstros na medida em que
apresentam um desvio em relação à figura humana moldada à semelhança divina. Em seu
estudo sobre a invenção do corpo, oportunamente intitulado Breve história do corpo e de seus
monstros, Ieda Tucherman (1999, p. 79) afirma que a figura da monstruosidade exerceu uma
função simbólica fundamental, pois ao perturbar os sentidos, especificamente a visão, o
monstro foi pensado como uma aberração, uma folia do corpo, introduzindo, como oposição
lógica, a crença na necessidade da existência da “normalidade” humana.
Dentro dessas perspectivas do “desvio” e da “anormalidade”, o monstro Acéfalo é
importante por sintetizar todo o processo de fragmentação social, psicológica e até mesmo
metafísica que marcaram a experiência moderna. Afinal, durante esse período vigorou uma
formação histórica conhecida como “sociedade disciplinar”, teorizada por Michel Foucault
(2009). Como assinalara o filósofo, os dispositivos de poder característicos da sociedade
moderna agiam sobre os corpos de cada indivíduo, visando a discipliná-lo e a normatizá-lo
para compor o complexo maquinário industrial por meio de suas “instituições de
confinamento”. Ao longo da modernidade, esses mecanismos de poder agiram regularmente
sobre a vida humana, moldando cada corpo individual ao mesmo tempo que o massificava
para torná-lo membro de uma determinada população nacional. Nesse sentido, para
“desumanizar” o homem da forma que os artistas modernistas vislumbraram – rompendo
com o realismo e o humanismo ao tirar o homem da cena central e universal que vinha
ocupando desde o Renascimento –, o desenvolvimento orgânico é destruído para,
eventualmente, ser reconstruído e atingir novos horizontes. E a cabeça, nesse quadro, é um
componente fundamental.
Para que a cabeça se torne apenas um dos limites orgânicos em 1936, é preciso que
antes se construa o pensamento de sua superioridade em relação ao corpo, como já vinha
sendo compreendida desde Platão. Assim, no século XVII, em um ato usualmente
considerado fundador da era moderna, René Descartes formulara o corpo como uma
máquina. No seio dessa filosofia mecanicista, a peculiar mecânica corporal humana se
4
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
diferenciaria das outras máquinas – vivas ou inertes – apenas pela singularidade de suas
engrenagens. Em suma, desse momento em diante o ser humano passa a ser a combinação
entre elementos materiais e imateriais: o sujeito pensante, res cogitans, e o corpo, res
extensa. Para Descartes, a essência do homem se encontrava no cogito (mente, razão, alma,
localizado em uma “glândula” na cabeça), desligando a inteligência da carne, sob o modo de
dois tipos de “substâncias” distintas e mutuamente excludentes. No entanto, há uma
hierarquia entre essas substâncias: a alma é superior ao corpo – a parte renegada, até mesmo
maldita, dessa combinação.
Diante desse corpo definido como uma máquina magistral, que suscitava a admiração
da ciência frente a um organismo perfeitamente acoplado a suas diversas partes e ao mundo,
o antropólogo francês David Le Breton (2013, p. 19) afirma que “o mecanicismo dá
paradoxalmente ao corpo seus duvidosos títulos de nobreza, sinal incontestável da
proveniência dos valores para a modernidade”. Em meio a essa ode moderna ao corpo
humano, surge igualmente certo ódio inédito com relação a esse mesmo corpo: a carne
envelhece, sofre, adoece e morre. O corpo, associado à máquina, revela fatalmente sua
origem não técnica. Já em meados do século XIX, as engrenagens orgânicas serão
violentamente fragmentadas, desfiguradas, desmontadas e desarticuladas, tanto de maneira
literal quanto alegórica. Uma grande variedade dessas figuras se sucedeu até que, em 1936,
Bataille e Masson recolocaram no palco a imagem do homem decapitado.
De fato, o Acéfalo não foi a única monstruosidade que surgiu nessa conturbada época,
mas ele chama atenção precisamente pelo que lhe falta. Símbolo da razão, da lógica e do
intelecto, a cabeça não se encontra nem mesmo próxima ao corpo desse monstro: ela é
abandonada por completo; o corpo se livra dela. Contudo, nesse retorno à ambivalência
simbólica das imagens mitológicas originais (como os monstros teratológicos), o acéfalo
moderno parece representar não só aquilo que lhe falta, mas também, e sobretudo, a potência
excessiva possibilitada por essa mesma ausência. Afinal, para José Gil (2006, p. 75), um
monstro é sempre um excesso de presença: “que a anomalia seja um corpo redundante ou a
que faltem órgãos é necessariamente marcado por um excesso”. Segundo o autor, o fascínio
ante a visão que um monstro atrai para si acontece pela superabundância de elementos, porém
sem desempenhar um critério negativo: seja pela falta ou pela fartura de um membro ou
órgão, a anomalia se transforma necessariamente em um traço presente.
5
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
Ainda nesse breve ensaio chamado Monstros, o filósofo português explica que a
imagem do corpo monstruoso opera um paradoxo de “revelação-ocultação”, pois ao mesmo
tempo em que o monstro revela o oculto, ou seja, algo de disforme, o olhar do observador
nada vê e permanece suspenso. Cabe referir na íntegra as belas palavras do autor:
O monstro mostra o interior do corpo ou, antes, é o resultado do revirar da pele do
corpo normal, da transformação deste em corpo de órgãos aparentes que proliferam
desordenadamente. Corpo decomposto em órgãos e órgãos à flor do olhar – o horror
que tal espetáculo provoca prova que os órgãos não são para ser vistos, mas apenas
pensados. A transparência do corpo do monstro é isso: o interior visceral à flor da
pele (GIL, 2006, p. 79).
Fluidos, vísceras, órgãos: o monstro revela o interior desordenado do ser humano.
Contudo, ao aflorar o que deve permanecer oculto, ele subverte a combinação sagrada entre
os elementos materiais e imateriais teorizados pelo dualismo cartesiano que ainda marca, de
certa forma, o pensamento ocidental sobre o homem. A alma é descoberta, tornando-se um
reverso do corpo, um outro corpo. Em suma, a alma torna-se uma entidade corporal (GIL,
2006, p. 79).
Nesse horizonte teórico aqui delineado, o corpo decapitado é compreendido como
monstruoso na medida em que atrai o olhar dos espectadores por mostrar seu avesso, por
ressaltar um desvio em relação ao antropomorfismo divino, pelo seu excesso de presença e
por “revelar-ocultar” os limites do homem. Trata-se de uma “obscenidade orgânica”: um
corpo anormal, que deveria ficar “fora da cena”, mas que possui uma relação íntima com a
visibilidade. Nesse sentido, a ausência da cabeça no Acéfalo não significa a ausência de vida;
pelo contrário, abrem-se novas possibilidades de sentido para a existência humana. Por tudo
isso, o decapitado/monstruoso coloca em evidência, subverte e escandaliza os problemas e
enigmas do corpo humano que atravessam diversos campos do saber em diferentes épocas
históricas.
Nesse cenário, monstros e maldições se misturam e se transformam em meio às
reinvenções do corpo. Aqui, aposta-se na ideia de que as mutações envolvendo a decapitação
pode fornecer valiosas pistas acerca do deslocamento do olhar sobre os nossos próprios
corpos e corpos alheios. A próxima parte deste artigo busca, portanto, explorar as potências
filosóficas da decapitação atentando para os diferentes sentidos evocados pela cabeça sem
corpo e pelo corpo sem cabeça, sublinhando o contexto em que cada um desses imaginários
6
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
emergiu e sinalizando algumas de suas aparições na filosofia, na arte e na literatura. Afinal,
embora a decapitação implique uma separação entre corpo e a cabeça, o sentido da imagem
será diferente dependendo da parte que desaparece e da que permanece. Busca-se então
ruminar sobre os sentidos metafóricos e filosóficos de “perder a cabeça”, seja através da sua
permanência ou da sua ausência total em relação ao corpo.
3. Da cabeça sem corpo ao corpo sem cabeça
Em um delicioso trecho do clássico livro As aventuras de Alice no país das
maravilhas, Alice é convocada a resolver uma difícil questão envolvendo a decapitação do
Gato de Cheshire. O conflito gira em torno da cabeça flutuante do Gato, pois a ordem
“cortem-lhe a cabeça!”, proferida pela Rainha de Copas, não parece fazer sentido em uma
cabeça sem corpo. Alice aproxima-se da multidão agrupada em torno da cabeça do Gato e
observa a discussão entre o Rei, a Rainha e o carrasco, que repetiam, cada um, sua
perspectiva acerca do problema:
O ponto de vista do carrasco era que não se podia cortar uma cabeça fora ao menos
que houvesse um corpo do qual cortá-la; que nunca tinha feito coisa parecida antes
e não ia começar naquela altura da sua vida.
O ponto de vista do Rei era que tudo que tinha cabeça podia ser decapitado, e que o
resto era despautério.
O ponto de vista da Rainha era que, se não se tomasse uma medida a respeito
imediatamente, mandaria executar todo mundo, sem exceção. (...)
A cabeça do gato começou a sumir assim que o carrasco se foi e, quando ele chegou
de volta com a duquesa, já sumira por completo; diante disso, o rei e o carrasco
puseram-se a correr freneticamente para cima e para baixo à procura dela, enquanto
o resto do grupo voltava ao jogo (CARROLL, 2015, p. 98 e 100).
Sorriso sem gato, chama sem vela, cabeça sem corpo. De acordo com Gilles Deleuze
(2011, p. 81), os paradoxos de Lewis Carroll escapam aos dois aspectos da doxa, o bom
senso e o senso comum, pois Alice é aquela que vai sempre nos dois sentidos ao mesmo
tempo – o país das maravilhas tem uma dupla direção sempre subdividida – e que foge à
unidade única do “eu”, ou seja, a uma identidade fixa e inabalável. Para o filósofo, o sentido
não é jamais um dos dois termos de uma dualidade (por exemplo, oposição entre as coisas e
as proposições, os substantivos e os verbos, as designações e as expressões), pois ele se
desenvolve numa série de paradoxos interiores (DELEUZE, 2011, p. 32). O sentido é,
portanto, independente da proposição que designa um estado de coisas, operando a suspensão
7
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
da afirmação e da negação, como pode ser observado nos exemplos expostos acima; “sorriso
sem gato”, “chama sem vela” e até mesmo “cabeça sem corpo”. Assim como o
desaparecimento gradual do Gato de Cheshire (começando pela ponta da cauda e terminando
com o sorriso), o sentido propõe uma dupla dissipação, da afirmação e da negação, deixando
todos abismados, a correr freneticamente para cima e para baixo à sua procura.
Não é de se estranhar que o paradoxo da cabeça sem corpo e a correlata suspensão da
afirmação e da negação invoquem uma série de problemas. Em Alice, o carrasco chama
atenção para o corpo: sem que ele segure a cabeça, não há decapitação. O Rei, contudo,
chama atenção para a cabeça: basta sua existência para que ela seja cortada, pois o corpo – “o
resto” – é despautério. Afinal, a cabeça possui uma longa tradição que a liga ao pensamento,
à razão, à lógica, ao intelecto e à soberania. O corpo, por sua vez, é vinculado historicamente
à noção moderna de que o corpo individual deveria obedecer às normas do “corpo social”,
que se alastra pelos membros de uma sociedade. Nesse contexto, compreende-se porque o
carrasco (trabalhador) tenha defendido o corpo, enquanto o Rei (soberano), tenha-se voltado
para a cabeça. O impasse termina, então, com o esvanecimento total do Gato; afinal, uma
decapitação sem ambas as partes desafiaria toda a lógica do sentido.
A relação entre o corpo social, o corpo político e o corpo humano, citada acima,
possui uma tradição antiga. Segundo Antonio Negri e Michael Hardt (2005, p. 209), a
organização do corpo político nos moldes da anatomia do homem busca reforçar a
naturalidade de uma ordem social regulada. Nesse modelo, a cabeça serve, por exemplo, para
tomar as decisões e os braços para travar as batalhas. Aprofundando ainda mais o tema,
Richard Sennett (2003, p. 22), em Carne e pedra, cita o filósofo João de Salisbury, que
declarou em 1159 que o estado, a res publica, é um corpo. Nessa analogia, o governante
funciona como o cérebro; seus conselheiros, como o coração; os comerciantes, como o
estômago; os soldados, como as mãos; os camponeses e trabalhadores manuais, como os pés.
Hierarquicamente, a ordem social parte da cabeça, mais precisamente do cérebro, o órgão do
governante. Ao vincular a forma do corpo humano à forma da cidade, João de Salisbury situa
a cabeça no palácio ou na catedral; o estômago, no mercado central; os pés e mãos, nas casas.
Com efeito, “as pessoas deveriam mover-se vagarosamente na catedral, posto que o cérebro é
um órgão reflexivo, e mais depressa no mercado, já que a digestão se processa como uma
fagulha no estômago” (SENNETT, 2003, p. 22). Em suma, cada órgão social respondia à
função ordenadora da cabeça.
8
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
No século XVII, a medicina e os novos conhecimentos sobre a circulação do sangue
modificarão a compreensão do corpo – sua estrutura, seu estado de saúde e sua relação com a
alma. O trabalho de William Harvey, De Motu Cordis, publicado em 1628, contribuiu para
diversas transformações sociais, dentre elas a experiência de livre circulação na cidade. De
acordo com Sennett (2003, p. 21), o fluxo sanguíneo e a circulação de oxigênio, atrelados ao
capitalismo moderno, contribuiu para o triunfo da liberdade individual de movimento,
levando a um dilema específico e que ainda persiste: “cada corpo move-se à vontade, sem
perceber a presença dos demais”, abordado tanto por novelistas quanto por filósofos da
época. No Iluminismo do século XVIII, as novas ideias a respeito da saúde pública
começaram a ser aplicadas aos centros urbanos, quando os construtores e os reformadores
imaginaram uma cidade de artérias e veias contínuas, através das quais os cidadãos pudessem
se transportar como as hemácias e os leucócitos no plasma saudável (SENNETT, 2003, p.
214).
Contudo, o retorno aos primórdios da era moderna revela que a analogia do corpo
político com o corpo orgânico já atravessava o pensamento europeu em fabulações
monstruosas, sobretudo quando Thomas Hobbes delineava seu Leviatã, em 1651. Segundo o
desenho original de Hobbes (2012), esse monstro representa um soberano cujo torso é
constituído por uma infinidade de minúsculos corpos. A transcendência da soberania como
ordem natural e divina é compreendida a partir da verticalidade do corpo, organizado a partir
do centro único e estável da cabeça do soberano. Extremo oposto do Leviatã, a Hidra possui
muitas cabeças para um só corpo. Ambos os monstros são imagens de concepções sociais e
políticas, como também seria o Acéfalo teorizado por Bataille séculos mais tarde. Dentre as
muitas diferenças que separam esses monstros abordados em diferentes épocas, cabe destacar
uma fundamental: enquanto o Leviatã e a Hidra enfatizam o poder da razão e do soberano na
cabeça, o Acéfalo dele se livra. “A vida humana está exausta de servir de cabeça e de razão
ao universo” (La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l’univers), alerta
Bataille, completando com a famosa frase: “o homem escapou da sua cabeça como o
condenado da prisão” (l'homme a échappé à sa tête comme le condamné à la prison)
(BATAILLE et al., 2013, p. 3). Há uma transição, nesse sentido, da ênfase na cabeça que
comanda o corpo para uma aposta no corpo sem as ordens da cabeça.
Algumas teses de Nietzsche e sua singular concepção sobre o corpo podem dialogar
com as discussões acima. Para o filósofo, o processo de digestão e de ruminação é estendido
9
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
para o campo da alma. Consequentemente, a própria alma, normalmente tomada como
diversa do corpo, é inserida pelo que se associava apenas a uma função física (digestão),
distinta da atividade do espírito. “O espírito é um estômago”, afirma o filósofo no parágrafo
16 do capítulo “Das antigas e das novas tábuas”, de Assim falava Zaratustra III. Não se trata
de uma simples comparação, ou seja, o espírito não é semelhante a um estômago: há uma
fusão entre eles. Colocando em xeque a velha separação dualística corpo/alma, oriunda de
uma herança metafísica, o próprio pensar diz respeito ao corpo em sua função mais espiritual.
Nessa filosofia, o pensamento não está ligado à racionalidade ou à cerebralidade. A cabeça
perde sua supremacia em favor do corpo.
Pensar sem cabeça? Para nosso filósofo, sim.
Distanciando-se radicalmente da noção de uma alma única e transcendente, no
parágrafo 19 de Além do bem e do mal, Nietzsche afirma que o corpo não é mais que um
edifício social de muitas “almas”, cujo bom funcionamento depende do domínio de algumas
forças sobre as demais, que eventualmente serão subvertidas e emergirão no lugar das
primeiras. Por isso, o “eu” é sempre um efeito passageiro do submundo de forças múltiplas
que se guerreiam e estabelecem hierarquias temporárias sobre as demais. Contudo, essa
conquista é passageira, pois algum eu soterrado por outras vozes pode emergir a qualquer
momento, emudecendo assim outros eus nessa organização hierárquica de muitas almas. Esse
jogo hierárquico de pulsões implica tempo e movimento, e não imobilismo e paralisia de
poderes inabaláveis, e rechaça a existência de um eu único fixado como senhor e monarca
absoluto.
Nesse sentido, Nietzsche abre o último parágrafo do trecho acima citado parodiando a
celebre afirmação L’État c’est moi (o Estado sou eu), enunciada por Luís XVI no auge do
absolutismo francês. L’effect c’est moi (o efeito sou eu): com ironia, o vocabulário político e
aristocrático é acionado para ressaltar que o Estado e o eu nada mais são do que efeitos
provisórios de lutas de forças. Não à toa que a imagem do rei decapitado atravessa o
argumento do filósofo. Afinal, caso novas hierarquias ganhem força, cabeças pomposas
rolarão: tanto dos reis quanto dos múltiplos eus (FERRAZ, 2010, p. 115). A perda da cabeça,
no contexto nietzschiano, pode ser associada à crise da coesão do eu, à aposta na
multiplicidade de forças e à quebra de um modelo de identidade fixo e estável.
Não é de se estranhar que, na literatura do período moderno, tantos personagens
tenham “perdido a cabeça” através do amor, da loucura e da morte, por exemplo, diretamente
10
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
relacionado à perda da razão, da lógica e do sentido. Essa perda possui uma história que
convém ser ressaltada. De volta à filosofia platônica, pode-se observar que, na Grécia
clássica, os poetas foram condenados por serem desprovidos daquilo que, para Platão,
corresponderia hierarquicamente ao elemento superior da alma humana: a razão. A
desqualificação da poesia realizada em A república e em Íon é feita, em parte, pelo fato de o
poeta só conseguir compor quando perde o uso de sua razão, esvaziando-se do elemento que
fundamenta e garante sua identidade para passar a ser ocupado por um deus. O modelo de
identidade é, pois, uma das bases da filosofia platônica, pautada na lógica da semelhança e na
subordinação da diferença. O poeta, colocado fora de si e despossuído de sua razão, é
excluído de um mundo laicizado, centrado na racionalidade humana.
Na tragédia grega de Sófocles, Oidipous Tyrannos (Édipo, o Tirano), quando Édipo
percebe que matou seu verdadeiro pai, Laio, e desposou a própria mãe, Jocasta, o
protagonista fica fora de si e fura os próprios olhos em um ato de autocastigo. Como foi
observado, no corpo político da cidade grega o governante funciona como o cérebro, órgão
localizado na cabeça, que, por sua vez, é compreendida como o lugar da razão. Assim,
quando Édipo, o Rei, fica fora de si, atinge as pequenas formas esféricas (olhos) dentro da
esfera superior do corpo humano (cabeça), ambas altamente valorizadas pelo platonismo.
Dessa forma, em um único ato de violência, Édipo consegue desfigurar o formato ideal da
perfeição e da ordem garantida pela imagem do soberano. Enquanto em Platão os poetas
“perdem a cabeça” no sentido de deixarem de se sujeitar ao regime da racionalidade para
poder criar seus versos, na tragédia de Sófocles a “perda da cabeça” indica a fragilidade ou os
perigos desse mesmo regime da razão.
A expressão também aparece ligada aos delírios amorosos. Apoiada nas teorias de
George Duby, Tucherman afirma que há uma relação imediata entre a medicina medieval e as
teorias do amor cortês, que têm uma premissa em comum: o amor é uma afecção violenta que
precisa de um vigoroso tratamento. Nas palavras da autora: “Ele penetra o amante pelos olhos
e vai se alojar no seu coração, de onde ganha o cérebro e os testículos, que formam com o
coração os três pontos locais de amor no homem” (TUCHERMAN, 1999, p. 49). Para os
médicos, é preciso evacuar a afecção, pois ela é prejudicial à saúde e pode ser até mesmo
mortal. Esse apaziguamento é proposto por duas vias: pela razão, quando o amor sobe para o
cérebro, e pelo coito, quando o amor se aloja no sexo. Para os trovadores, este amor desse ser
11
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
cultivado de corpo e alma, desembocando numa atitude submissa em relação à dama
(TUCHERMAN, 1999, p. 50).
Nesse sentido, o ato de perder a cabeça através do amor está relacionado à entrega a
essa perigosa afecção. Ao longo do século XVIII, o movimento artístico-filosófico conhecido
como romantismo levou tal noção às suas últimas consequências. Basta lembrar do contágio
do suicídio provocado pelo romance Os sofrimentos do jovem Werther, de Johann Wolfgang
von Goethe (1994), publicado em 1774. O livro conta a história de Werther e de seu amor
não correspondido pela jovem Charlotte, que o leva a dar cabo à própria vida. Esse
acontecimento literário fez com que uma geração de jovens adultos franceses, alemães e
ingleses vivesse uma verdadeira “febre de Werther”. O livro tornou-se um fenômeno nunca
antes vivenciado e, de fato, inspirou vários comportamentos no campo das emoções. Os
próprios leitores, nesse caso, teriam seguido a “perda da cabeça” do personagem e sido
levados ao final trágico do suicídio.
Logo, os vestígios da decapitação do homem moderno já vinham sendo anunciados
bem antes da desfiguração do corpo acéfalo. Um marco ocorreu no final do século XIX,
quando um tema bíblico se tornou exaustivamente reproduzido na arte europeia: Salomé e a
cabeça de João Batista. O ponto de partida foi a obra do pintor francês Henri Regnault e não
tardou a contagiar diversos outros artistas, dentre eles Gustave Moreau (que dedicou mais de
setenta quadros e desenhos ao tema), Pierre Puvis de Chavannes, Aubrey Beardsley, Gustav
Klimt e Salvador Dali. Na literatura, o mito inspirou Stéphane Mallarmé no poema
Hérodiade (1864-67), foi fonte de Gustave Flaubert no conto Hérodias (1877), mais tarde
transformou-se no romance À Rebours (1884) por Joris-Karl Huysmans, e também
influenciou Oscar Wilde na peça Salomé (1893). De forma quase obsessiva, as inúmeras
recriações desse episódio no final do século XIX é apenas um dos indícios da insistência de
uma época em explorar a sexualidade e a agonia humana. Deslizando sobre a superfície plana
de um prato, a cabeça decapitada revela ao homem moderno as evidências de sua finitude,
que desembocará no tema artístico modernista da perda da unidade do corpo (MORAES,
2012, p. 27 e 28).
Embora o tema retrate uma decapitação de forma literal, o imaginário de “perder a
cabeça” e seus significados metafóricos contagiaram muitas dessas obras. A volta bemsucedida desse tema bíblico no mundo laicizado deu um espaço especial a Salomé, a figura
da mulher fatal. De acordo com Eliane Robert Moraes (2012, p. 30), até a primeira metade do
12
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
século XIX, no período inicial do romantismo, era na figura masculina que se evidenciavam
as marcas da desordem moral e do excesso licencioso, isto é, eram os homens a encarnar o
tipo perigoso. Porém, a outra metade do século colocou em cena o imaginário da femme
fatale, popularizando-se histórias das grandes cortesãs, das rainhas cruéis e das pecadoras
famosas, dentre elas Dalila, Cleópatra, Eva, Elena e a sedutora Salomé.
A peça Salomé, de Oscar Wilde (2014), por exemplo, foi um estrondoso sucesso nos
primeiros anos do século XX, sobretudo quando foi adaptado para a ópera por Richard
Strauss em 1905. Na trama, a lasciva princesa é uma virgem apaixonada por Iokanaan, nome
pagão de João Batista, mas seu amor não é correspondido. À diferença da narrativa bíblica,
não é a mãe de Salomé que ordena a decapitação de Batista – quando este desperta o ódio de
Heródias ao denunciar seu casamento criminoso com Herodes –, mas a própria princesa, em
decorrência de sua paixão pelo profeta. O personagem Herodes também é movido pelo desejo
e pela paixão, pois condena a sedutora dançarina à morte ao se enfurecer pelo seu beijo na
cabeça degolada do santo, “transformando-a em vítima de seu próprio excesso”, conforme a
interpretação de Moraes (2012, p. 33). Trata-se da perigosa aproximação entre o amor e a
morte que cativou o espírito da época. Nesse sentido, a obra de Wilde é um verdadeiro
dispositivo de produção de decapitações: há a “perda de si” dos personagens principais
(Salomé, Herodes e Heródias), porém, paradoxalmente, é a figura mais “dentro de si”
(Iokanaan) que de fato é decapitado.
Em Hérodias, por sua vez, o papel da princesa ganha um caráter secundário, dando-se
mais ênfase ao tema da degolação. Numa narrativa mais fiel ao episódio bíblico, Flaubert não
tematiza a mulher fatal, mas a exigência materna da rainha e sua sede por vingança.
Lembremos do final do conto. Após o pedido funesto da princesa, alguns momentos de
tensão invadem o salão do festim, à espera do presente-troféu. A cabeça decepada do profeta
percorre então a tribuna do Tetrarca, a mesa dos sacerdotes e as mãos de outros convidados
do banquete, permanecendo ainda sobre a mesa mesmo depois da saída de todos, como restos
de alimentos em uma bandeja. Porém, quando os três mensageiros aparecem para levar o que
sobrou do profeta, algo curioso acontece: “Como era muito pesada, carregavam-na
alternadamente” (FLAUBERT, 2004, p. 126). Esse final desconcertante do “peso da cabeça”
conduz preciosas pistas para esta análise. Afinal, diante de toda a importância atribuída à
cabeça em relação ao corpo na filosofia e na cultura ocidentais, no final do século XIX essa
supremacia racional, lógica e intelectual se torna um verdadeiro “peso”. Esboça também a
13
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
fragmentação da anatomia humana – a começar pela cabeça –, que ganhará maior evidência
com os surrealistas no século seguinte. Todo esse questionamento irá culminar no Acéfalo,
no limiar da Segunda Grande Guerra, apostando na potência do corpo decapitado e vivo.
Por fim, cabe dedicar algumas reflexões sobre o famoso mote repetido pela Rainha de
Copas em Alice, já citado neste trabalho: “cortem-lhe a cabeça!”. Nas pegadas de Deleuze em
Lógica do sentido, estaria a perda da cabeça no livro de Carroll relacionada à perda do
sentido? Inspirado pelos Estoicos, o filósofo destaca que toda a lógica do sentido opera na
superfície, e não na profundidade do oceano, onde Platão recalcou os simulacros. O paradoxo
aparece, em suma, como destituição da profundidade e exibição dos acontecimentos na
superfície. Nessa interpretação deleuzeana, os princípios da esquizofrenia implicam a
falência dessa superfície e, consequentemente, a perda do sentido. Para compreender como
isso ocorre, intervenhamos com uma breve explicação.
Conforme a explicação de Emile Bréhier (2012) reiterada por Deleuze (2011, p. 5), o
estoicismo antigo distingue duas espécies de coisas: os corpos, com suas tensões, suas
qualidades físicas, suas relações, suas ações e paixões; os “estados de coisas”
correspondentes, ações e paixões, determinados pelas misturas dos corpos. Contudo, não há
causas nem efeitos entre os corpos: todos os corpos são causas, causas uns com relação aos
outros, uns para os outros. Os efeitos não são corpos, mas incorporais, acontecimentos de
superfície. Porém, quando a superfície se arrebenta, a palavra perde seu sentido, ou seja,
perde a sua capacidade de recolher ou de exprimir um efeito incorporal distinto das ações e
das paixões do corpo (DELEUZE, 2011, p. 90). Tais são os sintomas do esquizofrênico.
O poeta e o louco: duas almas errantes. Dessa forma, o “estar fora de si” e
despossuído de sua razão do poeta também pode ser atribuído à loucura. “Cortem-lhe a
cabeça!”, diz a Rainha de Copas, cortem-lhe o sentido, arrebentem a superfície e adentrem no
reino da esquizofrenia. O país das maravilhas, como já foi observado, tem uma dupla direção
sempre subdividida; as parelhas de Carroll representam os dois sentidos, ao mesmo tempo, do
devir-louco. Em Alice, por exemplo, o chapeleiro e a lebre de março habitam cada um em
uma direção, mas as duas direções são inseparáveis, cada uma se subdivide na outra, tanto
que ambas são encontradas em cada uma delas (DELEUZE, 2011, p. 81 e 82). É preciso ser
dois para ser louco, para fugir do bom senso e do senso comum, para escapar do modelo Uno
de identidade; em suma, para perder a cabeça, livrar-se dela. Livrar-se, por fim, das rígidas
malhas da razão, da lógica, do intelecto e dos dualismos metafísicos para sucumbir à poesia,
14
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
ao amor e à loucura. Resta apenas a potência de todo o resto orgânico – do corpo decapitado,
sem cabeça –, monstruoso e com sua alma não-metafísica, visivelmente carnal.
4. Corpos (im)possíveis: Tendências contemporâneas e notas finais
A decapitação e sua rica história podem ser compreendidas através de diferentes
gestos, tais como o filosófico, o estético, o cultural e o obsceno. Embora o imaginário da
decapitação usualmente exale o inequívoco odor de uma morte violenta, este artigo buscou
apresentar uma leitura do tema que exceda o terror do sangue, dos ossos e dos fluidos
orgânicos. A ênfase na cabeça separada do corpo, dando privilégio a esta parte “superior” na
qual se localizariam os atributos racionais, intelectuais e lógicos do ser humano, foi o
imaginário sustentado durante séculos na sociedade ocidental. Porém, algumas pistas da
decapitação do homem moderno e do declínio da supremacia da cabeça já vinham sendo
anunciadas, ainda que timidamente, através da obsessão do tema literário e artístico da cabeça
de João Batista no final do século XIX. Em 1936, Bataille oficializa essa suspeita, ao
comparar a cabeça com a prisão: essa associação nada possui de inocente, pois lembremos
que tal instituição serviu de modelo de confinamento que visava a disciplinar e a normatizar
os corpos no complexo maquinário industrial da sociedade moderna. Assim, na iminência de
uma Segunda Grande Guerra, o imaginário da decapitação deslocou sua ênfase da cabeça
(sem corpo) para o corpo (sem cabeça).
As inclinações contemporâneas, por sua vez, trazem novos sentidos e valores para
esse motivo. Embora Bataille tenha retirado da cena o peso da cabeça, sinalizando a potência
do resto do homem, hoje parece haver um movimento complexo e inédito que indica a
“volta” triunfal dessa esfera corporal. Na parte final deste artigo, vale a pena dedicar a
algumas últimas ruminações, ainda que de modo sintético, acerca de uma tendência que reduz
tudo o que somos ao cérebro. Em suma, há uma forte vertente na sociedade contemporânea,
conhecida como “cultura somática”, que remete toda experiência humana à materialidade de
um corpo cientificamente objetivado, sobretudo ao cérebro, mas também aos hormônios e aos
genes. Para que essa nova noção do corpo tenha entrado em vigor, foi necessário o declínio
do modo de subjetivação moderno, ancorado no campo da psicanálise, que persistiu até
meados do século XX, pautado por uma profunda interioridade psicológica e balizado pelo
desejo e por pulsões em conflito com as coerções sociais (Cf. BEZERRA JR., 2002;
FERRAZ, 2010; ROSE, 2007).
15
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
Na cultura atual, o espaço da cabeça e do cérebro se confundem. A partir do momento
em que todos os fenômenos antes associados à vida espiritual, interior, psicológica ou
psíquica, inclusive a memória, são remetidos à materialidade do cérebro, e seu
funcionamento equiparado ao dos computadores, a cabeça se torna o espaço de
armazenamento do “eu”. Até mesmo as referências midiáticas aos resquícios de uma
interioridade, relacionadas às crenças no campo psi, são associadas, se não ao cérebro, à
própria cabeça (FERRAZ, 2010, p. 142). No fluxo dessa tendência somática, esvazia-se
também o papel do rosto como sede identitária, tão cara à modernidade. Outrora reconhecida
pela face, a identidade migra da superfície da pele para a interioridade do corpo: trata-se,
contudo, de um outro interior, das partes de dentro do corpo privilegiadas pela cultura
somática (órgãos, fluidos corporais, sinapses nervosas), e portanto muito diferente da robusta
interioridade moderna. Assinala-se uma mudança do plano antropométrico para o genético,
ou seja, do material expressivo, pessoal, para o registro da pura informação. A volta da
cabeça consolida-se então no modelo cerebral do “eu”.
Perder a cabeça, nos dias de hoje, ganha novas conotações: longe do corpo, nos
projetos de inteligência artificial, o cérebro humano pode ser transferido para uma máquina e
até mesmo alcançar a imortalidade. Alguns dos atuais pensadores das áreas de cognição,
inteligência artificial e biociências anunciam inclusive a obsolescência do corpo. Seja nas
experiências de Sterlac ou nos textos de Freeman Tyson, o corpo é um limite que precisa ser
ultrapassado para dar lugar ao pós-biológico. Com efeito, perde-se o corpo e, eventualmente,
o cérebro e a cabeça, pois os impulsos tecnocientíficos prometem transcender a humanidade,
superando os limites espaciais e temporais ligados à materialidade do orgânico (SIBILIA,
2015). Os atributos intelectuais, lógicos e racionais do homem, agora compreendidos como
hormônios, redes neuronais e neurotransmissores, apoiam-se na credibilidade das imagens
digitalizadas do cérebro que, por sua vez, pautam o novo modelo de compreensão de si
mesmo e dos outros. Por isso, perder a cabeça também pode ser anexada às novas categorias
diagnósticas, quando o amor e a loucura passam a ser componentes bioquímicos do corpo.
Por tudo isso, na contemporaneidade o corpo humano provoca novas sensações de
maldição. Numa sociedade em que a proliferação imagética, nos diversos meios de
comunicação, estimula a produção de corpos e subjetividades voltados à espetacularização e
à performance na esfera do visível, duas vertentes específicas acerca das moralizações
referidas às silhuetas humanas são particularmente interessantes. Por um lado, o corpo é
16
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
enaltecido e cultuado em sua “boa forma”, dando lugar ao complexo fenômeno conhecido
como “culto ao corpo”, ou seja, um culto à matéria orgânica semelhante às imagens limpas,
lisas e polidas. Por outro, o corpo é rejeitado em sua materialidade explícita e perecível,
sendo acusado de encarnar novas formas de obscenidade.
Diante dessas novidades, cabe inferir que as transformações do corpo humano estão
longe de serem a-históricas e finitas. Exprimem, antes, uma multiplicidade de possibilidades
e potências. Nesse sentido, o imaginário da decapitação e seus desdobramentos – cabeça sem
corpo e corpo sem cabeça – apontam para a possibilidade de um corpo impossível. Essa
aposta, defendida nas páginas precedentes, está em sintonia com o projeto batailleano: negar
o possível para imaginar o impossível. Nessa aposta, o filósofo resgata o monstro Acéfalo
para confirmar a “possibilidade eterna e indefinida” da coisa humana, nas palavras de Moraes
(2012, p. 227). Ao longo do período moderno, a cabeça morta e exposta numa superfície fria
foi substituída por um corpo vivo e potente. O projeto contemporâneo não é menos ambicioso
e contraditório, pois, embora atualmente sejam alvo de cobiça as silhuetas cuidadosamente
delineadas nos moldes do fitness e da “boa forma”, o corpo orgânico é rejeitado em favor da
superioridade do cérebro e de seu notório invólucro: a cabeça. Nesse quadro, o corpo encara
novos sentimentos de maldição, apontando para outras voltas no parafuso relacionadas à
inusitada potência do imaginário da decapitação e às monstruosidades do homem.
Referências
BATAILLE, Georges. A parte maldita. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
BATAILLE, Georges; KLOSSOWSKI, Pierre; MASSON, André. Acéphale n. 1. Florianópolis: Editora Cultura
e Barbárie, 2013.
BEZERRA JR., Benilton. “O ocaso da interioridade e suas repercussões sobre a clínica”. In.: PLASTINO (org.).
Transgressões. Rio de Janeiro: Contra Capa/Rios Ambiciosos, 2002.
CARROLL, Lewis. As aventuras de Alice no país das maravilhas. Rio de Janeiro: Zahar, 2015.
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2011.
DESCARTES, Réne. O discurso do método. São Paulo: Editora Escala, 2006.
FERRAZ, Maria Cristina Franco. Homo deletabilis. Rio de Janeiro: Garamond/FAPERJ, 2010.
FLAUBERT, Gustave. Herodíade. In: Três contos. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
GIL, José. Monstros. Lisboa: Relógio D’Água Editores, 2006.
GOETHE, Johann W. Os sofrimentos do jovem Werther. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão. Rio de Janeiro: Editora Record, 2005.
17
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação
XXV Encontro Anual da Compós, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 7 a 10 de junho de 2016
HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo, Martim Claret, 2012.
LE BRETON, David. Adeus ao corpo. São Paulo: Papirus, 2013.
MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2012.
NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2012.
_______. Assim falava Zaratustra. São Paulo: Editora Escala, 2008.
PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2011.
_______. A república. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1990.
ROSE, Nikolas. Politics of life itself. Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2007.
SENNETT, Richard. Carne e pedra. Rio de Janeiro: Editora Record, 2003.
SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.
SÓFOCLES. Édipo Rei. Porto Alegre: L&PM, 1998.
TUCHERMAN, Ieda. Breve história do corpo e de seus monstros. Lisboa: Ed. Vega, 1999.
WILDE, Oscar. Salomé. South Australia: University of Adelaide, 2014.
18