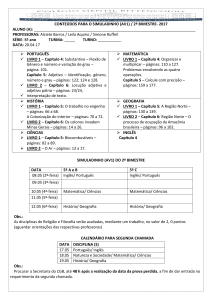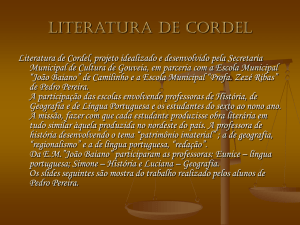‘CON-TEXTOS’ RURAIS E NARRATIVAS BIOGRÁFICAS:
TEMPOS, RITMOS E ESPAÇOS DE FORMAÇÃO
Elizeu Clementino de Souza (PPGEduC/UNEB)1
[email protected]
Ana Sueli Teixeira de Pinho (PPGEduC/UNEB)2
[email protected]
Jussara Fraga Portugal (PPGEduC/UNEB)3
[email protected]
Introdução
Este texto apresenta algumas reflexões teórico-metodológicas em torno da
abordagem (auto) biográfica, mais especificamente das narrativas biográficas de professoras,
aqui entendida como fonte primária, apreendidas por meio das entrevistas narrativas, para de
um lado, refletir as concepções de tempos e ritmos de professoras que atuam em classes
multisseriadas da Ilha de Maré. Por outro lado, o que se pretende é compreender as interfaces
entre as experiências das histórias de vida advindas das vivências cotidianas no meio rural e
das itinerâncias formativas e profissionais de professores de Geografia que nasceram, vivem e
exercem a docência em escolas de educação básica situadas em territórios rurais e como os
mesmos transformam as situações vivenciadas nos cotidianos da vida nas comunidades rurais
e as experiências de formação acadêmica no curso de Licenciatura em Geografia, em
conhecimentos geográficos na sala de aula.
Os estudos vinculam-se à pesquisa ‘Diversas ruralidades-ruralidades diversas’,
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral
(GRAFHO/PPGEduC/UNEB) e tem por objetivo apresentar, inicialmente, reflexões teóricometodológicas sobre narrativas biográficas, com ênfase nas escritas de si em processos de
formação e desenvolvimento profissional de professoras em territórios rurais, fazendo um
recorte de dois dos territórios de identidade atendidos pelo referido projeto de pesquisa, quais
sejam o território da Região Metropolitana de Salvador, mais especificamente a Ilha de Maré
e o Território do Semi-árido, que inclui o município de Serrinha.
As narrativas biográficas, da forma como a concebemos, preservam perspectivas
particulares de uma forma mais autêntica e podem ser detalhadas com um enfoque nos
acontecimentos e ações. A narrativa é assim entendida como uma tentativa de ligar os
acontecimentos no tempo, atribuindo sentido as experiências vividas. Assim, ao narrar as suas
experiências de vida os professores colaboradores da pesquisa não assumem uma perspectiva
linear e sim, narram a trama complexa que constitui a sua história de vida e sua itinerância de
formação e atuação profissional.
1
Pesquisador CNPq. Doutor em Educação pela FACED/UFBA. Professor Titular e Coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Líder do
GRAFHO/PPGEduC/UNEB/CNPq. Presidente da Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica
(BIOgraph). Pesquisador Associado do Laboratório EXPERICE – Paris 8 e Paris 13. Secretario Adjunto da
ANPEd (Gestão 2010/2011). [email protected]
2
Doutoranda em Educação e Contemporaneidade PPGEduC/UNEB. Professora da UCSal. Pesquisadora do
GRAFHO/UNEB. Bolsista CAPES. [email protected]
3
Doutoranda em Educação e Contemporaneidade PPGEduC/UNEB. Professora da UNEB. Pesquisadora do
GRAFHO/UNEB. Bolsista FAPESB. [email protected]
1
Tempos e ritmos em classes multisseriadas: o tempo escolar como dimensão
estruturante do fazer pedagógico
Ao abordar sobre outros tempos sociais, Thompson (1998) afirmou que, “havia outra
instituição não industrial que podia ser usada para inculcar o ‘uso-econômico-do-tempo’: a
escola” (p. 292). Ou seja, a escola como instituição social podia assumir o papel de ensinar as
crianças a não desperdiçarem o tempo. A educação era sinônimo de treinamento para o
trabalho, de modo que as crianças adquirissem o hábito à pontualidade, regularidade e
disciplina. Segundo Pronovost (2001), a escola e a família, como instituições, desempenham
um papel importante na socialização do tempo. A escola foi orientada por um modelo
semelhante ao da organização do trabalho.
O estabelecimento do tempo escolar corresponde a um fato da civilização e passou a
constituir os fundamentos da modernidade, por isso para Pronovost (2001) não se deve
ignorar o papel da escola na socialização da disciplina do tempo. “El tiempo, junto al espacio,
constituye uno de los elementos estructurales y estructurantes de la cultura de la escuela”.
(ESCOLANO BENITO, 2008, p. 33). É Estrutural na medida em que fixa um padrão de
ordem que dá governabilidade as instituições responsáveis pela formação das crianças e
jovens; é estruturante porque interage e influencia a configuração de outros elementos que
integram a vida escolar, como o espaço, o currículo, a conduta dos sujeitos e as mediações
instrumentais do funcionamento do corpo docente.
O tempo escolar, assim como o tempo histórico e social é diverso e plural, pois
constitui-se como uma construção cultural e pedagógica. Como fato cultural, não é uma
estrutura neutra, pois mantém uma relação com outros tempos sociais. Ao mesmo tempo em
que condiciona é condicionado pelos ritmos da vida social e das modalidades ou níveis
temporais diversos.
É importante ressaltar que o tempo escolar é percebido de modo diferente pelos seus
educandos e membros do corpo docente, pois a construção da noção de tempo se dá em
função da relação com o próprio tempo e sua posição hierárquica na comunidade escolar. No
entanto, o tempo escolar não é vivido somente pelos professores e alunos, mas também pelas
famílias e pela comunidade em seu conjunto, mediante a sua inserção e relações com os
demais ritmos e tempos sociais. Dessa forma, o tempo escolar é um tempo pessoal,
institucional e organizacional. Talvez por isso, tenha se configurado como um dos
instrumentos mais poderosos para generalizar e apresentar uma concepção e vivência do
tempo como algo mensurável, fragmentado, seqüenciado, linear e objetivo que tem subjacente
a ele as idéias de meta e de futuro. (FRAGO, 1994).
Enquanto tempo institucional o tempo escolar é um tempo regulamentado e
organizacional e possui como modalidades mais comuns o calendário escolar, os quadros de
horário, que distribuem as atividades e disciplinas por semanas, dias e horas. Na sua
configuração, influencia e sofre influência de aspectos econômico-produtivos - como as datas
de colheita, por exemplo, nas zonas campesinas; climatológicos - épocas de calor ou frio;
religiosos e políticos – determinação dos feriados; médico-higiênicos – períodos de férias ou
de descanso, bem como hábitos e ritmos temporais, juntamente com as inércias e tradições da
sociedade em que se encontra inserida.
Os calendários e horários das instituições educativas constituem-se nos registros
mais fiéis dos trabalhos e dos dias das crianças e professores, ao mesmo tempo em que
refletem toda a organização do ensino e das relações que estabelecem com o seu entorno
social (ESCOLANO BENITO, 2008). Os tempos educativos passaram a representar os ritmos
2
seguidos pelos atores da vida institucional de modo a tornar possível o cumprimento dos
programas, a seqüência das atividades, enfim a execução do método.
Para Correia (2003) a temporalidade do cotidiano escolar será internalizada pelos
educandos como uma temporalidade bem diferenciada da estrutura rítmica que acompanha a
vida cotidiana. O tempo da escola será identificado como o tempo das seqüências repetitivas,
das rotinas, das uniformidades de tarefas em curso; em síntese, o retorno, a repetição,
intervalos iguais, padrões temporais de continuidade e persistência no processo.
A autora continua afirmando que o comportamento rítmico da educação e seus
padrões temporais de repetição, são estruturas criadas para assegurar a continuidade e a
persistência do processo escolar. Por conta desse contexto complexo em que se insere a
realidade escolar, ou seja, necessidades simultâneas e propósitos que coexistem e nascem a
partir de processos rítmicos e tempos periódicos, rotinas, repetições e oscilações temporais,
bem como, determinados tipos de vivências, percepções e experiências temporais dos atores
da comunidade escolar. Assim, a experiência educativa é composta de estruturas rítmicas que
põem em evidência o ritmo como princípio diretor que inspira a natureza dinâmica e cíclica
de alguns fenômenos educativos e funções escolares.
Escolano Benito (2008) defendeu que a análise da cultura escolar como
representação tem levado a conceber a escola como um teatro cognitivo e um espaço para
acolher a dramatização do currículo e a retórica do método. Ou seja, o tempo é uma variável
que condiciona toda a cultura da escola, a partir do exame dessas representações é possível
explicar os modos reais e simbólicos que a escola tem construído nos seus processos como
cultura.
A instituição escolar contribui efetivamente para a consciência onipresente do tempo,
um tempo sempre regulado e ocupado, enfim um tempo determinado, linear, ascendente e
segmentado em etapas ou fases a serem superadas. Assim, o papel da escola de Ensino
Fundamental, como instrumento de inculcação de uma noção do tempo baseada na precisão
dos encontros, na seqüência de atividades, na previsão, no sentido do progresso, assumiu a
ideia do tempo como um valor em si mesmo. Essa é a concepção que foi incorporada do
mundo da fábrica e da produção do trabalho assalariado. No entanto, esta concepção de tempo
tão característica da cultura escolar parece não ter sido produto da busca de um mecanismo
que pudesse facilitar a conversão do trabalhador autônomo e agrícola em assalariado e
operário da fábrica. Assim, podemos inferir que esta concepção de tempo tão particular no
modo de funcionamento da escola é resultado de um processo que se inicia no nascimento da
própria instituição escolar.
Esta concepção do tempo não é uma adesão temporária a instituição escolar,
tampouco produto de uma situação histórica determinada, trata-se de uma característica que a
constituiu, sendo manifestada a partir de diversas formas e modalidades. Na escola,
identificamos diferentes tempos, os legalmente prescritos e os tempos vividos. Em relação ao
tempo vivido, temos o tempo da criança ou do adolescente e o do adulto e sua relação com o
tempo do professor e dos gestores e coordenadores escolares. Assim, ao falar de tempo
escolar é necessário distinguir o tempo administrativo da organização, o tempo do aluno e o
tempo do professor. Nessa perspectiva, o tempo escolar é uma construção social e cultural,
portanto não é dado, é construído pelos seres humanos. Possui um caráter histórico e, portanto
relativo, uma construção prescrita e vivida, imposta e contestada, rígida e adaptável, social e
individual. Neste sentido, não deveríamos falar em tempo escolar, no singular, e sim, em
tempos escolares. (FRAGO, 1994)
O tempo social e cultural é uma construção que integra as estratégias civilizatórias
que disciplinam as crianças e condicionam também os adultos. A partir do processo de
3
escolarização iniciado pelas sociedades liberais do século XIX, o calendário e os horários
escolares tem se configurado não só como uma estrutura da instituição escolar, mas da
infância em si mesma cuja identidade narrativa se configura como um fato cultural.
(ESCOLANO BENITO, 2008).
De acordo com as análises de Correia (2003) o tempo educativo como um tempo
social específico, confrontado com outros tempos sociais, inclusive o tempo produtivo, adota
em seu funcionamento e organização uma dinâmica própria. Com isto, enfatizamos que o
tempo educativo não se modela, exclusivamente, em função das exigências de produção do
sistema social. A cultura educativa é a síntese diferenciada de múltiplos tempos. A
temporalidade sócio-cultural pode ser dividida em dois níveis ou planos básicos: de um lado,
o cultural ou civilizador e de outro, o social ou institucional. Constituído a partir dessas
temporalidades complementares, acredita-se num tempo dividido ou fragmentado, o presente
contrapondo-se ao futuro.
Como já foi sinalizado, anteriormente, o tempo escolar se manifesta de diferentes
modos, tais como apresenta Frago (1994): as idades média, mínima e máxima de entrada e
saída em cada um dos cursos, ciclos ou níveis existentes, bem como os anos de duração e
tempos de permanência em cada um deles; o calendário escolar, sua origem e evolução: datas
de início e término de cada curso, períodos de férias, dias letivos e feriados, festividades
religiosas e políticas; a organização temporal da semana e dos dias letivos; as relações entre o
tempo ou tempos escolares e outros tempos sociais como os ritmos diários; as diferenças entre
os tempos propostos, os tempos prescritos e os tempos vividos. Em síntese, diferentes de
outros tempos sociais o tempo escolar, parece assumir uma vocação mais rígida e mais
disciplinar. A distribuição do tempo escolar e do trabalho como meio disciplinar indica a
predominância de sua natureza organizacional e didática, sendo utilizado como forma de
controle externo. (FRAGO, 1995).
A adaptação das crianças no ensino fundamental à disciplina do calendário escolar e
dos horários escolares pressupõe atribuir à infância um status de um grupo diferenciado na
organização social. A aprendizagem do tempo escolar foi, em certo sentido, um elemento
integrante do currículo escolar e um componente essencial da cultura da escola. Deste modo,
o tempo escolar, nos seus ciclos, se constitui numa mediação fundamental para aprender a ler
e entender o complexo sistema de relógios e calendários, que regulam as ações da vida
cotidiana nas instituições e na comunidade. O tempo escolar é, portanto, um registro das
estruturas e dos ritmos da escola, assim como os rituais e usos da sociedade em que se
encontra inserida. (ESCOLANO BENITO, 2008).
A concepção de tempo também influencia a forma como trabalhamos o
conhecimento na escola de Ensino Fundamental. Como recuperamos a memória e como a
transportamos como persistência de nossa memória coletiva. A grande conquista do ser
humano tem sido a capacidade de recuperar o tempo vivido, ou seja, ter memória sobre as
formas de vida anteriores, ter consciência de outros tempos além do nosso próprio tempo. É
esta capacidade de recordar, além da nossa vida e do nosso contexto imediato que cria cultura
e constrói a sociedade. (MARTÍNEZ, 2009).
Somente a percepção do tempo e nossa capacidade de antecipar a ação para
interpretar o significado dos atos, nos situam de uma forma consciente perante o mundo. A
escola necessita de memória e escolha, senão ficará reduzida a imobilidade, a repetição e a
inconsciência. Necessitamos ser conscientes do tempo para nos responsabilizarmos sobre as
nossas vidas (MARTÍNEZ, 2009). Assim, “a escola, em suas diferentes concretizações, é um
produto de cada tempo, e suas formas construtivas são, além dos suportes da memória
coletiva cultural, a expressão simbólica dos valores dominantes nas diferentes épocas”.
4
(ESCOLANO e FRAGO, 2001, p. 47). Assim, na contemporaneidade, a escola, como cenário
social de desenvolvimento humano, deve abarcar o tempo educativo em suas
multitemporalidades. Além de suas funções básicas os ritmos crono-biológicos, bem como
suas estruturas rítmicas devem ser respeitados e cuidados pelos processos pedagógicos.
(CORREIA, 2003).
A escola de ensino fundamental e seus atores escolares vivem uma diversidade de
tempos frente aos imperativos temporais que planejam sua experiência escolar. Estes tempos
põem em jogo a dimensão comunicativa do tempo educativo a partir do qual constroem uma
variedade de tempos individuais, subjetivos, vivenciais, que são obrigados a coexistir
simultânea e contraditoriamente com o tempo normativo e coletivo da instituição escolar, que
por vezes adota uma referência temporal caduca e anacrônica. Mesmo considerando que a
escola serve como espaço e tempo de socialização, o tempo escolar coloniza os demais tempos,
constrangendo-os devido a grande pressão que exercem os critérios em favor dos resultados
esperados. (CORREIA, 2003).
Diante do exposto, estudar os tempos e ritmos nas classes multisseriadas, a partir da
análise dos documentos escolares, quais sejam, o Projeto Pedagógico e Regimento da Escola
Municipal de Botelho, significa estabelecer relações entre o tempo prescrito e normatizado
pelos referidos documentos e o tempo vivido nas classes multisseriadas da Ilha de Maré,
considerando o processo de subjetivação inerente à construção do tempo escolar no Ensino
Fundamental.
Tempos e ritmos em classes multisseriadas da Ilha de Maré: um estudo a partir das
histórias de vida de professoras.
As professoras das classes multisseriadas ao operarem com as noções de tempos e
ritmos deparam-se com duas situações: por um lado, sofrem a influência das formas como o
tempo escolar foi construído historicamente e por outro, estão inseridas num contexto social
mais amplo, com suas formas próprias de lidarem com o tempo social.
Assim, a pesquisa assume a concepção de tempo proposto por Pineau (2003), quando
afirma que: “O tempo é a medida do movimento. Não apenas sua contabilização, sua
quantificação, sua média, mas também sua afinação, seu ritmo, seu tom, sua qualidade, seu
sentido”. (PINEAU, 2003, p. 13). Desse modo, estudar os tempos e ritmos nas classes
multisseriadas pressupõe compreender as diferentes expressões manifestadas pelos sujeitos
produtores das ações cotidianas nesses espaços educativos.
Vale ressaltar que, historicamente a organização temporal imposta às classes
multisseriadas assumiu uma concepção linear do tempo e remeteu, por sua vez, às marcas da
seriação inspiradas no processo de industrialização taylorista, forjado no interior das fábricas,
o que dificilmente acolhe a especificidade dos espaços rurais. Como contraponto a essa
linearidade temporal, a “sociologia das ausências” e a “sociologia das emergências”
analisadas por Boaventura Santos constituem-se em referências fecundas para se pensar sobre
a possibilidade de substituir a monocultura do tempo linear pela “ecologia das
temporalidades”, em que a intenção busca fortalecer as culturas silenciadas.
Para esse autor,
[...] a idéia de que as sociedades são constituídas por várias temporalidades e
de que a desqualificação, supressão ou ininteligibilidade de muitas práticas
resulta de se pautarem por temporalidades que extravasam do cânone
temporal da modernidade ocidental capitalista (SANTOS, B. 2002, p. 17).
5
Com base nessas considerações, este texto assume o desafio de apreender as
concepções de tempos e ritmos nas classes multisseriadas, de modo que a partir das narrativas
biográficas das professoras seja possível perceber as influências sofridas por elas na
construção da noção de tempo que engendram das práticas educativas concretas, construídas
no âmbito das classes multisseriadas.
Se o tempo é considerado como o transcurso, a sucessão dos eventos e sua trama e o
espaço é o lugar material da possibilidade dos eventos, pode-se inferir que a produção do
tempo pelos sujeitos concretos guarda uma relação com o espaço onde esta produção se dá
(SANTOS, M. 2008). Assim, a forma de lidar com o tempo na Ilha de Maré parece guardar
uma relação com o processo de apropriação desse conceito por cada sujeito ao longo da sua
história de vida. Dessa forma, estamos diante de processos de subjetivação do tempo pelos
sujeitos, constituídos a partir das referências do grupo social que integram.
Assim, apreender os modos como os tempos e ritmos se manifestam no espaço das
classes multisseriadas, entrecruzando com o tempo histórico-biográfico a partir das histórias
de vida das professoras e suas narrativas biográficas mobiliza a refletir sobre a relação
existente entre as práticas culturais desses sujeitos e os tempos e ritmos produzidos no
contexto escolar.
A questão aqui proposta, qual seja: qual a relação entre os tempos e ritmos nas
classes multisseriadas com o tempo histórico-biográfico das professoras atuantes em escolas
da Ilha de Maré? Exige a consideração de que o conhecimento não está dado a priori, não se
encontra como um fato acabado, tampouco é fruto de uma relação que exclui o outro do
processo ou o transforma em objeto. “Não há trabalho de campo que não vise ao encontro
com o outro, que não busque um interlocutor. Também não há escrita de pesquisa que não se
coloque o problema do lugar da palavra do outro no texto” (AMORIM, 2001, p. 16). Esse
entendimento remete à importância que se deve atribuir à atitude de acolher o outro como
sujeito do processo, o que sugere uma nítida compreensão epistemológica em torno do modo
como é produzido o conhecimento no âmbito das Ciências Sociais em geral.
Da mesma forma,
[...] o método depende do objeto, ou seja, remete à peculiaridade daquilo que
efetivamente se procura conhecer. Esse é o legado de uma epistemologia da
construção científica como a de G. Bachelard (1979). Não existe
metodologia a priori. Esta se conquista no próprio trabalho, ao mesmo tempo
em que vai sendo definido o objeto teórico, de tal modo que resulta inerente
às características deste. (FOLLARI, 2008, p. 75/6)
Com base nessas considerações, assume-se no interior deste trabalho uma
perspectiva interessada, e não de neutralidade, na construção do conhecimento, o que impõe
ao pesquisador e ao pesquisado um compromisso de anunciar o lugar da sua fala e as
circunstâncias em que fala, pois
[...] quem narra e reflete sobre a sua trajetória abre possibilidades de
teorização da sua própria experiência e amplia a sua formação por meio da
investigação-formação de si, dos enfrentamentos da racionalidade técnica, da
capacidade de experienciar situações didáticas, produzindo práticas docentes
intencionais e conscientes. (SOUZA, PINHO, GALVÃO, 2008, p. 82).
6
No âmbito deste trabalho, é necessário fazer falar as diversas culturas e formas de
saberes que foram negadas e silenciadas pela orientação clássica da ciência. Portanto, um
aspecto aqui eleito – Tempos e ritmos nas classes multisseriadas – não é algo que se pode
apreender fora da dinâmica em que se materializa, a escola rural, lugar onde ocorrem
concretamente as referidas práticas educativas. Vale ressaltar, que “o lugar não é mais dado a
priori, ele não é uma simples “matéria-prima”, ele é um resultado, uma produção, uma criação
coletiva, um projeto comum iniciador da relação social e ‘recriador de um imaginário social’.
(DELORY MOMBERGER, GALVÃO, SCHALLER, 2008, p. 68).
Com efeito, os sujeitos que constroem essa escola são tidos como colaboradores
desta pesquisa, não sendo vistos como seres passivos e contemplativos, como admitiu a
racionalidade científica de base positivista. São entendidos como sujeitos que dão corpo e
vida às experiências concretas a serem investigadas, as quais constituem o objeto de estudo,
qual seja, os tempos e ritmos nas classes multisseriadas.
Esta compreensão concorda com Souza (2006) quando afirma que:
A narrativa de si e das experiências vividas ao longo da vida caracterizam-se
como processo de formação e de conhecimento, porque se ancora nos
recursos experienciais engendrados nas marcas acumuladas das experiências
construídas e de mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em processo de
formação e desenvolvimento (SOUZA, 2006, p. 136).
Nesse sentido, narrar a própria vida ajuda a recuperar as experiências vividas que
marcaram efetivamente a trajetória do sujeito, ao longo do seu percurso formativo. No caso
desta pesquisa, o interesse é apreender por meio das narrativas biográficas a forma como os
tempos e ritmos foram construídos e como os professores das classes multisseriadas lidam
com esses conceitos no cotidiano desses espaços educativos.
Em outras palavras, o desejo é apreender os tempos e ritmos nas classes
multisseriadas, a partir da “interação entre uma consciência individual e uma outra”
(BAKHTIN,1990, p. 34) e das diferentes narrativas e ações, uma vez que a interação faz
emergir signos – estes se constituem na materialidade da comunicação entre os homens. Com
esse entendimento, não se pretende dicotomizar as abordagens metodológicas de se fazer
pesquisa, entre qualitativa ou quantitativa, pois se entende que ambas se encontram
entrecruzadas na constituição do objeto de estudo.
A opção metodológica recai sobre a narrativa biográfica uma vez que a partir dela, o
indivíduo mobiliza referentes que estão no coletivo, com vistas à construção da sua identidade
pessoal. Além disso, esta escolha metodológica, “pode auxiliar na compreensão do
singular/universal das histórias, memórias institucionais e formadoras dos sujeitos em seus
contextos, pois revelam práticas individuais que estão inscritas na densidade da história”
(SOUZA e SOARES, 2008, p. 192).
Assim, ao investigar os tempos e ritmos nas classes multisseriadas, nada mais
oportuno do que apreender a perspectiva individual dessa construção para, a partir daí,
relacionar com as experiências dos grupos sociais que mantém viva a produção cultural nesses
espaços sociais. Esta opção se dá porque, o uso freqüente do método da narrativa biográfica
em educação, tem por objetivo “evidenciar e aprofundar representações sobre as experiências
educativas e educacionais dos sujeitos, bem como potencializa entender diferentes
mecanismos e processos históricos relativos à educação em seus diferentes tempos”.
(SOUZA, 2006. p. 136)
Neste contexto, ao pesquisar os tempos e ritmos nas classes multisseriadas, busca-se
saber como as professoras concebem esses conceitos e os operam nas suas ações cotidianas.
7
Desse modo, torna-se imprescindível adotar a abordagem qualitativa de pesquisa, pois o que
se almeja é apreender a relação entre os modos em que as professoras lidam com o tempo
escolar e o tempo histórico-biográfico a partir das suas narrativas biográficas e “compreender
o processo de conhecimento e de aprendizagem que estão implicados nas suas experiências ao
longo da vida” (SOUZA, 2006, p. 135).
Assim, neste estudo concorda-se que
O nosso desafio na pesquisa, nesse caso, são as relações e não as coisas
(quando estas são concebidas de modo metafísico, empírico ou positivista).
Em síntese, queremos afirmar que, embora não possamos deixar de estudar a
realidade com base nas coisas que a constituem, trata-se mais propriamente
de investigar as relações (não apenas múltiplas, mas também universais) de
cada coisa que estudamos (JANTSCH, 2008, p. 43).
Como foi sinalizado no início do texto, essas são as intenções metodológicas da
pesquisa que se encontra em desenvolvimento. A compreensão construída até aqui é que
somente através de uma reflexão sobre a temporalidade dos sujeitos, principalmente a
temporalidade inscrita a partir da linguagem é que podemos alcançar uma reflexão mais
aprofundada sobre os tempos e ritmos.
Daí a importância de tomar as histórias de vida das professoras de classes
multisseriadas para compreender como o conceito de tempo foi apropriado ao longo das suas
trajetórias. Além disso, pensar em que medida a tomada de consciência dessas diferentes
temporalidades pode contribuir na construção de um currículo para as escolas rurais que
considerem os tempos e ritmos dessas gentes que nas suas histórias de vida inventaram
formas alternativas de lidar com o tempo a fim de produzir e transformar a sua realidade
social.
Formação, profissionalização e saberes docentes: histórias de professores de Geografia
Com a intenção de conhecer como os professores de Geografia, que exercem a
docência em escolas rurais, constroem e mobilizam seus saberes na prática docente cotidiana,
torna-se relevante entender os percursos formativos desses profissionais, buscando
compreender como essas trajetórias de formação se imbricam com as práticas de ensino dos
conteúdos, temas, conceitos e temáticas da Geografia em espaços rurais e como esses saberes
se materializam no território da profissão.
Tematizando sobre os saberes docentes e a formação profissional, Tardif (2002, p.
23) enfatiza que deseja “encontrar, nos cursos de formação de professores, uma nova
articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a
respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas”.
O processo da formação inicial de professores, segundo Cavalcanti (2006), implica
na definição de um eixo de ligação entre a Universidade (lócus da formação), a escola
(território do exercício da profissão) e a Geografia Escolar (para além da concepção de
componente curricular). Sobre a docência em Geografia, esta autora destaca que há uma
relação entre o conhecimento acadêmico (os específicos da Ciência Geográfica e os didáticopedagógicos) e os conhecimentos construídos a partir das situações experienciadas, no âmbito
da vida pessoal do professor. O entrelaçamento dos conhecimentos específicos da ciência
geográfica, dos conhecimentos didático-pedagógicos e dos saberes construídos nas trajetórias
das experiências vividas possibilitará o desenvolvimento das suas práticas pedagógicas, com
implicações no processo de construção da sua identidade profissional, que segundo Nóvoa
8
(1992, p. 16), trata-se de “um processo único e complexo, graças ao qual cada um de nós se
apropria do sentido da sua história pessoal e profissional”.
Desse modo, fica evidente que a formação inicial do professor de Geografia precisa
considerar o cotidiano, o espaço vivido dos mesmos, como referência concreta para o
encaminhamento do processo didático-pedagógico. A partir dessa compreensão é fundamental
entender as concepções do professor sobre o espaço vivido, concebido e percebido, ou seja,
suas percepções sobre o seu lugar de vivências e de seus alunos, e compreender como essas
percepções podem e tem ajudado a engendrar as suas propostas de ensino em suas práticas
pedagógicas nas escolas situadas na roça.
Assim, o lugar, categoria de análise espacial, é entendido como...
[...] a base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitanteidentidade-lugar. [...] As relações que os indivíduos mantêm com os espaços
habitados se exprimem todos os dias nos modos do uso, nas condições mais
banais, no secundário, no acidental. É o espaço possível de ser sentido,
pensado, apropriado e vivido através do corpo (CARLOS, 1996, p. 20).
A partir da importância da análise da concepção dessa categoria geográfica – o lugar
–, emerge desse conceito, a necessidade de conceber a escola rural como um espaço
privilegiado para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica que leve em consideração a
formação dos estudantes enquanto sujeitos da realidade em que vivem. Essa relação direta
com a realidade/lugar aproxima os seres humanos da sua essência, do seu cotidiano, do
espaço em que habita um projeto de emancipação humana que está estreitamente ligado com
as práticas desenvolvidas pelos professores de Geografia de escolas rurais.
Nesse sentido, as trajetórias de vida e formação dos professores mantêm uma relação
direta com o processo de aprendizagem do saber-ensinar, de modo que as experiências
formadoras vivenciadas ao longo da vida implicam diretamente na prática cotidiana de
ensinar Geografia, num determinado espaço, com suas singularidades, subjetividades e
características próprias. Assim, as experiências das/nas/sobre as trajetórias de formação
vivenciadas pelos professores no contexto da formação inicial configuram-se como
experiências singulares de aprendizagem do trabalho docente, permitindo a
construções/materialização e mobilização de saberes no território da profissão.
A aprendizagem do saber-ensinar dos professores compreende um processo que se
dá ao longo da vida, são os saberes experienciados em diferentes contextos, em especial o da
formação inicial e da prática profissional. Por isso, a formação inicial dos professores, deve
considerar as narrativas das histórias de vida e das trajetórias de escolarização e formação e
suas implicações no processo de aprendizagem do saber-ensinar, problematizando situações
experienciadas no devir da vida cotidiana e as marcas dos percursos formativos na
constituição dos modos de ser e fazer docente, levando em consideração os espaços
específicos de atuação desses profissionais, no âmbito dessa pesquisa específica, as escolas
rurais.
É pertinente, nesse movimento, salientar que os novos estudos sobre ruralidades tem
possibilitado argumentar que falar do rural não significa referir-se apenas a um espaço
geográfico, mas às relações que são desenvolvidas nesse espaço a partir de vários elementos,
como pertencimentos, deslocamentos, posicionamentos, subjetividades. Portanto, concebo
nesta pesquisa, a ruralidade como uma construção social específica, “um modo de ser e um
modo de viver mediados por uma maneira singular de inserção nos processos sociais e no
processo histórico” (MARTINS, 2001, p. 10).
9
Essa discussão sobre ruralidades/singularidades está presente nas pesquisas de
Wanderley (2001), para quem a ruralidade/rural deve ser entendido não como um espaço que
se encontra à margem da cidade, um entorno inferiorizado como historicamente o rural foi
concebido, compreendido e representado, mas sim como um espaço singular, coletivo e com
distintas especificidades. Sendo assim, compreende-se ruralidade como uma construção
histórica; o rural como um espaço diversificado; o desenvolvimento rural como um novo
compromisso institucional e a emergência de uma nova ruralidade, que supere o estigma de
espaço infernizado, dependente, subalterno e se imponha como um lugar onde acontece a
vida, cujas singularidades devem ser respeitadas e suas especificidades sejam contempladas
no decurso das práticas sociais devolvidas no território rural. Nesse contexto, a escola é
concebida como “[...] um lugar de encontro de culturas, de saberes científicos e cotidianos,
ainda que o seu trabalho tenha como referência básica os saberes científicos” (CASTELLAR,
2010, p. 51).
Portanto, a escola, enquanto espaço de construção e socialização de conhecimentos
deve privilegiar os saberes da população local, uma vez, que os sujeitos são capazes de
aprender a partir dos diversos contextos de vida. Assim, [...] Ao demarcar o lugar, com suas
ações, com seu ‘ir e vir’ no uso, para a vida, o homem se identifica com o espaço porque seus
traços, suas marcas o transformam. Na convivência com o lugar, e nele se produz a identidade
(CARLOS, 1996, p. 81).
Pensar a formação/prática (saber-fazer) de professores de Geografia inseridos em
contextos rurais supõe, portanto, a compreensão das especificidades, subjetividades e das
representações do espaço rural, que deve ser entendido, ao mesmo tempo, como espaço físico
(referência à ocupação do território e aos seus símbolos), lugar onde se vive (particularidades
do modo de vida e referência identitária) e lugar de onde se vê e se vive o mundo.
Assim concebido, o lugar é
[...] produto das relações humanas, entre o homem e a natureza, tecido por
relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a
construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela
história e cultura produzindo a identidade (CARLOS, 1996, p. 29).
O significado que cada professor confere à sua atividade como docente está
relacionado aos seus valores e suas histórias de vida; seu modo de situar-se no mundo, cujas
representações são significativas na construção da sua identidade como educador e ajudam a
configurar os saberes que estruturam a sua profissão.
Pesquisas realizadas por Maurice Tardif apontam que a prática profissional do
professor não é um mero ofício de aplicação de teorias; é, sim, um espaço de produção de
saberes e conhecimentos usados no seu desenvolvimento profissional e na sua emancipação.
Esses saberes provêm de diferentes fontes e dão origem a um saber plural, “formado pelo
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de
saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002 p. 36).
Esses saberes são empregados na prática pedagógica e podem ser compreendidos a
partir da seguinte composição: os saberes oriundos da formação profissional são aqueles
adquiridos durante a formação inicial e que qualificam a profissão do professor; os saberes
disciplinares referem-se aos conhecimentos que são difundidos pela Universidade, oriundos
de diversos campos científicos; os saberes curriculares são aqueles presentes nos programas e
currículos escolares e os saberes experienciais são os conhecimentos produzidos e validados
pela experiência dos educadores no devir do seu trabalho cotidiano escolar.
10
Narrando histórias, entrelaçando narrativas: professores de Geografia de escolas rurais
Buscando conhecer as histórias de vida dos professores foi solicitada a escrita de um
texto narrativo, na primeira pessoa. A indagação “Traduzindo-me: quem sou eu?” foi a
questão mobilizadora para a escrita dos memoriais dos professores inseridos nesta
investigação4.
Assim, a questão que ficou evidenciada nas narrativas retrata a identidade de ser de
onde se é, conforme os excertos abaixo:
Sou a terceira filha de uma família de quatro irmãos. Nasci numa casa na
zona rural localizada a 18 km da sede do município de Serrinha. Fiquei órfã
de pai quando tinha nove meses. Meu pai era agricultor e sempre gostou de
criar animais e cuidar da roça, e apesar de não ser alfabetizado era um
homem esclarecido e muito esforçado. Minha mãe é uma mulher
batalhadora, dona de casa, que sempre trabalhou no meio rural, lavrando a
terra. Ainda hoje, vivo na zona rural. Lembro-me da minha infância, da vida
simples no campo, isso me traz recordações [...]. Recordo-me das
plantações, das colheitas do milho e do feijão, das picadas das formigas
durante o preparo do solo para o plantio, no final de cada verão, no mês de
março. Chorava muito e não compreendia a importância de tudo aquilo e
ficava imaginando como seria diferente se morasse na cidade. Não gostava
de morar naquele espaço, de ser da zona rural. Essa percepção do meu lugar,
o campo – como referência pessoal e fator marcante na construção da minha
identidade – nunca foi totalmente valorizada por mim, até a minha entrada
na UNEB [...]. As vivências formativas na Universidade proporcionaram o
fortalecimento do sentimento de pertencimento ao meu lugar. [...]. Hoje, o
meu olhar é outro... (Madalena5).
Filha de Conceição do Coité – Bahia, município do Território do Sisal, onde
me criei e vivo até hoje em um sítio no povoado de Bandiaçu localizado
neste município. Sou a primogênita de cinco irmãos, filha de trabalhadores
rurais que me ensinaram desde cedo a aceitar minha realidade de vida, minha
identidade e a importância da terra para nossa sobrevivência, pois era dela
que retirávamos todo o sustento da família. Desde bem pequena (2 a 3 anos)
meus pais, na época do inverno me levavam para a roça, pois, normalmente
não tinha com quem me deixar. Eles trabalhavam e eu ficava em baixo das
árvores brincando. Como eu não estudava ainda, por isso, ficávamos na roça
o dia todo, pois esta era distante de nossa casa [...]. As experiências
formativas vivenciadas nas aulas de Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado no curso de Geografia na UNEB favoreceram a construção
da minha identidade, enquanto professora de Geografia de escolas do campo,
potencializando o meu olhar para o “mundo rural”, pois aprendi que para ser
educadora é preciso compreender o espaço no qual estamos inseridos, as
4 Trata-se de uma pesquisa de doutoramento intitulada “Quem é da roça é formiga!”: histórias de vida,
itinerâncias formativas e profissionais de professores de Geografia de escolas rurais, em fase de desenvolvimento
no âmbito das ações do Grupo de Pesquisa (Auto)biografia, Formação e História Oral – GRAFHO, do Programa
de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC da Universidade do Estado da Bahia –
UNEB, sob a orientação do Prof. Dr. Elizeu Clementino de Souza.
5
Os nomes dos professores foram mantidos, conforme autorização dos mesmos.
11
dinâmicas que nele ocorrem, as relações que são estabelecidas, reafirmando
a necessidade de ressignificar através da mediação didática, os conteúdos
apreendidos e aprendidos na universidade. Ser uma professora de Geografia
do campo é um constante desafio (Maristela).
Nas suas narrativas, Madalena e Maristela relatam momentos vivenciados nos seus
lugares de origem, qual seja, a roça, uma no município de Serrinha e a outra no município de
Conceição do Coité, contemplando três elementos significativos. O primeiro retrata como o
espaço rural sempre foi colocado na esfera espacial como um lugar considerado inferior,
subalterno e dependente da cidade. A cidade, na conjuntura atual, é considerada o locus da
vida contemporânea. Em decorrência dessa concepção, o rural, enquanto espaço social sempre
esteve no imaginário das pessoas como um lugar atrasado, legitimando a hierarquização que
coloca a cidade acima do campo, resquícios da herança histórica da sociedade escravocrata.
O outro trata da relação, estabelecida pelas narradoras, entre o ato de conhecer o
lugar e suas implicações com o sentimento de pertencimento a um grupo, a um espaço,
favorecendo a construção da sua identidade. E, o terceiro enfatiza o papel da Universidade,
mas especificamente, ao seu processo de formação inicial docente, no âmbito da Licenciatura
em Geografia. Segundo as professoras Madalena e Maristela, o acesso às discussões e
aprendizagens no espaço acadêmico foi determinante para construir relações de pertença:
onde, neste caso, pertencer significa reafirmar a condição de moradoras de áreas rurais Desse
modo, a oportunidade de conhecer a Geografia, tem possibilitado a essas professoras conferir
novos sentidos e significados ao seu espaço de vivência e às suas práticas pedagógicas no
âmbito das escolas rurais.
Sobre o sentimento de pertença enfatizado nestes excertos das narrativas de
Madalena e Maristela, é algo possível, pois o conceito de identidade está intrinsecamente
ligado à categoria lugar. Conforme Cavalcanti (2008), as experiências vividas no cotidiano
demarcam sentimentos de familiaridade, de afetividade e de identidade. Para essa autora, a
identidade é construída de forma relacional, pois o “[...] seu aparecimento advém de uma
interação de elementos, nesse caso de indivíduos com os seus lugares [...]. Implica um
sentimento de pertinência [...] (CAVALCANTI, 2008, p. 50).
Esses elementos foram contemplados de forma subjetiva nas escritas das professoras
Madalena e Maristela, cujas experiências narradas constituem o enredo das suas histórias,
embora singulares, possui elementos que se aproximam de outras histórias, como por
exemplo, a do professor Antônio Sena.
Nasci no meio rural, no município de Araci. A minha infância não foi nada
fácil. Comecei trabalhando na lavoura do sisal com seis anos e dez meses na
lavoura do sisal.[...] Guardo, ainda hoje, grandes recordações e marcas desse
período, as mais fortes são as cicatrizes no meu corpo. [...] Para estudar tive
que andar 6 Km a pé diariamente. [...] Só tive acesso à escola aos nove anos
de idade, quando fisicamente tive condições de encarar a lida no campo e
ainda fazer esse trajeto diariamente. Com muita dificuldade conclui o curso
de Magistério e me tornei professor das séries iniciais no município. [...]
Incansável, cheguei à Universidade. Hoje, estudando a Geografia
compreendo melhor a minha história [...] e, também, tenho aprendido a lidar
com os meus alunos que também são oriundos do campo e que vivem
situações semelhantes às minhas [...].Uma das maiores contribuições para
minha prática docente foi sem sombra de dúvida as aulas de Prática de
Ensino em Geografia [...]. Um dos maiores desafios da atuação do professor
12
é a mediação do ensino-aprendizagem [...] As aulas de Prática de Ensino
muito contribuíram para a minha prática na sala de aula (Antônio Sena).
Neste excerto da sua narrativa, o professor Antônio Sena faz referência à sua
infância, retratada pelas difíceis situações experienciadas no contexto do trabalho infantil na
lavoura do sisal, que durante décadas mutilou milhares de trabalhadores rurais, inclusive
crianças e adolescentes, no Território de Identidade do Sisal, mais conhecido como Região
Sisaleira, está localizado no semi-árido da mesorregião do Nordeste Baiano, distante da
capital baiana aproximadamente 180 km, envolvendo cerca de vinte municípios, entre os
quais merecem destaque Santa Luz, Conceição do Coité, Queimadas, São Domingos e
Valente, conhecida como a capital do sisal e sede do Território de Identidade do Sisal. Os
municípios que formam este território são: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção,
Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas,
Quinjingue, Retirolândia, Santa Luz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano e Valente.
Como as professoras Madalena e Maristela sinalizaram nas suas narrativas, a
importância da sua inserção no âmbito do ensino superior, na Licenciatura em Geografia, o
professor Antônio Sena, também destaca as implicações do seu processo formativo na
Universidade que, segundo o mesmo, tem favorecido repensar a sua prática pedagógica na
escola rural, criando diferentes estratégias de mediação, considerando as histórias de vida de
seus alunos, também moradores do espaço rural.
Considerações finais
Os olhares lançados e as reflexões teórico-metodológicas concernentes a abordagem
(auto) biográfica, com ênfase nas narrativas biográficas de professoras, a partir das entrevistas
narrativas, permitiu-nos dialogar sobre concepções de tempos e ritmos de professoras que
atuam em classes multisseriadas da Ilha de Maré, bem como sistematizar experiências das
histórias de vida de professoras de Geografia, referentes ao cotidiano no meio rural e as
implicações das itinerâncias formativas e profissionais em escolas de educação básica situadas
em territórios rurais. Tais reflexões, mesmo que iniciais, possibilitaram ampliações sobre o
trabalho docente em classes multisseriadas e da práxis pedagógica de professores de
geografia, a partir das narrativas biográficas em ‘con-textos’ rurais.
Referências
AMORIM, Marília. O pesquisador e seu outro: Bakhtin nas ciências sociais. São Paulo:
Musa, 2001.
BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 5. ed. São Paulo: Hucitec,
1990.
CALLAI, Helena C. A articulação teoria-prática na formação do professor de geografia. In:
SILVA, Ainda Maria M. et. al. Educação formal e não formal, processos formativos e
saberes pedagógicos: desafios para inclusão social. Anais Encontro Nacional de Didática e
Prática de Ensino. Recife: ENDIPE, 2006. p. 143-161.
CARLOS, Ana Fani Alessandri. O lugar no/do mundo. São Paulo. Hucitec, 1996.
13
CASTELLAR, Sônia Mª Vanzella. Educação Geográfica: formação e didática. In: MORAIS,
Eliana marta Barbosa de; MORAES, Loçandra Borges de. (Orgs.). Formação de
professores: conteúdos e metodologias no ensino de Geografia. Goiânia: Vieira, 2010.
CAVALCANTI, Lana de Souza. A Geografia escolar e a cidade – ensaios sobre o ensino de
Geografia para a vida urbana cotidiana. Campinas: Papirus, 2008.
CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia escolar na formação e prática docentes: o
professor e seu conhecimento geográfico. In: SILVA, Aida Maria M. et. al. Educação formal
e não formal, processos formativos e saberes pedagógicos: desafios para inclusão social.
Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Recife: ENDIPE, 2006. p. 109 – 126.
CORREIA, Teodósia Sofia Lobato.Tempo de las escuelas, tiempos de los escolares. In:
Anais da 26ª Reunião da ANPED, Poços de Caldas, MG, 5 a 8 de outubro 2003. Disponível
em: http://www.anped.org.br/reunioes/26/inicio.htm. Acesso em jul. 2010.
DELORY-MOMBERGER, Christine ; GALVÃO, Izabel e SCHALLER, Jean Jacques.
Construção de uma urbanidade rural: percursos de vida de jovens na Amazônia. Tradução:
Eric Maheu. Revista da FAEEBA: Educação e contemporaneidade, Salvador, v. 17, n. 29,
p.67-78, jan./jun. 2008.
ESCOLANO BENITO, A. La invencion del tiempo escolar. In: FERNANDES, Rogério e
MIGNOT, Ana Chrystina Venancio (Org.). O Tempo na escola. Porto: Profedições, 2008. p.
33-53.
ESCOLANO, Agustín; FRAGO, Antonio Viñao. Currículo, espaço e subjetividades: a
arquitetura como programa. Tradução: Alfredo Veiga Neto. Rio de janeiro: DP & A, 2001.
152 p.
FOLLARI, Roberto Agustín. Problemas em torno da pesquisa qualitativa. In: BIANCHETTI,
Lucídio; MEKSENAS, Paulo (Org.). A Trama do conhecimento: teoria, método e escrita em
ciência e pesquisa. Campinas, SP: Papirus, 2008. p. 73-93.
FRAGO, Antonio Viñao. Historia de la educación y historia cultural: posibilidades,
problemas, cuestiones. Revista Brasileira de Educação. n. 0, ANPED, Set/out/nov/dez,
1995. p. 63-82.
FRAGO, Antonio Viñao. Tiempo, historia e educación. Revista Complutense de Educación.
Madrid: Edit. Complutense, v. 5 (2) p. 9-45, 1994.
GAUTHIER, Clermont et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre
o saber docente. Ijuí: Ed. Unijui, 1998.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Contagem da população, 2007.
Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Acesso em: 21 mai. 2009.
JANTSCH, Ari Paulo. Os conceitos no ato teórico-metodológico do labor científico. In:
BIANCHETTI, Lucídio; MEKSENAS, Paulo (Org.). A Trama do conhecimento: teoria,
método e escrita em ciência e pesquisa. Campinas, SP: Papirus, 2008. p. 43-55.
MARTÍNEZ, Carmen Rodríguez. El sentido del tiempo en las prácticas escolares. Revista
Ibero Americana de Educación. Organização de Estados Iberoamericanos para La
educación, v.49, n. 1, mar-2009.
14
MARTINS, José de Sousa. O futuro da sociologia rural e sua contribuição para a qualidade de
vida rural. Estudos Avançados, Rio de Janeiro, v.15, n.43, p.31-36, out. 2001. Disponível
em: <http://www.scielo.br> Acesso em: 03/04/2011.
NÓVOA, António. Formação de professor e profissão docente. In: NÓVOA, Antonio (Org.).
Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
PINEAU, Gaston. Temporalidades na formação: rumo a novos sincronizadores. Tradução:
Lucia Pereira de Souza. São Paulo: TRIOM, 2003. 236 p.
PRONOVOST, Gilles. Temps sociaux et temps scolaire en Occident: Le brouillage des
frontières. in ST-JARRE, Carole et DUPUY-WALKER, Louise (sous ladirection de):
Regards multiples sur le temps, Sainte-Foy, PUQ, 2001, p. 43-58.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das
emergências. Revista Crítica das Ciências Sociais, n. 63, out. 2002. Disponível em: <
http://www.ces.fe.uc.pt/bss/documentos/sociologia%20das%20ausencias.pdf>. Acesso em 13
mar. 2004.
SANTOS, Milton. Técnica, Espaço, Tempo: globalização e meio técnico-científicoinformacional. 5.ed. São Paulo: EDUSP, 2008. 176 p.
SOUZA, Elizeu Clementino de. Pesquisa narrativa e escrita (auto) biográfica: interfaces
metodológicas e formativas. In: SOUZA, Elizeu Clementino, ABRAHÃO, Maria Helena
Menna Barreto (orgs.). Tempos narrativas e ficções: invenção de si. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2006. p. 135-147.
SOUZA, Elizeu Clementino de; PINHO, Ana Sueli e GALVÃO, Izabel. Culturas,
multisseriação e diversidade: entre narrativas de vida e experiências docentes cotidianas In:
FERRAÇO, Carlos Eduardo, PEREZ, Carmen Lúcia Vidal, OLIVEIRA, Inês Barbosa de
(Org.). Aprendizagens Cotidianas com a pesquisa: novas reflexões em pesquisa
nos/dos/com os cotidianos das escolas. Petrópolis - RJ: DP et Alii, 2008. p. 77-93.
SOUZA, Elizeu Clementino de; SOARES, Liane Figueiredo. Histórias de vida e abordagem
(auto) biográfica: pesquisa, ensino e formação. In: BIANCHETTI, Lucídio; MEKSENAS,
Paulo (Org.). A Trama do conhecimento: teoria, método e escrita em ciência e pesquisa.
Campinas, SP: Papirus, 2008. p. 191-204.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.
THOMPSON, E. P. Tempo, disciplina de trabalho e o capitalismo industrial. In: Costumes
em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras,
1998. p. 267-304.
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. A ruralidade no Brasil moderno: por um pacto
social pelo desenvolvimento rural. In: GIARRACA, N. (Comp.). Una nueva ruralidad in
America Latina? Buenos Aires: CLACSO/ASDI, 2001.
15