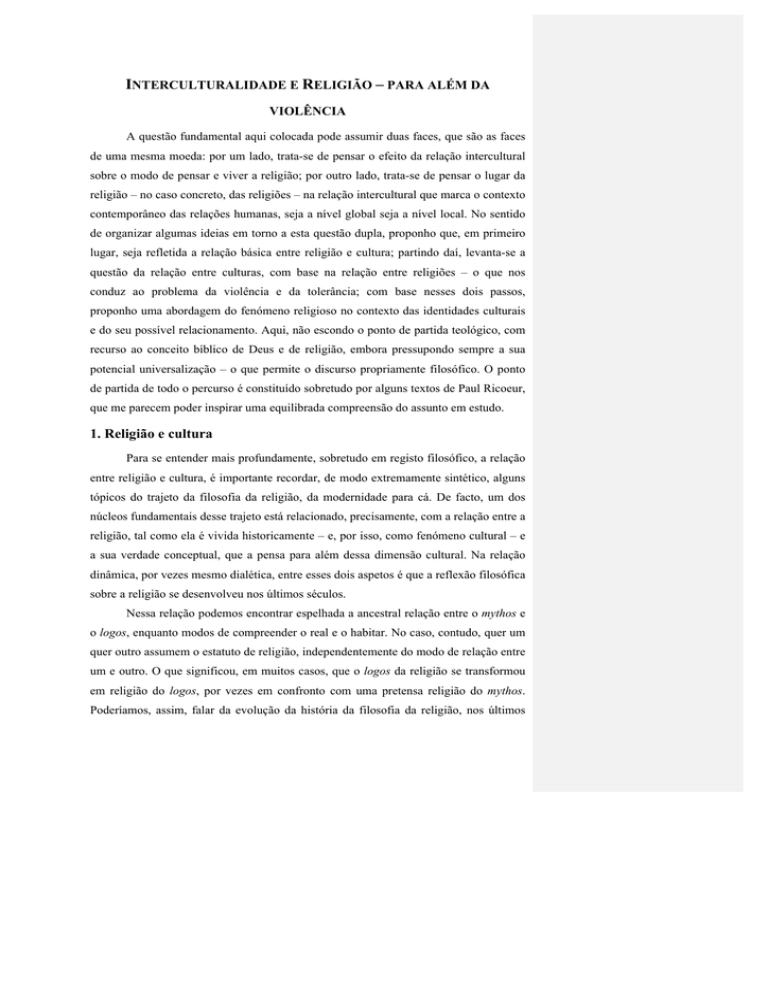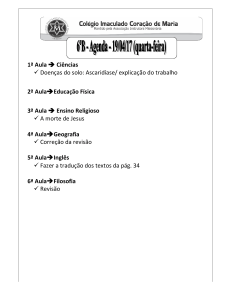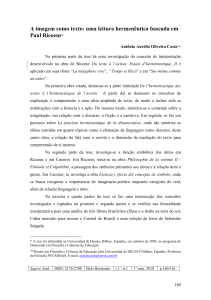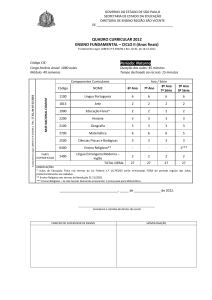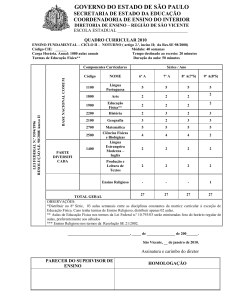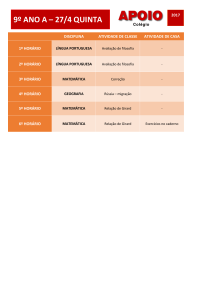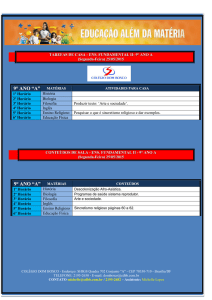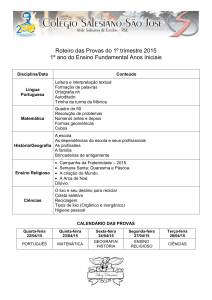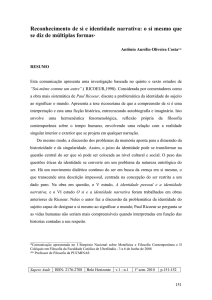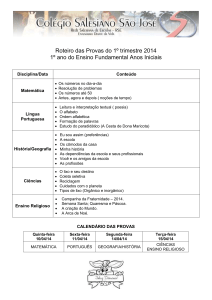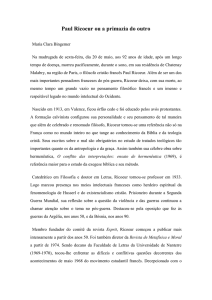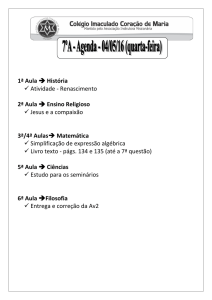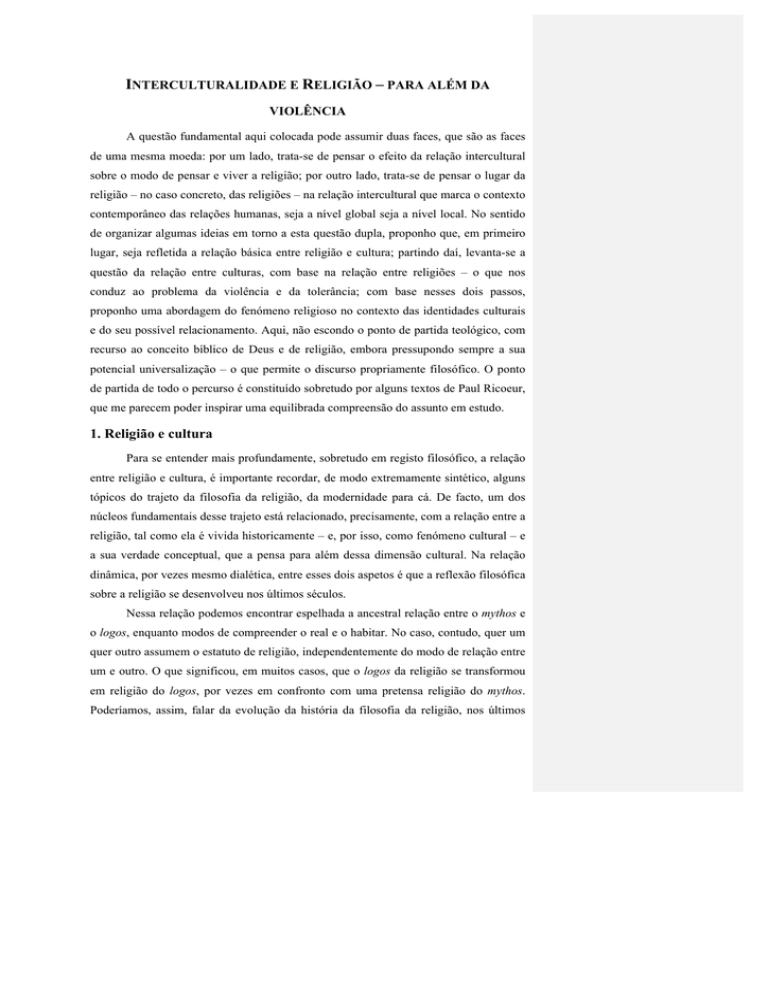
INTERCULTURALIDADE E RELIGIÃO – PARA ALÉM DA
VIOLÊNCIA
A questão fundamental aqui colocada pode assumir duas faces, que são as faces
de uma mesma moeda: por um lado, trata-se de pensar o efeito da relação intercultural
sobre o modo de pensar e viver a religião; por outro lado, trata-se de pensar o lugar da
religião – no caso concreto, das religiões – na relação intercultural que marca o contexto
contemporâneo das relações humanas, seja a nível global seja a nível local. No sentido
de organizar algumas ideias em torno a esta questão dupla, proponho que, em primeiro
lugar, seja refletida a relação básica entre religião e cultura; partindo daí, levanta-se a
questão da relação entre culturas, com base na relação entre religiões – o que nos
conduz ao problema da violência e da tolerância; com base nesses dois passos,
proponho uma abordagem do fenómeno religioso no contexto das identidades culturais
e do seu possível relacionamento. Aqui, não escondo o ponto de partida teológico, com
recurso ao conceito bíblico de Deus e de religião, embora pressupondo sempre a sua
potencial universalização – o que permite o discurso propriamente filosófico. O ponto
de partida de todo o percurso é constituído sobretudo por alguns textos de Paul Ricoeur,
que me parecem poder inspirar uma equilibrada compreensão do assunto em estudo.
1. Religião e cultura
Para se entender mais profundamente, sobretudo em registo filosófico, a relação
entre religião e cultura, é importante recordar, de modo extremamente sintético, alguns
tópicos do trajeto da filosofia da religião, da modernidade para cá. De facto, um dos
núcleos fundamentais desse trajeto está relacionado, precisamente, com a relação entre a
religião, tal como ela é vivida historicamente – e, por isso, como fenómeno cultural – e
a sua verdade conceptual, que a pensa para além dessa dimensão cultural. Na relação
dinâmica, por vezes mesmo dialética, entre esses dois aspetos é que a reflexão filosófica
sobre a religião se desenvolveu nos últimos séculos.
Nessa relação podemos encontrar espelhada a ancestral relação entre o mythos e
o logos, enquanto modos de compreender o real e o habitar. No caso, contudo, quer um
quer outro assumem o estatuto de religião, independentemente do modo de relação entre
um e outro. O que significou, em muitos casos, que o logos da religião se transformou
em religião do logos, por vezes em confronto com uma pretensa religião do mythos.
Poderíamos, assim, falar da evolução da história da filosofia da religião, nos últimos
séculos, como uma conjugação entre especulação (enquanto trabalho do logos) e
realidade histórica (enquanto articulação cultural do mythos).
Se é certo que só a partir de Kant é que se pode falar em filosofia da religião,
enquanto filosofia do fenómeno religioso, o certo é que o próprio Kant desenvolve a
mesma com base numa distinção dicotómica entre o fenómeno religioso histórico e uma
“religião nos limites da simples razão”1, a qual constitui, para ele, a única base viável
para uma autêntica filosofia da religião. Esse estilo «racional» de abordagem da
religião, que pretende compreender a sua verdade intrínseca, abstraindo das suas
realizações
históricas
concretas,
supera
qualquer
simplificação
funcionalista,
sociológica ou pragmatista da mesma – como foi grande parte das abordagens que
viriam a afirmar-se posteriormente. Num certo sentido, pergunta-se pela essência do
religioso, pressupondo que todas as realizações humanas, porque inseridas em contextos
que lhe atribuem outros tantos significados, ficam aquém dessa essência, pois acabam
por sucumbir ao interesse condicionado pelos sujeitos, no espaço e no tempo. O
problema inerente à posição de Kant – pelo menos tendencialmente, já que essa posição
se encontra muito diferenciada no texto kantiano2 – reside no facto de a sua base
dicotómica (entre racionalidade e historicidade da religião) não permitir pensar, em
última análise, o fenómeno religioso enquanto tal, e conduzir, paradigmaticamente, a
uma oposição irreconciliável entre, por assim dizer, uma religião filosófica e uma
religião teológica (considerada, no caso, como presa nas malhas da história e das
circunstâncias culturais de uma revelação concreta), destinando-se a segunda a
desaparecer, no contexto da Aufklärung.
Uma primeira fenomenologia da religião, em sentido rigoroso – isto é, que
pretende partir do fenómeno histórico da religião, enquanto articulado sempre
culturalmente – deve-se apenas a Hegel, cujo principal intuito era, precisamente, o de
superar a dicotomia entre religião histórica (do âmbito da Vorstellung, ou seja, da
representação ou melhor da figuração3) e religião da razão (do âmbito do Begriff, ou
seja, do conceito)4. Efetuada essa superação, já não faria sentido falar numa religião
«natural», pois toda a religião é sempre «positiva» por natureza. Mas, por outro lado e
1
2
3
4
Cf.: KANT, I. – Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Königsberg: Friedrich
Nocolovius, 1793.
Para uma leitura sintética, ver: DUQUE, J. – “Kant e a religião”. In Estudos (CADC) (2004).
Cf.: RICOEUR, P. – “Le statut de la «Vorstellung» dans la philosophie hégélienne de la religion”. In ID.
– Lectures 3. Paris: Seuil, 41-62.
Cf.: HEGEL, G. W. F. – Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Werke in 20 Bände. Frankfurt
a. M.: Suhrkamp, 1986.
Deleted:
segundo o sistema hegeliano, toda a religião positiva se encontra, já, a caminho do
conceito de si mesma e não é, portanto, apenas histórica. A positividade da
representação constitui o seu próprio conceito (a sua essência, se quisermos)5. E isso
torna-se mais evidente na religião absoluta, que é a religião da ideia de Deus, enquanto
reino do Pai, do Filho e do Espírito. O cristianismo seria, pois, a verdade da religião,
enquanto superação da positividade de todas as religiões na religião da absoluta ideia de
Deus – ou seja, no conceito da verdadeira religião.
Nesse sentido, a fenomenologia de Hegel, se bem que parta dos fenómenos na
sua positividade, não é uma fenomenologia qualquer, mas a “fenomenologia do
espírito”, isto é, a consideração do percurso histórico do próprio conceito, até se tornar
espírito absoluto. Como tal, a sua filosofia da religião não é, propriamente falando, uma
filosofia do fenómeno religioso enquanto tal, mas uma filosofia do caminho que leva da
figuração religiosa (discurso religioso, enquanto discurso figurativo e simbólico) ao
conceito
de
religião
(discurso
filosófico,
enquanto
discurso
especulativo).
“Compreender filosoficamente a religião é mostrar até que ponto ela já é especulativa,
permanecendo figurativa”6.
Mais uma vez, é importante salientar o papel dessa tematização metafísicotranscendental da religião, que alerta para a impossibilidade de “dissolver a tarefa de
«pensar a religião» na sua especificidade fenomenal numa simples epistemologia das
ciências humanas da religião”7. De qualquer modo, a tirania imposta pelo movimento
que leva da figuração ao conceito impede – pelo menos tendencialmente – de considerar
aquela como algo mais do que mero momento do percurso, abolido pela chegada ao
conceito. Correspondentemente, a fé cristã e a sua teologia (ainda figurativa) orientamse para a filosofia da religião (já especulativa), na qual se dissolvem.
A esse movimento especulativo contrapôs-se, de forma emblemática, a filosofia
hermenêutica – não apenas por oposição, mas por transformação. É Gadamer, um dos
patriarcas dessa filosofia, que o exprime, de modo insuperável “Mas, no carácter
linguístico (Sprachlichkeit) de todo o pensar, mantém-se a exigência, para todo o
pensamento, de uma direção contrária (Gegenrichtung), que retransfigura o conceito na
5
6
7
Cf.: RICOEUR – “Le statut”, 42: “É por isso que nada há de pejorativo na caracterização da religião
como intrinsecamente «positiva», e não natural ou racional”.
RICOEUR – “Le statut”, 43; Cf.: 44: “O modo especulativo não é extrínseco ao modo figurativo, mas
gera a dialética interna do próprio modo representativo. As representações religiosas não são
conteúdos inertes, mas processos atravessados por um dinamismo interno, orientado para o modo
especulativo”.
GREISCH, J. – “La métamorphose herméneutique de la philosophie de la religion”. In AAVV, Paul
Ricoeur. Métamorphoses de la raison heméneutique. Paris: Cerf, 1993, 311-336, 312.
palavra que une. Quanto mais radicalmente o pensamento objetivante se pensa a si
mesmo e desenvolve a experiência da dialética, mais claramente aponta para aquilo que
ele não é. A dialética tem que se retirar (zurücknehmen) para a hermenêutica”8. Essa
retirada – ou regresso – significa o caminho do conceito à figuração: no nosso contexto,
a transformação hermenêutica da filosofia da religião, que leva em consideração sempre
a sua articulação histórico-cultural.
Sobretudo influenciada pela fenomenologia da religião de Mircea Eliade, a
filosofia hermenêutica da religião, tal como é evocada – não propriamente desenvolvida
– por Paul Ricoeur, parte da articulação na linguagem e nos símbolos, não para conduzir
ao conceito, mas para se manter no constante jogo hermenêutico entre conceito e o
símbolo ou a linguagem. O conceito, sempre precedido por essas articulações de
sentido, pensa-as, sem as esgotar e, desse modo, reconduz a filosofia da religião à sua
dimensão figurativa. Não se trata, portanto, de uma afirmação da figuração, por
oposição ao conceito, mas de se manter no jogo entre figuração e especulação, sem que
qualquer uma cumpra definitivamente a outra.
Assumido esse estatuto cultural da religião – o que implicará sempre uma
espécie de estatuto religioso da cultura – pensar o seu lugar no dinamismo intercultural
implica, antes de mais, refletir sobre o potencial conflitivo dessa particularização
simbólico-cultural do religioso. Também aí, como se verá, a relação entre o símbolo
particular e o conceito universal poderá ser inspiradora.
2. Da violência à paz
Há algumas décadas já, Arnold Gehlen lançava uma afirmação sintomática:
“Que a religião volta a ser algo sério, notar-se-ia pelo menos com o aparecimento de
frontes de combate determinadas religiosamente”9. Ou seja, após a pretensa superação
moderna do religioso como origem de conflito, a presença desse mesmo religioso
manifesta-se como não superada e, ao mesmo tempo, de novo como potencial fonte de
conflito.
A violência entre os seres humanos ou destes em relação ao resto do mundo não
pode deixar de ser vista como um dos mais fundamentais enigmas da existência.
8
9
GADAMER, H.-G. – Die Idee der Hegelschen Logik. In ID. – Hegel, Husserl, Heidegger. Gesammelte
Werke 3, Tübingen, 1987, 65-86, 86.
GEHLEN, A. – “Religion und Umweltstabili-sierung”. In O. SCHATZ, O. [Ed.] – Hat die Religion
Zukunft?. Graz / Wien / Köln 1971, 96.
Enquanto manifestação do fenómeno do mal, partilha com ele essa condição
simultaneamente fundamental e enigmática10.
Ora, se a religião se situa também nesse âmbito fundamental e enigmático para o
ser humano, não admira que sempre se tenha encontrado na vizinhança do problema da
violência. Antes de tudo, evidentemente, como tentativa de domínio desse fenómeno
originalmente caótico e causador de caos, que ameaça a destruição do real, sobretudo a
destruição das relações inter-humanas.
1. Ninguém como René Girard terá analisado de forma tão vasta e fundamental
esta relação primordial entre religião e violência11. O primeiro grande pressuposto da
sua teoria é que a relação humana assenta primordialmente na violência, provocada pelo
desejo mimético, isto é, pelo desejo de imitar ou de ocupar o lugar do outro e de ter
aquilo que o outro tem. Se assim é, toda a relação humana estaria condenada ao
fracasso, à partida. No caos instaurado por esse desejo mimético total e indiferenciado,
não seria possível o surgimento de nenhuma comunidade humana – nem, por isso, a
sobrevivência da Humanidade. Essa sobrevivência dependerá, portanto, de um
mecanismo que controle esse caos primordial e sempre ameaçador, diferenciando assim
a relação de violência generalizada.
Girard encontra esse mecanismo no esquema do sacrifício expiatório, em que
um inocente carrega com a violência generalizada, sendo considerado culpado e
possibilitando, desse modo, que em relação a si se unam os membros de uma
comunidade. Ou seja, através da violência sobre um bode expiatório constrói-se a paz
entre o resto dos membros de uma sociedade, o que possibilita a convivência humana.
Toda e qualquer comunidade humana, superadora da violência, assentaria nesse
ato violento primordial, que é por isso considerado da ordem do sagrado. Segundo
Girard, todas as religiões se baseiam nessa violência contra a violência e só a
permanência e repetição ritual do esquema sacrificial originário é que permite a
superação da violência destruidora, provocada pelo desejo mimético.
10
11
Cf.: JDUQUE, J. – “O mal: Deus em questão (?)”. In Didaskalia 29 (1999) 301-334.
Para o que se segue, ver sobretudo a interessante síntese da sua vasta obra em GIRARD, R. – “Violence
et religion”. In Revista Portuguesa de Filosofia 56 (2000) 3-10.
2. Paul Ricoeur12, por seu turno, partindo embora de Girard mas seguindo um
caminho algo diverso, situa a relação entre religião e violência a um nível que me
parece mais próximo do cerne do religioso do que a sua fundamentação no esquema do
sacrifício, segundo Girard. Para este, tudo se situa no nível sociológico ou quando muito
psíquico da construção do ligame social, reduzindo-se a religião a essa função e a esse
processo imanente de construção da sociedade humana. Para Ricoeur, de modo
diferente, o elemento fundamental da religião é precisamente a desproporção entre o
“excesso do fundamento... e a minha capacidade finita de acolhimento, de receção, de
apropriação, de aculturação”13; ou seja, o núcleo do fenómeno religioso reside numa
relação dialética ou tensional entre estes dois elementos, tal como têm sido tematizados
precisamente pela transformação moderna e contemporânea da filosofia da religião.
Ora, o excesso manifesto nessa tensão pode surgir como uma ameaça para aquilo que eu
sou, no meu grupo ou na minha cultura finita. Ou seja, a identidade pessoal e coletiva,
sendo sempre particular e por isso finita, sente-se ameaçada por uma referência infinita,
que a excede e que a impede de dominar o real, no seu fundamento. “É pois em mim
mesmo que experimento essa desproporção que existe entre a minha capacidade finita
de adesão e o reconhecimento de algo fundamental que sempre me excede e, pelo seu
excesso, me ameaça, o que me faz sofrer. A violência torna-se, então, uma tentativa de
proteção contra o perigo de desenraizamento, de cuja ameaça iminente surdamente me
apercebo”14. A violência aparece então como proteção contra esse excesso, em todas as
suas manifestações possíveis, sobretudo naquelas manifestações concretas em que nos
sentimos ameaçados pela diferença de outras identidades pessoais ou coletivas. “Todas
as outras comunidades históricas que se reclamam de um mesmo transcendente, mas
nos termos de uma outra confissão, aparecem como rivais na luta pela apropriação do
Ser, do Outro absoluto, tratado como um mesmo, a possuir com exclusão dos outros”15.
Lendo este mecanismo à luz da sua origem primeira, poder-se-ia então dizer: “O
excesso de ser converte-se em ter, objeto do desejo de apropriação, projetando nas
outras comunidades o mesmo gesto de apropriação-expropriação por rivalidade que se
prolonga até mesmo no processo de acolhimento”16.
12
13
14
15
16
Ver, sobretudo: RICOEUR, P. – “A religião e a violência”. In: Revista Portuguesa de Filosofia 56
(2000), 25-35.
RICOEUR, P. – “A religião”, 28.
RICOEUR, P. – “A religião”, 29.
RICOEUR, P. – “A religião”, 33.
RICOEUR, P. – “A religião”, 34. É essa uma das leituras interessantes que Ricoeur faz da tese de René
Girard, sobre o carácter violento do sagrado.
A transformação do sentimento de excesso em relação ao fundamento
transcendente da nossa finitude humana em motivo de violência contra esse excesso, tal
como surge nas suas manifestações concretas através das diferenças de outros em
relação a mim ou ao meu contexto cultural – isto é, na transformação da relação entre
culturas em choque de culturas – dá-se, segundo Ricoeur, através de um mecanismo
semelhante ao descrito por Girard. De facto, a reação violenta ao excesso do
fundamento dá-se, na medida em que se cria uma comunidade de acolhimento que se
apodera – ou pretende apoderar-se – de modo finito, desse infinito fundamental. Ao
constituir-se essa comunidade, os seus membros reconciliam-se entre si, superando o
potencial conflitivo do seu desejo mimético (como básico potencial de violência interhumana) através da defesa contra um terceiro (transcendente), de que pretendem tomar
posse, ou que pretendem controlar.
Mas, ao pretender tomar posse do fundamento transcendente, uma comunidade
insere-se no leque de todas as comunidades que também pretendem apropriar-se do
mesmo, as quais surgem assim como rivais nesse processo de apropriação finita do
fundamento infinito. Daí resulta, sem dúvida, uma atitude de violência entre formas
diferentes de pretensa apropriação do infinito, enquanto manifestações da tensão
primordial entre finitude humana e infinitude do fundamento. É o que podemos verificar
através do conflito de convicções ou dogmáticas religiosas.
Claro que, como o próprio Ricoeur reconhece, o cerne da religião poderá ser
concebido de forma diferente, como anterior a essa manifestação humana de reação
violenta ao excesso, mesmo que esta se encontre muito expandida. Basta conceber o
excesso do fundamento não como ameaça, mas como precisamente o seu contrário, o
que corresponderá mais à sua verdade. “Ora, porquê perceber aquilo que funda como
uma ameaça e não como gratuidade e generosidade? É isso que ele é,
fundamentalmente. Não é a projeção do nosso desejo de apropriação sobre a própria
origem da nossa convocação ao ser que transforma em ameaça aquilo que não é senão
doação, alargamento da minha capacidade de acolhimento?”17
Assim, a referência ao transcendente resultaria em acolhimento de um dom
gratuito e não em defesa contra uma ameaça, que se prolongaria em violência contra
todo o diferente, o outro. Ou seja, mesmo a este nível profundo e primordial –
ontológico, poderíamos dizer – de relação entre religião e violência, é possível pensar a
17
RICOEUR, P. – “A religião”, 34.
atitude religiosa como superação, na sua raiz originária, de todo o tipo de violência,
mesmo que em muitas manifestações concretas do fenómeno religioso se tenha seguido
o caminho precisamente inverso.
3. Ora, a referência a um único fundamento divino do mundo, como dádiva
gratuita, evoca a questão do monoteísmo, que nos conduz de novo ao problema da
violência intercultural. O filósofo alemão Odo Marquard, numa análise do percurso da
sociedade ocidental e das suas referências orientadoras (a que poderíamos chamar
«mitos»), escreveu sem rodeios: “Perigoso é sempre e pelo menos o mono-mito; sem
perigo, pelo contrário, são os poli-mitos... Quem participa – através da vida e da
narrativa – em muitas histórias, possui liberdade, através da respetiva história, em
relação à outra e vice-versa... Quem participa... apenas numa história, não possui essa
liberdade. Está totalmente... obcecado com ela”18.
Consequência direta dessa obsessão seria, então e como vimos, uma atitude
violenta: primeiro, em relação à própria origem transcendente, pretensamente
manipulada no «mito»; depois e como consequência, em relação a todos os que
possuem «mitos» diferentes. A ameaça do Outro (divino) seria transposta para a ameaça
do outro (humano), resultando disso um processo de confronto concorrencial e
destruidor.
Uma dessas tentativas «violentas» seria a do próprio conceito: quer enquanto
conceito de Deus (ou de Infinito), que pretende captar Deus na ideia, violentando a sua
transcendência; quer enquanto referência conceptual de tudo e de todos a esse conceito,
violentando a pluralidade da sua diferença. Sendo assim, parece haver, de facto, uma
relação entre a «metafísica» (conceptual ou «onto-teológica»), o monoteísmo (como
metafísica do conceito/Deus único, fundador e transcendente) e a violência.
Esta, por seu turno, não se fica pela relação a Deus, enquanto violência sobre o
transcendente, manipulado em conceitos (doutrina) e, por extensão (ou ainda antes), em
ritos e normas de conduta; o prolongamento direto desta atitude violenta primeira é a
violência sobre os outros, que se referem a Deus de modo diferente.
18
MARQUARD, O. – “Lob des Polytheismus”. In HÖHN, H.-J. (Ed.), Krise der Immanenz. Frankfurt a. M.:
Fischer, 1996, 154-173, aqui 158-159; Cf.: METZ, J. B. – “Religion und Politik auf dem Boden der
Moderne”. In Ibidem, 265-279, 265: “O monoteísmo é visto, na maioria dos casos, como fonte de
legitimação de um pensamento de soberania pré-democrático e inimigo da separação de poderes,
como raiz de um patriarcalismo obsoleto e como inspirador de fundamentalismos políticos”.
Para além disso, esse ponto de partida terá levado, mesmo, a uma atitude
violenta em relação à história e à sua pluralidade, reduzindo-a à identidade de um único
percurso. E teria sido, segundo estas leituras, precisamente o monoteísmo – judaico,
cristão ou islâmico – o impulsionador dessa redução monomítica. Nietzsche leu o
conceito de Deus do ocidente judeo-cristão precisamente como unidade estática e
aniquiladora do real, no sentido de um irónico «mono-tono-teísmo»19, como princípio
de “uniformização homogénea”20. A sua proposta de politeísmo dionisíaco pretende
recuperar a diversidade da vida – e das suas histórias fragmentárias – como
manifestação da própria divindade pluriforme, enquanto “exuberância vital”21.
Assim se compreende genealogicamente que, como reação ao monoteísmo
(pretensamente) de pretensão totalizante, a cultura «pós-moderna» esteja claramente
dominada pela derrocada de todas as referências universais unitárias. Essa pluralidade,
assumida como tal na sua positividade e no seu valor incontornável, tem as suas
repercussões sobre o conceito de Deus e de religião, e sobre todas as conceções que daí
advêm. Numa vertente mais «a-teísta», prescinde totalmente do próprio conceito de
Deus, enquanto referência unitária da realidade – nessa sua função fundamentadora para
todo o real (metafísica) considera-se que «Deus morreu». Ficou apenas o real, na sua
multiplicidade ou diferença, sem fundamentação universal primeira e última, por isso
única e una. Noutra vertente mais «religiosa», a pós-modernidade abandona o conceito
monoteísta de Deus em favor de uma visão politeísta da divindade, quer recuperando o
politeísmo antigo, quer inventando novas formas de politeísmo, numa nebulosa
religiosa pouco definível que, como se viu acima, diviniza cada vez mais sobretudo
forças cósmicas, ou então forças sociais ou culturais (como acontece com a
contextualização cultural extrema), ou ainda os sistemas que comandam atualmente a
relação ao real. Por tudo isso, no contexto do «império do fragmento», o problema da
relação entre conceção monoteísta e conceção politeísta de Deus agudiza-se e exige uma
abordagem cuidada. Sobretudo porque se potencia o conflito entre os indivíduos (desde
a luta competitiva, até ao confronto violento mais extremo), ou então entre os contextos,
que pode assumir mesmo o aspeto de conflito cultural ou até de «guerra de
civilizações»22.
19
20
21
22
NIETZSCHE, F. – O Anti-Cristo, nº 19.
CURA ELENA, S. DEL – “El Dios único: critica y apologia del monoteismo trinitário”. In Burgense 37
(1996) 65-92, 68.
CURA ELENA, S. DEL – “El Dios”, 69.
HUNTINGTON, S. – El choque de civilizaciones. Barcelona: Paidos, 1997.
Ora, o chamado «novo politeísmo», de que anteriormente se traçaram já algumas
características e que é o objeto central do «louvor» de Marquard, encontra-se nesta
sequência. Implica a «morte de Deus», enquanto princípio único, unificador e
dominador universal, que teria levado ao imperialismo e à tirania social, por oposição à
tolerância da pluralidade. Também a possibilidade de referência a uma verdade absoluta
e, por isso, unificadora foi posta de parte. O próprio sujeito se encontra marcado pela lei
da fragmentarização, já que não possui um centro de identidade bem determinável. Até
o pluralismo religioso atual, com o correspondente diálogo inter-religioso, parece
abonar em favor de uma visão politeísta do real. Os deuses seriam “expressão dos
modelos plurais da nossa existência”23, irredutíveis a um único modelo supremo,
universalmente válido.
De facto, também o novo «regresso do sagrado» ou dos «deuses» parece situarse nesta linha politeísta. O monoteísmo é considerado perigoso e o politeísmo
proveitoso para a nossa existência pessoal e social. A pluralidade de mitos superaria a
unicidade do mito de um só Deus e de uma só «história da salvação» (judeo-cristã,
marxista ou do progresso científico-técnico). Existiria, eventualmente, uma identidade
entre a visão monolítica da divindade e a visão totalitária da história e da sociedade,
com as consequências repressoras da intolerância do diferente. O «fim da história»
única, unificada pelo seu sentido ou finalidade (telos, enquanto parusia ou manifestação
– apocalipse – da sua verdade) será, então, uma segunda manifestação da «morte» do
Deus único.
Ora, ao iniciar qualquer análise crítica desta situação, convém ter em conta que
já os deuses da mitologia grega não eram pessoas individuais, mas poderes mais ou
menos personificados nessas figuras, poderes esses constituintes do cosmos, da
natureza, da sociedade, manifestando forças em interação – na maioria das vezes
conflituosa. “As mitologias apresentam, em forma de narrativas, as relações de união e
de luta, entre o dia e a noite, a terra e os oceanos, o amor e o ciúme que persegue, etc. O
divino não é realmente o Outro”24.
Nesse sentido, o politeísmo identifica-se, em última análise, com uma visão
panteísta da realidade, já que, pelo menos potencialmente, todos os elementos do mundo
podem ser considerados deuses (ou divinos, o que é o mesmo, numa visão impessoal).
Mas, onde tudo é (potencialmente) «deus», nada o é, em particular; o que significa que,
23
24
CURA ELENA, S. DEL – “El Dios”, 72.
VERGOTE, A. – Modernité et Christianisme. Paris: Cerf, 1999, 17.
no mesmo movimento em que nos aproximamos do panteísmo, podemos também
considerar o politeísmo como uma forma velada – sub contrario – de ateísmo. Uma
conceção impessoal de «deus» resulta, não apenas numa conceção impessoal do ser
humano, mas também numa dissolução do mesmo em forças panteístas ou num ateísmo
completo. De facto, de uma conceção não pessoal de Deus resulta a necessária ausência
de relação verdadeira – isto é, inter-pessoal – entre Deus e o ser humano, o que não
permite pensar o ser humano, quanto à sua origem ou verdade mais profunda, como ser
de relação – isto é, como pessoa livre e responsável.
Mas, se um reverso da medalha implica a anulação da mais profunda liberdade
do ser humano, que resulta do seu carácter originariamente relacional, o outro reverso é
a anulação da liberdade de Deus, isto é, da sua transcendência e da impossibilidade de
manipulação ou posse, por parte do ser humano. Nesse contexto, os deuses passam a ser
funcionalizados, em ordem à realização de desejos humanos, como mecanismo
compensatório de todos os desejos irrealizados por outros modos mais «naturais» ou
imanentes. É nesse contexto que se enquadraria a utilidade social e individual dos mitos,
no sentido politeísta e pagão do termo.
Mas, se os deuses são usados em função dos desejos individuais dos seres
humanos, não admira que, mitologicamente, esses mesmos deuses sejam inseridos num
processo originaria e constantemente marcado pela luta entre eles. Do politeísmo
resulta, por isso, uma ontologia que assenta na visão agonística do real e do ser humano
(social e psiquicamente considerado). A violência é, assim, assumida como o dado mais
originário do ser humano, a marca da sua natureza, representada nos deuses a que se
refere ou que funcionaliza, à sua «imagem e semelhança».
A pluralidade do real, com todas as suas diferenças irredutíveis a uma identidade
originária ou final, que parece ser assegurada pelo politeísmo e anulada pelo
monoteísmo, acaba por conduzir, paradoxalmente, a uma visão da diferença como
princípio de violência e de relação não conciliadora. Defender ou, pelo menos, aceitar a
diferença e a pluralidade significa, mais uma vez e segundo essa visão politeísta, aceitar
o conflito e a violência como dado primeiro e último, por isso mesmo insuperável em
qualquer forma de reconciliação, seja ela positiva ou negativa25.
Começa, assim, a pressentir-se que a referência religiosa a uma única origem e a
um único fim – monoteísmo em sentido mais vasto – pode não ter consequências
25
Cf.: MILBANK, J. – Theology and Social Theory. Oxford 1990, esp. Cap. 10 («Ontological violence or
the postmodern problematic»).
violentas. Pode mesmo conduzir ao contrário. Aliás, se essa referência for autêntica,
conduzirá mesmo à única superação possível da violência, na sua raiz mais
fundamental. Ou seja, o recurso a um fundamento transcendente, uno e único, poderá
constituir a base para o acolhimento do ser como doação, o que implica o acolhimento
do outro, em solidariedade profunda e positivamente, e não em rivalidade de posse.
3. Identidade e relação
1. A questão do monoteísmo, como referência religiosa – em alguns casos, como
alternativa a certo «espírito religioso» problemático – é o cerne da proposta do teólogo
alemão Johann Baptist Metz. Penso ser possível recorrer a essa proposta teológica, para
podermos avançar com uma leitura do contributo da religião para a relação inter-cultural
que supere o potencial de violência latente e possa contribuir para a construção de uma
relação mais humanizante e pacificadora.
Antes de mais, é importante ter em conta que, quando Metz fala de religião, não
fala propriamente do fenómeno religioso em geral (num sentido quase kantiano), muito
menos de manifestações religiosas diversas contemporâneas, ao estilo da sociologia.
Aliás, é conhecida a posição crítica deste teólogo em relação à religiosidade difusa que
marca a sociedades atuais26. Segundo ele, a religião de que se fala aqui é a “religião
cristã, com um núcleo monoteísta ainda não completamente esmagado”27. Ou seja, em
realidade refere-se ao teológico, enquanto possível essência do religioso, precisamente
por ter como cerne a referência a um determinado conceito de Deus, no qual se baseia a
experiência política e cultural do sujeito crente. E Metz reconhece que é precisamente
esse monoteísmo o que mais dificuldades teve com a modernidade – ou vice-versa. O
que pode ser confirmado pela breve análise da discussão em torno à relação entre
monoteísmo e violência.
Por seu turno, a proposta de Metz baseia-se numa releitura da racionalidade
moderna, que vai além da racionalidade meramente instrumental, mesmo da
racionalidade discursivo-comunicativa: trata-se da racionalidade anamnética, baseada na
categoria da memória, a qual, por seu turno, corresponde ao denominado «apriori do
26
27
“Religião como nome para o sonho de felicidade isenta de sofrimento, como encantamento mítico da
alma, como presunção psicológico-estética de inocência para o ser humano: sim. Mas Deus, o Deus de
Abraão, de Isaac e de Jacob, o deus de Jesus…? […] Que aconteceu com Deus?”: METZ, J. B. –
Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft. Freiburg:Herder,
2006, 71.
METZ, J. B. – “Religion und Politik”, 265.
sofrimento» (Leidensapriori), ou seja, ao critério da autoridade do sofrimento do outro
inocente. Segundo ele, este “apriori do sofrimento orienta o discurso político em tempos
de incerteza”28. Ao mesmo tempo que é a recuperação de uma categoria e uma
orientação originada pela tradição judaico-cristã – por isso com recurso religioso e
mesmo especificamente teológico – permanece conciliável com a modernidade, na
medida em que pode ser assumida como uma categoria da razão humana
universalizável. A base dessa universalização é o próprio monoteísmo bíblico – que
Metz considera um monoteísmo pático, porque sensível ao sofrimento – e a máxima, daí
derivada, da autoridade do sofredor. Neste horizonte, “a resistência ao sofrimento é
absolutamente exigida”29.
Ao mesmo tempo que se salvaguarda este universalismo da pertinência política e
cultural do religioso, quanto à própria fundamentação última do político, tratando-se
aqui da categoria da memória, torna-se evidente que o trabalho dessa fundamentação
não é possível sem o recurso a uma tradição, sobretudo articulada narrativamente. Essa
fonte permite a superação do maior problema contemporâneo, talvez aquele que mais
fortemente coloca em questão a capacidade de fundamentação do político e do cultural:
precisamente o individualismo extremo. A pergunta de Metz é incisiva: “Como
podemos compreender um indivíduo que se recusa a acreditar em tradições que, por seu
turno, acreditam [fundamentam] o indivíduo?”30
Ora, o conteúdo de uma tradição é o recurso para enfrentar os aprioris do
horizonte de sentido numa cultura da modernidade tardia, nos quais sobressai o apriori
do mercado. Não poderá, nesse sentido, a dimensão religiosa ajudar o político a libertarse da ditadura do económico, possibilitando a concentração numa ética do humano
como forma pragmática de existência socio-cultural e de organização do poder? E, ao
mesmo tempo, não será essa pragmática político-cultural o modo de realização da
salvação prometida e oferecida em Jesus Cristo, por isso elemento fundamental da
soteriologia cristã, enquanto base de um modo religioso de habitar o mundo?
2. A referência ao Deus bíblico, tal como é apresentada por Metz como base de
uma universalização do religioso, implica a concentração na identidade judaico-cristã,
como identidade religiosa e cultural, ao mesmo tempo, superando ambas na sua estrita
28
METZ, J. B. – “Religion und Politik”, 271.
METZ, J. B. – “Religion und Politik”, 273.
30
METZ, J. B. – “Religion und Politik”, 276.
29
imanência, precisamente pela referência a Deus. Ora – pensando agora para além de
Metz, que permanece estritamente monoteísta – essa identidade radica na mais profunda
diferença marcante da identidade cristã: a diferença trinitária. Aí articula-se uma relação
primordial entre identidade e diferença, que poderá ser fértil na compreensão da
pertinência inter-cultural da religião, pois essa pertinência medir-se-á sempre pela
capacidade de articulação pacífica entre identidade e diferença.
Ora, segundo a teologia cristã, a diferença entre Pai, Filho e Espírito constitui o
cerne do conceito cristão de Deus e constitui, simultaneamente, o modelo de
compreensão cristã da realidade – proposta, contudo, universalmente, e não apenas aos
cristãos. E porque essa diferença é relacional, o Deus cristão é «relativo» em si mesmo,
consistindo nisso a sua verdade absoluta e a verdade absoluta do cristianismo também.
Ser relativo significa, na sua raiz, viver a partir do outro e para o outro diferente, sem
anular a sua diferença. Isso implica, precisamente, o descentramento de si, como forma
de identidade, em vez de a afirmação de si.
A diferença, que implica o acolhimento positivo do excesso presente na
alteridade do outro que não é como eu, constitui então o núcleo da religião cristã: a
identidade da revelação bíblica reside, precisamente, na afirmação constante do valor
primordial dessa diferença. Isso é a sua verdade absoluta, critério de auto-crítica, para si
e também para as outras religiões. Aí se situam, também, os limites da tolerância, por
parte do cristianismo, em relação a outras tradições (já que não se pode tolerar o
intolerável, isto é, tudo e todo o que não tolera a diferença presente na alteridade do
outro, pessoal ou coletivo).
Com base nestes elementos fundamentais da identidade cristã – com os seus
antecedentes judaicos, sem dúvida, e potencialmente universalizáveis – podemos
considerar que o cerne do cristianismo, enquanto religião, reside na conceção da sua
relação aos outros como doação de si, e não como conquista dos outros para si. A
kenosis, enquanto entrega de si mesmo pelos outros e constituinte da identidade cristã,
pode ser assumida como futuro de todos os seres humanos, como salvação universal.
Claro que as formas concretas de percorrer esse caminho podem – e devem – divergir,
conforme as diferentes tradições e pertenças. Mas o caminho é comum, porque é o
caminho da concreta e absoluta aceitação dessas divergências. O «ser-para-outro» – em
vez do «ser-em-função-de-si-mesmo» – constitui, então a identidade do cristão, que
pretende ser a manifestação da identidade de todo o ser humano, como correspondência
àquilo que é o próprio Deus, em si mesmo. «Ser-para» que se manifesta, por seu turno,
em várias dimensões: Ser para Deus / ser para as nações (judaísmo); ser para o Pai (no
Filho, pelo Espírito) / ser para o próximo (cristianismo). A identidade cristã – potencial
base para toda a compreensão da religião e da sua relação à cultura – pode, assim, ser
definida como «ex-centricidade», e não como eventual «ex-clusividade» resultante da
«com-centração» em si mesmo.
Ora, parece-me que este «conceito» cristão de religião, incarnado – embora de
modo falível e muitas vezes desadequado – em realizações culturais e históricas, pode
ser apresentado beneficamente como desafio à compreensão da relação entre religião e
cultura, no contexto da inter-culturalidade.
Resumo: Depois de apresentar a inseparável relação entre religião e cultura, com
base numa abordagem hermenêutica da filosofia da religião, focaliza-se a questão no
topos da relação entre religião e violência, com recurso às leitura de Girard, Ricoeur e
Marquard. Ao contrário do que muitas propostas defendem, considera-se o potencial do
monoteísmo como superador de violência. Nesse contexto, o conceito cristão de Deus,
baseado na originária articulação da identidade com a relação, é considerado como
caminho religioso para a superação da violência – também no âmbito da relação intercultural.
Palavras-chave: Filosofia da religião, monoteísmo, violência, cultura, relação