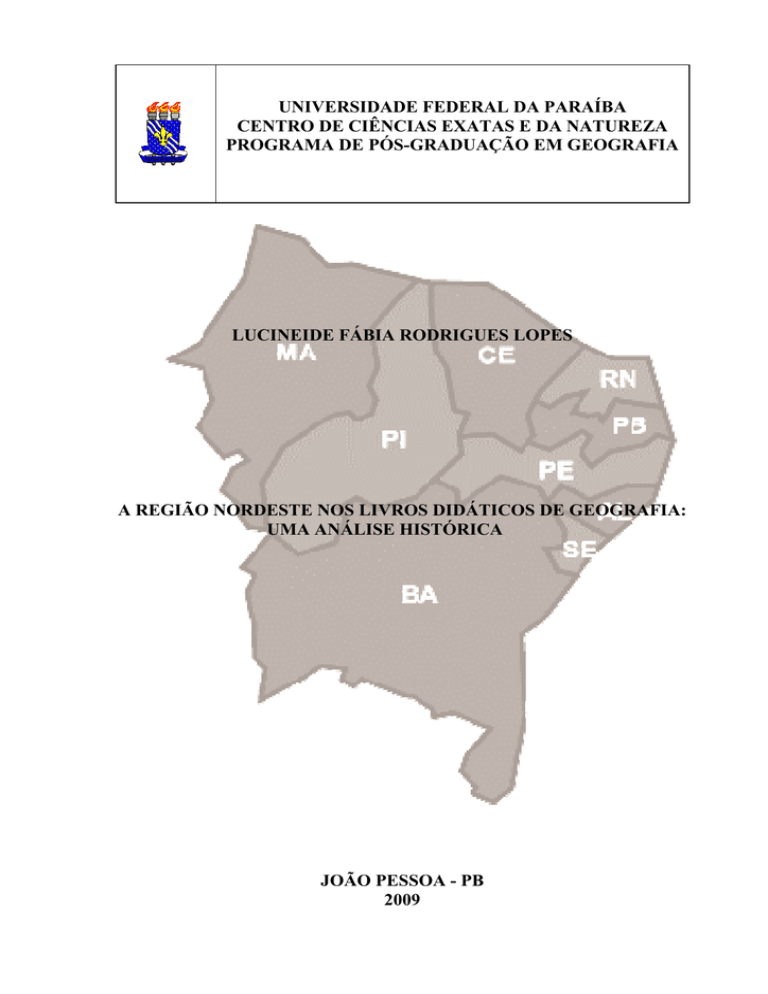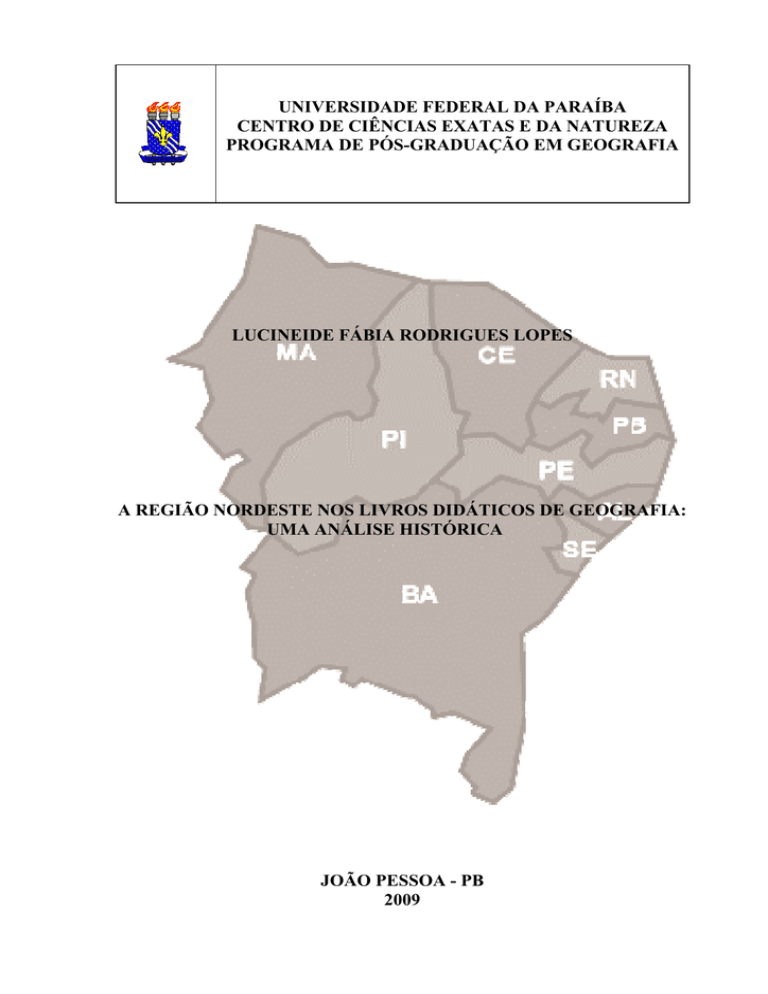
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
LUCINEIDE FÁBIA RODRIGUES LOPES
A REGIÃO NORDESTE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA:
UMA ANÁLISE HISTÓRICA
JOÃO PESSOA - PB
2009
1
LUCINEIDE FÁBIA RODRIGUES LOPES
A REGIÃO NORDESTE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA:
UMA ANÁLISE HISTÓRICA
Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Geografia – PPGG, da
Universidade Federal da Paraíba – UFPB, como
requisito parcial à obtenção do grau de Mestre.
Orientadora: Maria Adailza Martins de Albuquerque
JOÃO PESSOA – PB
2009
2
L864r
Lopes, Lucineide Fábia Rodrigues.
A Região Nordeste nos livros didáticos de geografia: uma análise histórica /
Lucineide Fábia Rodrigues Lopes . - - João Pessoa: [s.n.], 2009.
139 f. : il.
Orientadora: Maria Adailza Martins de Albuquerque.
Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCEN.
1.Geografia. 2.Ensino de Geografia. 3.Livro didático Geografia . 4.Região Nordeste.
UFPB/BC
CDU: 91(043)
3
4
Dedico este trabalho à minha mãe Valnete que me
ensinou que o melhor ensino/aprendizado da família
é o amor.
5
AGRADECIMENTOS
À professora Maria Adailza Martins de Albuquerque (Dadá), nada do que aqui escrevi
teria sido possível não fosse seu compromisso com a nossa ciência.
Ao professor Anieres e à professora Ariane, examinadores da qualificação, pelas
acuradas contribuições à produção deste trabalho.
A todos os professores e a todas as professoras do Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Universidade Federal da Paraíba.
Às minhas queridas sete irmãs: Lúcia, Leda, Lediam Laís, Lígda, Leandra e Liliana,
pelas palavras de ânimo e coragem que a mim sempre foram dirigidas.
A minha tia “Quinha”.
Aos meus filhos Lucas e Jeanpierre.
Ao meu esposo Miguel.
À minha amiga Lúcia.
A Sônia (secretária do PPGG-UFPB).
6
RESUMO
O objetivo desta dissertação é investigar a relação entre os saberes escolares e os acadêmicos.
O cotidiano do trabalho e a forma como as descobertas e/ou revisões de assuntos científicos
são divulgados, principalmente pela mídia e pela indústria cultural, associam quase sempre os
conteúdos a ser ensinados nas escolas com a produção acadêmica, resultando daí uma visão
hierárquica. Neste trabalho nos aproximamos de uma corrente teórica, a história das
disciplinas escolares, que advoga uma relação não hierárquica entre a produção do
conhecimento escolar e acadêmico, tendo em vista que compreende a escola como espaço de
produção do saber escolar. Para atingir o referido objetivo analisamos três livros didáticos:
Geographia do Brasil (1927), de Delgado de Carvalho, Geografia do Brasil (1958), de
Aroldo de Azevedo e Geografia Crítica, o espaço social e o espaço brasileiro (2006), de José
William Vesentini e Vânia Vlach, à luz da história das disciplinas escolares. Nessa
perspectiva buscamos compreender como o conteúdo: Região Nordeste é apresentado nos
referidas obras. É certo que o livro didático não responde sozinho pelo ensino, cujas relações
se condicionam em uma série complexa de fatores, porém, sua discussão acompanha as
práticas educacionais da escola. Desse modo, trabalhamos com esse recurso didático de forma
a tentar compreender a sua contribuição para a história da disciplina escolar Geografia. Um
diálogo com diversos autores sobre a categoria geográfica região é apresentado para tentar
sistematizar como é que essa se constituiu no campo da Geografia. Neste trabalho, o que é
mais fundamental é analisar como a região é tratada na Geografia Escolar e como se dá a
relação com estes autores. Com a análise dos livros didáticos citados pretendemos contribuir
com a história do pensamento e das práticas educacionais. Pois acreditamos que conteúdos
reveladores de representações e valores predominantes num certo período de uma sociedade
que, simultaneamente à historiografia da educação e da teoria da história, permitem rediscutir
intenções e projetos de construção e de formação social. O livro didático e a educação formal
não estão deslocados do contexto político e cultural e das relações de dominação, sendo,
muitas vezes, instrumentos utilizados na legitimação de sistemas de poder. Por serem
representativos de universos culturais específicos, atuam, na verdade, como mediadores entre
concepções e práticas políticas e culturais, tornando-se parte importante na engrenagem de
manutenção de determinadas visões de mundo.
Palavras-chaves: Livro didático. Ensino de Geografia. Região. Região Nordeste.
7
ABSTRACT
The objective of this study is to investigate the relationship between school knowledge and
academic knowledge. Everyday work and the way the findings and revisions of scientific
subjects are published, mainly the Press and cultural industry, almost always associate the
academic production to the contents to be taught at school leading thus, to a hierarchical
vision. This work follows as a theoretical approach the history of the school subjects since it
advocates a hierarchical relationship between school knowledge and academic knowledge. It
also assumes school as a place of production of scholastic achievements. In order to attain our
goal the following books were analised GEOGRAPHIA DO BRASIL (1927) by Delgado de
Carvalho, GEOGRAFIA DO BRASIL ( 1958) by Aroldo de Azevedo e GEOGRAFIA
CRÍTICA, O ESPAÇO SOCIAL E O ESPAÇO BRASILEIRO (2006) by José William
Vesentini e Vânia Vlach, whose approach is the history of school subjects. Seen from this
perspective, we try to understand the way the content North-east region is presented in the
referred works. It is understandable that the didactic book is not by itself responsible for
schooling, whose relationship depends upon a series of complex factors, however, its
discussion follow the school educational practices. As such, we worked these didactic
resources so as to understand their contribution for the history of Geography as school
subject. A dialogue with various authors about region as geographical category is presented in
order to systematize how it was constituted in the field of Geography. In this work the
fundamental aspect is to analyze how region is treated in Geography at school and how this
relation is connected. By analyzing the referred didactic books we intend to contribute to the
history of thinking and educational practices and experiences. Thus, we believe that revealing
contents of representations and predominant values in a certain period of a society allow us
discuss anew intentions and projects of construction and social formation. The didactic book
and formal education are not out of political and cultural contexts as well as domineering
relations being, many times, useful instruments for legitimizing systems of power. Due to the
fact that they are representative of specific cultural universe, they play, actually, the role of
mediators between concepts and political and cultural practices turning themselves important
parts in the mechanism of maintenance of determined views of the world.
Keywords: Didactic books. Geography teaching. Region. North-east region.
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 01: Foto da contracapa do livro Geografhia do Brasil, Delgado de Carvalho,
1927 ................................................................................................................................
40
Figura 02: Foto da nota preliminar do livro Geografhia do Brasil, Delgado de
Carvalho, 1927 ...............................................................................................................
40
Figura 03: Foto da página 274-275 do livro Geografhia do Brasil, Delgado de
Carvalho, 1927 ...............................................................................................................
41
Figura 04: Foto da capa do livro Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo, 1958 .........
70
Figura 05: Foto com o número de exemplar do Livro Geografia do Brasil, Aroldo de
Azevedo, 1958 ................................................................................................................
71
Figura 06: Foto da capa do livro Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo, 1958 .........
72
Figura 07: Foto da página 17 do livro Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo, 1958
72
Figura 08: Foto da página 183 do livro Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo,
1958 ................................................................................................................................
73
Figura 09: Foto do homem brasileiro (p. 91) do livro Geografia do Brasil, Aroldo de
Azevedo, 1958 ................................................................................................................
76
Figura 10: Da divisão regional brasileira (p. 138-139), do livro Geografia do Brasil,
Aroldo de Azevedo, 1958 ...............................................................................................
80
Figura 11: Foto da capa do livro Geografia Crítica o espaço social e o espaço
brasileiro – 2006 de José W. Vesentini e Vânia Vlach ..................................................
102
Figura 12: Recife e Salvador, polos centralizadores da Região Nordeste ...................... 120
Figura 13: Flagelados do Sertão pernambucano numa frente de trabalho durante a
seca .................................................................................................................................
121
Figura 14: Boneca de cerâmica produzida por artesão de Caruaru (PE) representando
mãe a amamentar o filho ................................................................................................
123
9
LISTA DE MAPAS
Mapa 01: Divisão do Brasil em Regiões, segundo Delgado de Carvalho. (Adaptado) ..
48
Mapa 02: Divisão do Brasil em Regiões, segundo Said Ali Ida. (Adaptado) ................
48
Mapa 03: Divisão Regional do Brasil - 1940 .................................................................
56
Mapa 04: Mapa da Divisão Política do Brasil (p. 137), do livro Geografia do Brasil,
Aroldo de Azevedo, 1958 ...............................................................................................
79
Mapa 05 - Brasil: divisão regional segundo o IBGE ..................................................... 108
Mapa 06: Os três complexos regionais ........................................................................... 109
Mapa 07: Meio técnico-científico-informacional e as regiões brasileiras ...................... 110
Mapa 08: As sub-regiões do Nordeste ............................................................................
112
Mapa 09: Nordeste: Polígono das secas .........................................................................
113
Mapa 10: Área de abrangência da seca (1979-1984) ....................................................
114
10
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................
11
CAPÍTULO 1 – DELGADO DE CARVALHO E O LIVRO DIDÁTICO DE
GEOGRAFIA ...................................................................................................................
1.1 Origem do livro didático brasileiro ...........................................................................
1.2 A Geografia do início do século XX ..........................................................................
1.3 Delgado de Carvalho e a Geografia brasileira .........................................................
1.4 Origem e evolução do conceito de região .................................................................
1.5 Geographia do Brasil de Delgado de Carvalho - 1927 ............................................
1.6 A Região Nordeste no livro didático de Delgado de Carvalho - 1927 ....................
19
19
24
28
32
39
51
CAPÍTULO 2 - AROLDO DE AZEVEDO E A GEOGRAFIA BRASILEIRA ........
2.1 A Geografia pós II Grande Guerra Mundial ...........................................................
2.2 Geografia do Brasil de Aroldo de Azevedo - 1958 ...................................................
2.3 Aroldo de Azevedo e a Região Nordeste ..................................................................
63
63
69
81
CAPITULO 3 - VESENTINI, VLACH E A REGIÃO NORDESTE NO LIVRO
DIDÁTICO .......................................................................................................................
3.1 A Geografia pós-ditadura militar brasileira ............................................................
3.2 A Geografia Crítica de Vesentini e Vlach - 2006 .....................................................
3.3 A Região Nordeste e a Geografia Crítica .................................................................
92
92
101
108
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 126
REFERÊNCIAS ...............................................................................................................
131
11
INTRODUÇÃO
O verdadeiro aprender é um apreender muito notável, no qual aquele que
apreende, apreende apenas aquilo que, no fundo, já tem. O ensinar
corresponde a este aprender. Ensinar é um doar, um oferecer, mas no ensinar
não se oferece o aprendível; ao aluno é oferecida tão somente a indicação de
tomar para si o que ele já tem. Quando o aluno adota unicamente algo
oferecido, ele não aprende. Chega a aprender quando experimenta o que
apreende com aquilo que ele mesmo já tem. Um verdadeiro aprender ocorre
somente ali onde se dá a si mesmo e se experimenta como tal. Dessa forma,
ensinar não é outra coisa senão deixar aprender aos outros, quer dizer,
induzir-se mutuamente a aprender (HEIDEGGER, 1962/1973, p. 69).
O cotidiano do trabalho, as formas como as descobertas e/ou as revisões de assuntos
científicos são divulgadas, principalmente pela mídia e pela indústria cultural, associando
quase sempre os conteúdos a serem ensinados nas escolas com a produção acadêmica, levounos à reflexão e, sobretudo, à não satisfação com o acordo verbal das definições, trazendo
transformações e promovendo um verdadeiro repensar das nossas práticas.
Estas transformações em nosso comportamento podem estar relacionadas à conclusão
de Santos (2004), quando afirma que chegamos ao final de século XX possuídos pelo desejo
quase desesperado de completar o conhecimento das coisas com o conhecimento do
conhecimento das coisas, isto é, com o conhecimento de nós próprios.
Trabalhando como professoras da disciplina Geografia por mais de duas décadas na
Região Nordeste do Brasil, pretendemos com esta pesquisa identificar como esta região foi e é
apresentada nos livros didáticos de Geografia, buscando identificar as mudanças e
permanências através de uma abordagem histórica.
Nesta perspectiva, concordamos com Cavalcanti (2005), quando diz que o
pensamento, o desenvolvimento mental e a capacidade de conhecer o mundo e de nele atuar é
uma construção que depende das relações sociais que o homem estabelece com o meio.
A Geografia, assim como outras disciplinas ensinadas nas escolas de Ensino
Fundamental e Médio, tem sido discutida por teóricos e também pelos professores que atuam
na área da educação. Esses pesquisadores discutem a Geografia sob diferentes focos de
análise e em diferentes momentos da sua trajetória escolar, desde a época em que não havia
professores formados em Geografia até os dias atuais, quando a formação é uma exigência
primordial, mesmo que em muitos casos não seja cumprida.
A trajetória da Geografia escolar, especificamente a brasileira, tem sido permeada por
um discurso ideológico que envolve a importância dos raciocínios centrados no espaço. Neste
contexto, o livro didático – um complexo e polêmico objeto cultural – apresenta questões
12
educacionais inúmeras e importantes.
É neste sentido que Choppin (2004) afirma que o dinamismo das pesquisas sobre os
livros didáticos verificados nos últimos anos resulta da convergência de uma série de fatores
conjunturais e estruturais. No entender deste autor, entre os fatores conjunturais podemos
citar, entre outros, o crescente interesse manifestado pelos que se sentem atraídos pela história
ou por historiadores em relação às questões de educação e o interesse de inúmeras populações
em criar ou recuperar uma identidade cultural, devido a acontecimentos recentes como a
descolonização, o desmantelamento do bloco comunista ou, ainda, ao recrudescimento de
aspirações provenientes de grupos minoritários.
Quanto às causas estruturais, estas estão ligadas à complexidade do objeto “livro
didático”, à multiplicidade de suas funções, à coexistência de outros suportes educativos e à
diversidade de agentes que ele envolve.
Para Choppin (2004), o estudo histórico mostra que os livros didáticos exercem quatro
funções essenciais, que podem variar consideravelmente segundo o ambiente sociocultural: a
época, as disciplinas, os níveis de ensino, os métodos e as formas de utilização.
As quatro funções são assim denominadas: referenciais, que também podem ser
chamadas de curriculares ou programáticas, desde que existam programas de ensino: o livro
didático é então apenas a fiel tradução do programa ou, quando se exerce o livre jogo da
concorrência, uma das suas possíveis interpretações. Mas, em todo caso, continua Choppin
(2004), ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos
conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja necessário
transmitir às novas gerações.
Uma segunda função é a denominada por Choppin (2004) de instrumental: aqui o livro
didático põe em prática métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que,
segundo o contexto, visam a facilitar a memorização dos conhecimentos, a favorecer a
aquisição das competências disciplinares ou transversais e a apropriação de habilidades, de
métodos de análise ou de resolução de problemas, etc.
Já a terceira função é denominada de ideológica e cultural: é a função mais antiga,
exercida a partir do século XIX, com a constituição dos Estados nacionais e com o
desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas educativos. O livro didático se
afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e dos valores das classes
dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de identidades, geralmente ele é
reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, como símbolo da soberania nacional e, nesse
sentido, assume um importante papel político.
13
Esta função, que tende a aculturar –, em certos casos, a doutrinar – as jovens gerações,
pode se exercer de maneira explícita, até mesmo sistemática e ostensiva, ou, ainda, de
maneira dissimulada, sub-reptícia, implícita, mas não menos eficaz.
A quarta e última função essencial é conhecida como documental: acredita-se que o
livro didático pode fornecer, sem que sua leitura seja dirigida, um conjunto de documentos,
textual ou icônico, cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico
do aluno. Esta função surgiu muito recentemente na literatura escolar e não é universal: só é
encontrada – afirmação que pode ser feita com muitas reservas – em ambientes pedagógicos
que privilegiam a iniciativa pessoal da criança e visam a favorecer sua autonomia; supõe,
também, um nível de formação elevado dos professores.
Choppin acredita, ainda, que uma das dificuldades para traçar um estudo exaustivo
sobre o que foi feito e escrito e, mais ainda, do que se pesquisa e se escreve atualmente pelo
mundo sobre livros didáticos, está relacionada à própria definição do objeto:
Na maioria das línguas, o ‘livro didático’ é designado de inúmeras
maneiras, e nem sempre é possível explicitar as características específicas
que podem estar relacionadas a cada uma das denominações, tanto mais que
as palavras quase sempre sobrevivem àquilo que elas designaram por um
determinado tempo (CHOPPIN, 2004, p. 549).
Partindo destas premissas e acreditando na possibilidade de utilizar o livro didático
como fonte documental para compreendermos a história de uma disciplina escolar,
trabalharemos nesta perspectiva, buscando compreender parte da história da Geografia
escolar, a partir do que difundem os livros didáticos dessa disciplina, ao longo de 80 anos.
Tanto a Geografia quanto outras disciplinas fazem parte dos currículos escolares e
constituem saberes, aparentemente “naturais” que circulam no cotidiano das salas de aula.
Mas esta “naturalidade” da presença das disciplinas nas escolas e o “lugar” de cada uma delas
no currículo escolar têm sido objeto de questionamentos, tanto na atualidade, quanto em
outros momentos da história da educação escolar (BITTENCOURT, 1998).
Inicialmente, queremos evidenciar aqui o nosso primeiro questionamento que consiste
na indagação: o que é uma disciplina escolar? A resposta a tal pergunta não tem sido fácil
para aqueles que se dedicam a investigar as especificidades do conhecimento escolar. As
divergências podem ser flagradas constantemente, a própria utilização do termo disciplina
escolar coloca problemas. Em muitos casos, os termos disciplina e matéria aparecem como
sinônimos, mas sobre a sua semelhança nem sempre há concordância.
14
Chervel ao situar historicamente o aparecimento do termo disciplina na documentação
educacional, reconhece que seu uso é recente, surgido no final do século XIX da seguinte
maneira:
Na realidade, essa nova acepção da palavra é trazida por uma larga corrente
de pensamento pedagógico que se manifesta, na segunda metade do século
XIX, em estreita ligação com a renovação das finalidades do ensino
secundário e do ensino primário. Ela faz par com o verbo disciplinar, e se
propaga primeiro com um sinônimo de ginástica intelectual, no conceito
recentemente introduzido no debate. (...) Logo após a I Guerra Mundial,
enfim o termo “disciplina” vai perder a força que o caracterizava até então.
Torna-se uma pura e simples rubrica que classifica as matérias de ensino,
fora de qualquer referência às exigências da formação do espírito
(CHERVEL 1990, p. 64).
Entretanto, Chervel (1990) conclui que “uma disciplina” é igualmente, para nós, em
qualquer campo que se a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer, de lhe dar os
métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e
da arte. Nesta concepção, empregam-se os termos disciplina escolar ao se referir aos diversos
níveis de escolarização do ensino básico e disciplina acadêmica para o nível superior.
Para Goodson (1991), existe uma distinção no que se refere ao termo disciplina.
Disciplina é entendida como uma forma de conhecimento oriunda da tradição acadêmica e,
para o caso das escolas primárias e secundárias, utiliza o termo matéria escolar.
Foi nos anos oitenta que as proposições pelas quais se baseiam as divergências que,
atualmente, estão presentes nas pesquisas sobre concepções de disciplina escolar, foram
manifestadas. Assim, uma concepção bastante difundida, a de “transposição didática”, foi
introduzida em obra de Chevallard de 1981(BITTENCOURT, 1998).
Para chegar à concepção da transposição didática, Chevallard (1981) parte do
princípio de que a escola é parte de um sistema no qual o conhecimento se insere pela mediação da noosfera, uma esfera de agentes sociais externos – inspetores, autores de livros didáticos, técnicos educacionais, famílias – que garante o fluxo dos saberes. Sobre esta concepção
Bittencourt (1998) assim se pronuncia:
A concepção de disciplina escolar como transposição didática é, no entanto,
polêmica e tem gerado críticas. Uma delas é a de conceber o saber erudito ou
científico como uma forma de conhecimento descontextualizado do seu processo histórico de criação e acentuar a hierarquização de saberes como base
para a constituição de conhecimentos para a sociedade (p. 25).
15
A concepção de disciplina escolar fundamentada na transposição didática deu origem
a várias críticas. Entretanto, a mais relevante foi a de Chervel (1990). Os pontos centrais de
sua proposição residem na concepção das disciplinas escolares como entidades epistemológicas relativamente autônomas e deslocam o acento das decisões, das influências e de legitimações exteriores em direção à escola, inserindo o saber por ela produzido no interior de uma
cultura escolar. As disciplinas escolares se formam no interior dessa cultura, tendo objetivos
próprios e muitas vezes irredutíveis aos das ciências de referência.
Outro questionamento está relacionado à permanência ou exclusão de disciplinas em
um determinado currículo. Sobre esta problemática Bittencourt (1998) relata:
A presença de cada uma das disciplinas escolares no currículo, sua obrigatoriedade ou sua condição de conteúdo opcional e, ainda, seu reconhecimento
legitimado por intermédio da escola, não se restringe a problemas epistemológicos ou didáticos, mas articula-se ao papel político que cada um desses
saberes desempenha ou tende a desempenhar, dependendo da conjuntura
educacional. Estado, deputados e partidos políticos, associações docentes,
professores e alunos, entre outros, são agentes que integram a constituição
das disciplinas escolares e, por intermédio de suas ações, delimitam sua
legitimidade e seu poder (p. 10).
Como é razoável crer que uma coisa foi inventada por aqueles a quem ela é útil, o
destaque aqui vai para o livro didático, considerado como “primo pobre” da literatura, apesar
de ilustre, o livro didático é texto para ler e jogar fora, descartável porque anacrônico: ou ele
fica superado, dados os progressos da ciência a que se refere ou o estudante o abandona, por
avançar em sua educação. Sua história é das mais esquecidas e minimizadas, talvez porque os
livros didáticos não são conservados, suplantado seu prazo de validade (CORRÊA, 2000).
É importante salientar, entretanto, que o valor do livro didático engloba aspectos
pedagógicos, econômicos, políticos e culturais. Portanto, os diversos modos de aprendizado, o
que é muito significante e deveria ser mais bem aproveitado, podem ser utilizados como um
documento para contar a história de uma disciplina, ao invés de ser jogado fora, como é
corriqueiro em sua história.
Por outro lado, devemos usar a prática de olhar o livro didático com olhos críticos e de
apontar erros e inadequações, pois embora esta prática pareça antipática num primeiro
momento, é altamente educativa não só para autores e editores, mas, sobretudo, para os
alunos, no sentido de derrubar o mito de que o livro didático é depositário da verdade. Isto
estimula o desenvolvimento do senso crítico do aluno e o faz refletir e questionar, antes de
aceitar passivamente as informações que recebe a todo instante na escola e fora dela.
16
Sobre a importância do livro didático como poderosa fonte de conhecimento da
história de uma nação, Lajolo (1987) chama atenção no sentido de uma maior preocupação
com o que nos ensinam as vozes dos mestres que nos precederam. Seremos tão suicidas
quanto mais rapidamente nos descartarmos do chão histórico que pisamos. Sabemos hoje que
a qualificação da escola brasileira passa pela recuperação, trabalhada no divã, da dimensão da
memória do professor, da escola e do livro.
Por outro lado, concordando com Silveira (1980), que afirma que a questão regional,
travestida de outras nomenclaturas, como: subdesenvolvimento regional, desigualdades
regionais, relações centro-periferia, colonialismo interno, etc., vêm-se constituindo em um
objeto de preocupação de amplos setores da sociedade brasileira, nos posicionamos diante
dessa problemática na busca de melhor entendermos a nossa região: o Nordeste brasileiro.
Recorremos a Andrade (2001) que alerta para o emprego, com frequência, das
palavras globalização e regionalização de forma estática, como se o fenômeno da
globalização tivesse ocorrido de forma súbita, em um determinado momento, sem qualquer
conexão com o passado.
Neste contexto merece destaque a expressão do “fim da história”, feita pelo nipoamericano Fukuyama, como se a história pudesse ser interrompida ou, pior ainda, ter um
fim. ”A ideia de implosão do Estado-nação só suscetibiliza aqueles que não percebem o
sentido político do Estado que torna suas fronteiras pertinentes, mesmo quando são
rompidas as fronteiras econômicas” (LENCIONI, 1999, p. 191).
Diante de tal posicionamento concordamos com Lencioni (1999) e reforçamos nosso
pensamento com Santos, que assim se pronuncia:
A história é sem-fim, está sempre se refazendo. O que hoje aparece como
resultado é também um processo; um resultado hoje é também um processo
que amanhã vai tornar-se outra situação. O processo é o permanente devir.
[...] Ao contrário do que se diz a história universal não acabou; ela apenas
começa. Antes o que havia era uma história dos lugares, regiões, países. As
histórias podiam ser no máximo, continentais, em função dos impérios que
se estabeleceram em uma escala mais ampla. O que se chamava de história
universal era a visão pretensiosa de um país ou continente sobre os outros,
considerados bárbaros ou irrelevantes [...] Somente agora a humanidade faz
sua entrada na cena histórica como um bloco, entrada revolucionária, graças
à interdependência das economias, dos governos, dos lugares. O movimento
do mundo conhece uma só pulsação, ainda que as condições sejam diversas,
segundo continentes, países, lugares, valorizados pela sua forma de
participação na produção dessa nova história (SANTOS, 1994, p. 95).
Completamos nossa opinião com Gomes (1995), quando afirma que, na
17
contemporaneidade, questões como a redefinição do papel do Estado, a queda de pactos
territoriais que moldaram o mundo nos últimos anos, o ressurgimento de questões “regionais”
no seio dos Estados e a manifestação, cada vez mais acirrada, de nacionalismos /
regionalismos, inspiram este tipo de discussão.
Apoiados nos autores supracitados e tendo como perspectiva os debates expostos,
construímos o nosso plano geral de exposição do texto organizado em três capítulos. No
primeiro deles analisaremos a origem do livro didático brasileiro, o ensino da Geografia no
inicio do século XX com destaque para a obra de Delgado de Carvalho, Geografhia do Brasil
– 1927 especificando em seguida a sua abordagem sobre a Região Nordeste.
No segundo capítulo o destaque vai para a obra Geografia do Brasil – 1958 – de
Aroldo de Azevedo, enfocando, a partir daí, o ensino de Geografia pós Segunda Grande
Guerra Mundial no que concerne ao Brasil e, consequentemente, à Região Nordeste brasileira.
No terceiro e último capítulo, analisamos a obra Geografia Crítica, o espaço social e
o espaço brasileiro de José William Vesentini e Vânia Vlach – 2006, em que procuraremos a
relação entre os últimos acontecimentos internacionais e nacionais e o livro didático de
Geografia enfocando, neste contexto, o Nordeste brasileiro.
Nosso estudo surgiu pela busca de uma renovação na nossa prática, de modo a
transformar as atividades e conteúdos, objetivando um ensino que sirva para além das
relações de dominação. Concordamos com Vesentini (1989), quando diz que é evidente que a
escola não se resume à reprodução das relações de poder, embora esse seja um dos seus
aspectos essenciais. Ela é também um campo de luta de classes, um locus de reprodução de
poder, mas onde dialeticamente se pode implementar práticas que questionem esse poder e
esbocem novas relações societárias.
Neste contexto, recorremos a Castro (2009), que acreditando que o fato político ganha
destaque na Geografia das últimas décadas do século XX afirma:
Fenômenos importantes e aparentemente contraditórios continuam
colocando o fato político em destaque na agenda da geografia. Fenômenos
como a globalização e a revalorização do local, o enfraquecimento do
Estado-nação e o ressurgimento dos nacionalismos, o aumento da circulação
internacional de mercadorias e de mão de obra e o maior controle das
fronteiras, o esmaecimento das regiões e o renascimento dos regionalismos,
a expansão da democracia e a intensificação da pobreza, o fortalecimento
dos movimentos sociais e dos direitos da cidadania e a ampliação de
exclusão são significativos da importância da geografia política, da
pertinência de alguns de seus temas tradicionais e das respostas da disciplina
às novas questões impostas pelos contextos da atualidade (p. 16).
18
Não é a partir de qualquer esquema teórico e funcional de escola, até de um “modelo”
de sistema escolar capitalista, que se vai compreender por que, por exemplo, até as primeiras
décadas do século passado a escola era ainda de elite e as autoridades se recusavam a educar
as grandes massas populares.
A explicação só pode vir a partir de uma análise da cada caso concreto, a partir da
constatação de que a história não é a realização de uma lógica predeterminada (seja na
economia ou nos esquemas teóricos de qualquer filósofo), “mas sim uma forma de ser do
social em que são decisivas as lutas, as contradições e as situações de indefinição e de
indeterminação, e onde alternativas plurais entram em cheque a cada momento”
(VESENTINI, 1989, p. 165).
Com a análise dos três livros didáticos: Geografhia do Brasil, de Delgado de
Carvalho, datado do ano de 1927; O Brasil e suas regiões, de Aroldo de Azevedo, do ano de
1958, e Geografia Crítica, o espaço social e o espaço brasileiro, de J. William Vesentini e
Vânia Vlach, do ano de 2006, que por mais de oitenta anos fizeram e continuam fazendo a
história da disciplina escolar Geografia, pretendemos contribuir com a história do pensamento
e das práticas educativas ao lado de conteúdos reveladores de representações e valores
predominantes num certo período de uma sociedade que, simultaneamente à historiografia da
educação e da teoria da história, permitem rediscutir intenções e projetos de construção e de
formação social.
19
CAPÍTULO 1 – DELGADO DE CARVALHO E O LIVRO DIDÁTICO DE
GEOGRAFIA
1.1 Origem do livro didático brasileiro
A ordenação burguesa do mundo implicou a transformação do entendimento da
natureza. O cosmos fechado cedeu lugar nos séculos XV e XVI ao universo infinito. O
objetivo do saber, a partir de agora, é possibilitar que nos tornemos cada vez mais senhores da
natureza, afirmava Descartes. É nesse contexto que o Brasil é “achado”. Mas o Brasil é uma
criação dos conquistadores europeus. “O Brasil foi instituído como colônia de Portugal e
inventado como ‘terra abençoada por Deus, à qual, se dermos crédito a Pero Vaz de Caminha,
‘Nosso Senhor não nos trouxe sem causa’” (CHAUI, 2000, p. 57-58).
Ainda no Brasil Colônia uma primeira tentativa de negócio tipográfico teria sido
implantada em 1747, quando o português Antônio Isidoro resolveu aqui se instalar. Porém, a
atitude de Portugal em querer isolar a colônia de toda e qualquer influência externa fez o
comerciante fracassar (NEVES, 2005). Somente em 1808, quando da vinda da família real ao
Brasil, as primeiras instituições de caráter cultural como a Escola de Anatomia, a Escola
Médica e o Jardim Botânico são criadas. Acompanhada de tais instituições, vem a autorização
da Imprensa Régia por D. João.
Logo em seguida foram lançados os dois primeiros jornais: O Correio Brasiliense e a
Gazeta do Rio de Janeiro. Em 1810, foi anexada à Impressão Régia uma fundição de tipos que
permitiu a arte de gravuras e teve como consequência o surgimento de profissionais de
artifício, desenhistas, gravadores e tipógrafos que vinham de fora e outros que aprendiam o
ofício aqui. O fim do absolutismo português e a pressão da elite brasileira pela independência
do Brasil fazem a imprensa desempenhar um importante papel.
Em 02 de março de 1821, quando D. João deixa o Brasil, decreta a abolição da censura
prévia e regula a liberdade de imprensa, até que fosse elaborada uma nova regulamentação. E
em 12 de julho de 1821, Portugal decreta uma lei complementar que inclui a liberdade de
imprensa. Inicia-se, a partir daí, um processo de produção diversificada de jornais, livros,
revistas, almanaques, folhinhas, entre outros. Um público necessitado de informações e que
busca com a leitura a libertação do sentimento de colonização faz aumentar o comércio de
livros. O livro ganha importância e o público para a literatura vai sendo conquistado,
iniciando com o folhetim, uma espécie de imitação do romantismo europeu. Autores
20
brasileiros como Machado de Assis, Raul Pompéia, Joaquim Manoel de Macedo, Manuel
Antônio de Almeida e Aluízio de Azevedo têm seus trabalhos ilustrados na imprensa local.
Um dos primeiros livros didáticos a circular no Brasil foi o Tesouro dos meninos, obra
traduzida do francês por Mateus José da Rocha (ZILBERMAN, 1987). Na mesma linha a
Impressão Régia publicou Leitura para meninos, “coleção de histórias morais relativas aos
defeitos ordinários às idades tenras e um diálogo sobre a geografia, cronologia, história de
Portugal e história natural” (CABRAL, 1881 apud ZILBERMAN, 1987). A primeira edição
data de 1818, sendo organizador do livro José Saturnino da Costa Pereira.
Em 1827, como resultado do projeto de Januário da Cunha Barbosa, é aprovada a
única lei geral relativa ao ensino elementar até 1946, quando estavam presentes as ideias de
educação como dever do Estado, da distribuição racional por todo o território nacional das
escolas dos diferentes graus e de necessária graduação do processo educativo. Do referido
projeto vigorou simplesmente a ideia de distribuição racional do ensino por todo o território
nacional, mas apenas nas escolas de primeiras letras (VLACH, 2004).
Até as primeiras décadas do século XIX, afirma Bittencourt (1993), os programas de
ensino para a escola elementar se limitavam ao ensino inicial das habilidades de leitura, da
escrita e do cálculo. A partir daí vão se constituindo conteúdos e saberes específicos para
serem ensinados pela escola e os saberes compreendidos como “leitura” e “escrita” ganham
novas dimensões, respondem a novas exigências e demandas sociais, assumem formas mais
complexas de escolarização. Assim sendo, a produção de materiais pedagógicos como
quadros-negros, cartazes, materiais de ensino e livros didáticos se tornam necessários.
Ainda segundo Bittencourt, até meados do século XIX, os livros de leitura
praticamente inexistiam nas escolas. Desse modo, fontes como relatos de viajantes,
autobiografias e romances indicam que textos manuscritos, como documentos de cartório e
cartas, serviam de base ao ensino e à prática da leitura. Em alguns casos, a Constituição do
Império (e a Lei de 1827), o Código Criminal e a Bíblia serviam como manuais de leitura nas
escolas. Ainda na mesma obra, Bittencourt afirma que em 1838 o então presidente da
Província do Rio de Janeiro fazia a seguinte proposta:
Parece conveniente que se autorize o governo a mandar imprimir, à custa dos
cofres públicos, algumas obras estrangeiras, que por melhores, mais
clássicas e populares fossem havidas; e que o diretor das escolas primárias e
o da Escola Normal se encarreguem de traduzir, a fim de serem distribuídas
não somente pelos professores públicos e particulares da província, como
também pelas autoridades e pessoas que delas pudessem fazer bom uso
(1993, p. 28).
21
Quanto ao estudo da disciplina Geografia, o livro de Aires de Casal, Corografia
Brasílica, de 1817, foi um dos primeiros livros de Geografia do Brasil; entretanto, não
sabemos se foi elaborado com fins didáticos, mas que foi referencial no período para a
disciplina escolar. Na pesquisa de Albuquerque (2009) também foi encontrado um livro
didático de Geografia denominado Compendio de Geographia Elementar, de José Saturnino,
publicado no ano de 1836, na cidade do Rio de Janeiro. Em sua capa está escrito que ele se
destina às escolas brasileiras, o que indica que essa disciplina compunha, de algum modo, a
escola. Portanto, esta datação é ainda provisória, tendo em vista que novas pesquisas podem
trazer contribuições que se contraponham ao que está posto até o momento.
Com a ampliação das editoras e de um mercado consumidor que crescia, entre o final
do século XIX e início do século XX, uma gama de livros didáticos de Geografia passam a ser
publicados pelas editoras privadas. Porém, as primeiras iniciativas desenvolvidas pelo Estado
para assegurar a divulgação e distribuição de obras de interesse educacional, científico e
cultural vieram somente no Estado Novo.
O Instituto Nacional do Livro (INL), criado em 1937, estruturou-se em vários órgãos
operacionais menores, entre os quais a coordenação do livro didático, à qual competia
planejar as atividades relacionadas com o livro didático e estabelecer convênios com órgãos e
instituições que assegurassem a produção e distribuição do livro didático (FREITAG et al.,
1987).
Em 1938, o Decreto-Lei 1.006, de 30 de dezembro, define pela primeira vez o que
deve ser entendido como livro didático e cria uma Comissão Nacional do Livro Didático
(CNLD), à qual cabia examinar e julgar os livros didáticos, indicar livros de valor para
tradução e sugerir abertura de concurso para produção de determinadas espécies de livros
didáticos ainda não existentes no país (FREITAG et al., 1987).
Na década de 1960, com a expansão escolar decorrente da industrialização, a educação
de inspiração europeia, acusada de acadêmica, propedêutica e ornamental, passa a ser
substituída por uma educação nos moldes estadunidenses, um ensino para engrenar o
estudante no mundo do trabalho industrial. Neste contexto aumenta no Brasil a preocupação
com o livro didático. O Banco Mundial, com sua política de empréstimos referente à
educação de países “em desenvolvimento”, tem participação efetiva no investimento de
material escolar e de livros (NEVES, 2005).
O golpe dado pelos militares em 31 de março de 1964 atingiu em cheio a democracia.
Para calar a oposição e se firmarem no poder, os golpistas criaram dispositivos legais como: a
Lei de Greve, que proibia as paralisações e a censura à imprensa, as Leis de Imprensa e de
22
Segurança nacional (1967) e o Ato institucional nº 5 - AI-5 (1968). No campo cultural houve
a censura de peças teatrais, letras de músicas, roteiros de filmes e sinopses de novelas. Os
livros que eram considerados perigosos por suas ideias foram proibidos. Muitos títulos foram
condenados e diversos autores e editores presos. Sobre os debates feitos a respeito desse
período, Munakata assim discorre:
No Brasil, o desprestígio dos livros didáticos foi sobredeterminado pela
conjuntura do período militar, iniciado em 1964. Em meio à imposição de
reformas educacionais, os livros didáticos foram identificados como suporte
da ideologia oficial (...). Levar a sério o livro didático equivalia, nessas
circunstâncias, a colaborar com a ditadura (...) a crítica do livro didático
tornou-se uma trincheira contra a ditadura. Proliferaram discursos
conclamando os professores a abandonar essas “muletas” em nome de uma
educação mais “criativa”, “reflexiva”, “crítica” – embora raramente essas
palavras fossem objeto de elucidação (2003, p. 03).
É importante destacar que Munakata adverte o leitor tanto sobre a posição do Estado
ditatorial quando dos intelectuais que viam no pesquisador sobre livro didático alguém que
colaborava com a ditadura.
Como exemplo do exposto acima, podemos citar a obra: As Belas Mentiras, de
Nosella (1981), em que a autora, propondo explicitar de maneira mais rigorosa e sistemática a
defasagem entre o imaginário (descrito pelos textos) e o real (vivido pelas crianças), recorre a
Poulantzas que afirma:
A ideologia tem precisamente por função, ao contrário da ciência, ocultar as
contradições reais, reconstituir, num plano imaginário, um discurso
relativamente coerente, que serve de horizonte ao ‘vivido’ dos agentes,
moldando as suas representações nas relações reais e inserindo-as na unidade
das relações de uma formação (POULANTZAS apud NOSELLA, 1981, p.
31).
Concordamos com Munakata quando diz que tal concepção deixa de considerar a
materialidade do livro didático, que pode ser abordado como mercadoria e objeto cultural, ou
seja, para fins escolares, na diversidade de relações que isso implica. Este autor completa sua
crítica afirmando:
Como mercadoria, ele certamente carrega as marcas do ser-para-o-lucro e da
indústria cultural. Convém, no entanto, desde já, esclarecer que, na
sociedade capitalista, a produção de qualquer livro, seja didático ou dos
“frankfurtianos”, visa o lucro e é efetivada segundo os procedimentos da
indústria cultural. É preciso também não perder de vista que onde há lucro e,
23
portanto, a acumulação de capital, há também trabalhadores, de cujas
atividades resultam os livros. Essas atividades, altamente diversificadas, têm,
é claro, o objetivo de produzir uma mercadoria que possa vir a ser
consumida em larga escala, mas, por isso mesmo, essa produção deve
atender a demandas e expectativas (mesmo que induzidas) do mercado, o
que, no caso do livro didático, inclui questões educacionais. Reprodutores do
capital – e para o bem dessa função – autores, editores, editores de arte,
redatores, pesquisadores iconográficos, etc. não podem deixar de ter
preocupações a respeito da educação escolar (MUNAKATA, 2003, p. 6).
Outras questões são evidenciadas ainda neste debate. Como foi apontado
anteriormente, na década de 1960, já durante o regime militar são assinados vários acordos
MEC/Usaid (entre o governo brasileiro e o americano), criando-se juntamente com um desses
acordos, a Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (Colted), que propunha um
programa de desenvolvimento que incluiria a instalação de bibliotecas e um curso de
treinamento de instrutores e professores em várias etapas sucessivas, desde o nível federal da
União até os níveis mais baixos dos municípios e das escolas (FREITAG et al., 1987).
Mas o que os funcionários e assessores do MEC descreviam como ajuda da Usaid era
denunciado por críticos da educação brasileira, continua o raciocínio de Freitag (1987), como
um controle americano do livro didático. A Colted foi extinta em 1971, quando foi criado o
Programa do Livro Didático (PLD) conforme decreto 68.728, de 08/06/71.
Foi também durante o governo militar que se deu a introdução do livro didático
descartável, aceitando assim, a concepção psicopedagógica do aprendizado calcado no
behaviorismo, rejeitando o modelo alternativo das teorias cognitivas (FREITAG et al., 1987).
O livro descartável, contendo as lições da casa e os exercícios para os alunos, orientou-se na
técnica do ensino programado por unidades totalmente individuais.
Em 1971, o INL desenvolve o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental
(PLDEF) e, em 1976 com a extinção do INL foi criada a Fundação Nacional do Material
Escolar (Fename).
Os anos de 1980 vão apontar como um marco tanto na produção quanto na análise dos
livros didáticos. Diversas questões passam então a compor as pesquisas e os debates acerca
desse recurso didático. Nesse período o mercado do livro didático representava metade do
total de livros produzidos no país.
A vinculação da política governamental do livro didático com a criança carente
aparece explicitamente, pela primeira vez, em 1980, quando são lançadas as diretrizes básicas
do Programa do Livro Didático – Ensino Fundamental (PLDEF). Em abril de 1983, é
instituída, pela Lei 7.091, a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) cuja finalidade era
24
desenvolver os programas de assistência ao estudante para facilitar o processo didáticopedagógico.
Em 1984 ocorre no Brasil o fim da ditadura militar e a abertura política se torna uma
conquista dos brasileiros com a campanha pelas Diretas Já. Em novembro de 1993, estudantes
brasileiros saem às ruas levando o verde-amarelo da bandeira brasileira em protesto contra a
corrupção.
Em 1995, criou-se o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), com a finalidade de
estabelecer critérios para a avaliação dos livros didáticos. A partir de 1997, as políticas
públicas para o livro didático são representadas pelo PNLD e executadas por meio do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
O Ministério da Educação passa a adquirir livros didáticos de forma contínua e
massiva. Todos os estudantes do ensino fundamental passam a receber livros didáticos de
todas as disciplinas. O programa avança e, em 2001, começa a distribuição de dicionários de
língua portuguesa aos alunos de 1º a 4ª séries do ensino fundamental e de livros em braile
para os alunos deficientes visuais. No ano seguinte, os alunos de 4ª e 5ª séries passam a
receber a coleção Literatura em Minha Casa. Em 2003, dicionários são entregues aos alunos
da 1ª, 7ª e 8ª séries.
Em 2004, o Ministério da Educação cria o Programa Nacional do Livro para o Ensino
Médio (PNLEM); em 2005, este programa beneficiou 1,3 milhões de alunos de 5.392 escolas
de ensino médio. Foram distribuídos 2,7 milhões de livros das disciplinas de português e
matemática. Neste ano de 2009 deu-se a entrega do livro didático de Geografia e História para
todos os alunos do ensino médio.
1.2 A Geografia do início do século XX
No início do século XX, o mundo estava dividido entre os países imperialistas que
dominavam colônias e protetorados e controlavam países formalmente independentes. Esta
divisão era assim caracterizada: os países imperialistas mais importantes, como a Inglaterra e
a França; os países imperialistas em expansão – a Alemanha e a Itália -; os países
imperialistas em terras contínuas como a Rússia; os países imperialistas médios, como a
Bélgica e a Holanda; os países imperialistas em decadência como a Espanha e Portugal; e os
países com forte vocação imperialista e em expansão, como os Estados Unidos e Japão
(ANDRADE, 2001).
A Geografia ingressa no século XX oscilando na querela do determinismo (Ratzel)–
25
possibilismo (La Blache). Os estudos de Geografia física fornecem as bases aos estudos
regionais, em que a ação do homem é apreciada em suas relações com a natureza. Hobsbawm
(2009) que acredita que o século XX se inicia com a Primeira Grande Guerra relata:
“As luzes se apagam em toda a Europa” disse Edward Grey, secretário das
Relações Exteriores da Grã-Bretanha, observando as luzes de Whitehall na
noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. “Não voltaremos
a vê-las acender-se em nosso tempo de vida”. Em Viena, o grande satirista
Karl Kraus preparava-se para documentar e denunciar essa guerra num
extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os últimos dias da
humanidade.
{...]
Não foi o fim da humanidade.
[...]
A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do
século XX desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando suas colunas
ruíram (p. 30).
A velha sociedade, a velha economia, os velhos sistemas políticos tinham “perdido o
mandato do céu” (HOBSBAWM, 2009, p. 62). A Revolução Russa, ou mais precisamente, a
Revolução Bolchevique de outubro de 1917, pretendia dar ao mundo um novo sinal. Sobre
esta revolução Hobsbawm (2009) afirma:
A Revolução de Outubro produziu de longe o mais formidável movimento
revolucionário organizado na história moderna. Sua expansão global não tem
paralelo desde as conquistas do islã em seu primeiro século. Apenas trinta ou
quarenta anos após a chegada de Lênin à Estação Finlândia em Petrogrado,
um terço da humanidade se achava vivendo sob regimes diretamente
derivados dos “Dez dias que abalaram o mundo” (REED, 1919) e do modelo
organizacional de Lênin, o Partido Comunista. A maioria seguiu a URSS na
segunda onda de revoluções surgida da segunda fase da longa guerra
mundial de 1914-45 (p. 62).
Poder e estratégias de controle e dominação a partir do território controlado pelo Estado
nacional eram questões sempre implícitas ou explicitas na agenda da Geografia política nas
primeiras décadas do século XX. Nesse contexto no Brasil as relações entre educação, ciência
e política movimentam o ensino de Geografia. Sobre esta relação Vlach informa:
Em uma sociedade, cindida entre os que “pensam” e os que “fazem”, não
surpreende, pois, a tardia institucionalização da escola (após 1930), não se a
ideia de um “sistema nacional de educação” fez parte das propostas da
Assembleia Constituinte, reunida em 1823 para elaborar a primeira
constituição do Império do Brasil (VLACH, 2004, p. 188).
26
Formalmente incorporada à Escola no Brasil a partir da fundação do Colégio Pedro II
(1837), a Geografia passou a ser ensinada nas escolas secundárias do país, e, desde então, faz
parte dos conteúdos definidos por todas as reformas educacionais brasileiras, de 1889 aos dias
atuais (COLESANTI, 1984), mantendo seu “status” de matéria obrigatória.
Ao longo de sua afirmação enquanto matéria escolar, a Geografia incorporou paradigmas vigentes na sociedade como, por exemplo, o ensino enciclopédico, mnemônico, com
listas de nomes para serem “decorados”, entre outros. Como documento do ensino da Geografia neste período, os livros didáticos comprovam essas formas de ensinar e aprender.
Em um artigo publicado na revista Terra Brasilis, Zusman e Pereira (2000) discordam
de algumas investigações historiográficas sobre a Geografia no Brasil no período compreendido entre 1913 e 1933, que o caracterizam como carente de um projeto disciplinar explícito,
tentando demonstrar, ao contrário, a existência de âmbitos específicos em que se pretendia
desenvolver uma Geografia nacional científica, segundo parâmetros acadêmicos europeus. E
neles Delgado de Carvalho, segundo os autores citados, atua como divulgador das formulações da Escola Geográfica Francesa, sem, contudo, abandonar os pressupostos teóricos estabelecidos anteriormente por Ratzel.
Especificamente na década de vinte do século XX, são evidenciados na Geografia
escolar brasileira profundos questionamentos acerca das orientações teórico-metodológicas
que, desde a primeira metade do século XIX, quando da introdução desta disciplina nos
currículos prescritos, orientam sua prática de ensino.
Para que possamos compreender melhor a emergência dessa nova feição adquirida
pela Geografia escolar, faz-se necessário que nos reportemos aos fatores sócio-históricos que
contribuíram para a sua constituição, sobre os quais, Rocha (1990) assim se refere:
À medida que a estrutura até então hegemônica começou a ruir, o sistema
educacional brasileiro foi sendo objetivo de gradativas mudanças. O modelo
agroexportador em franca decadência vai dando lugar a um modelo
econômico urbano-industrial. A intensificação do processo de urbanização,
decorrente do modelo econômico emergente foi gerando novas e crescentes
demandas de mão de obra especializada para ocupar as funções que os
setores secundários e terciários estavam a exigir. A demanda social da
educação amplia-se rapidamente e o sistema escolar se vê pressionado a
expandir-se, à medida que um contingente cada vez maior de pessoas dos
extratos médios e mesmo das camadas populares buscavam a escola a fim de
ampliarem suas possibilidades de ascensão social (p. 84).
Se para a escola havia um processo de transformação se evidenciando, para a
Geografia escolar o período também adquiriu uma fundamental importância. Foi verificado, a
27
partir daí, de forma mais acentuada, o conflito entre os professores de tendências
conservadoras que defendiam uma concepção tradicional de Geografia e de seu ensino (a
Geografia clássica, ensinada de forma descritiva e mnemônica) e, de outro lado, professores
favoráveis à renovação do ensino desta disciplina, não só no que diz respeito às metodologias
empregadas em salas de aulas, como também no que se refere à abordagem dos conteúdos.
Apesar do processo de transformação escolar verificado no Brasil neste período, a
reforma Luiz Alves Rocha, instituída pelo Decreto nº 16.782A, de 13 de janeiro de 1925,
deixava evidente a preocupação com uma educação voltada para a consolidação do
nacionalismo patriótico. Pois, em seu Artigo 47 § 6º preconizava:
No ensino da língua materna, da literatura, da geografia e da história
nacionaes darão os professores como thema para trabalhos escriptos
assumptos relativos ao Brasil, para narrações, descripções e biographias dos
grandes homens em todos os ramos da actividade seleccionando, para os
trabalhos oraes, entre as produções literárias de autores nacionaes, as que
estiverem mais ao alcance ou mais possam interessar aos alumnos para
desenvolver-lhes os sentimentos de patriotismo e de civismo. ... Serão
excluídas, por seleção cuidadosa, as produções que, pelo estudo ou
doutrinamento incidente, diminuam ou não despertam os sentimentos
constitutivos dos caracteres bem formados (ROCHA, 2000, p. 88).
Diante do contexto histórico da década de 1920 e como se pode perceber na lei
supracitada, o nacionalismo patriótico era uma temática referencial para a educação. Desse
modo, para grande parte das disciplinas escolares, mas em especial para a Geografia, há um
empenho em difundir as ideias nacionalistas, estas agora permeadas por um novo referencial
teórico-metodológico. Sobre este período Castro (2009) assim discorre:
Sendo o Estado uma construção política e ideológica que se fez no tempo e
no espaço, a centralidade territorial do seu poder decisório foi fundamental
para a tarefa de tomar a si a obrigatoriedade de fornecer educação para
todos, utilizando o aparato institucional à disposição para as exaltações
simbólicas do nacionalismo. Disciplinas como a história e a geografia foram
estratégicas nesta tarefa (p. 115).
Nesse período, davam-se os primeiros passos visando à difusão da Geografia
Moderna, num claro processo de transformação paradigmática sofrido por esta disciplina
escolar. Nesse processo merece destaque o papel do professor Delgado de Carvalho (18841980), lente do Colégio Pedro II e mentor, juntamente com Raja Gabaglia, do novo currículo
prescrito para a disciplina (1923), aprovado pela congregação da instituição, considerada
como estabelecimento de ensino padrão para o país.
28
1.3 Delgado de Carvalho e a Geografia brasileira
Tendo nascido e desenvolvido seus estudos integralmente na Europa, a formação deste
autor em renomados estabelecimentos de ensino permitiu-lhe contato com ideais liberais e
democráticos tão presentes entre os intelectuais europeus daquela época (FERRAZ, 1995).
Estas influências o fizeram defensor da crença no espírito do progresso e de liberdade do
homem, elementos que vão perpassar toda a sua produção teórica.
Formado na École Libre de Sciences Politiques (Paris), Delgado de Carvalho chega ao
Brasil com o propósito de desenvolver sua tese de doutorado, iniciando um percurso por
diferentes instituições ligadas ao campo científico e educacional no país (ZUSMAM &
PAREIRA, 2000). Delgado então participa do movimento de renovação pedagógica, sendo
um dos participantes do Manifesto dos Pioneiros da Educação (1932).
As preocupações das elites políticas e intelectuais deste período em difundir os valores
pátrios nas novas gerações e em amplos setores da sociedade se afinam com o pensamento de
Delgado de Carvalho, que define toda uma estratégia de legitimação científica e didática
traduzida em três desafios: assegurar a presença e a continuidade da Geografia no sistema
escolar; outorgar cientificidade ao conhecimento geográfico e conferir a este conhecimento
identidade e autonomia frente a outras disciplinas.
Destinada a enaltecer os valores pátrios, a Geografia teria sua inserção no ensino
justificada sem maiores dificuldades (ZUSMAN& PEREIRA, 2000). Adaptar seus protocolos
metodológicos ao domínio das ciências naturais era, na opinião de Delgado de Carvalho, a
solução para o segundo desafio.
E é neste contexto que este escreve:
Devemos, pois, em primeiro lugar, restituir à geografia sua dignidade de
ciência natural, e não deixá-la mergulhada numa complicada nomenclatura
de nomes próprios que não têm significação nem sentido, que nada explicam
que nada nos contam (CARVALHO, 1925, p. 95).
Buscando a especificidade da Geografia, Delgado lança mão da mesma estratégia
epistemológica utilizada por Vidal de La Blach, quando, empenhado em garantir unidade e
identidade para a ciência geográfica nascente, definiu-lhe claramente um objeto – a região - e
um método – a síntese regional (ZUSMAM & PEREIRA, 2000, p. 58). A noção de região
natural tomada de empréstimo à Geografia francesa por Delgado de Carvalho, por falta de um
rigor científico, quanto ao conceito de região natural entre os geógrafos brasileiros daquela
29
época, gerou uma grande polêmica:
Aqui no Brasil, a luta travada pelos professores do Colégio Pedro II para
implantar uma divisão natural racional do país vai vencendo lentamente, mas
enfrenta ainda poderosos obstáculos arraigados no tradicionalismo histórico,
na rotina pedagógica e, especificamente, na ignorância da significação do
próprio termo de “região natural” (CARVALHO, 1925, p. 76-77).
Enfatizando a região natural, Delgado de Carvalho remete a sociedade brasileira ao
debate sobre a questão nacional, na versão colocada em evidência nos anos 20 e 30. A
diversidade representada pelas regiões naturais só adquire sentido se estão estas submetidas a
um todo, reforçando a ideia de uma unidade nacional que deve sobrepor-se às configurações
espaciais construídas social e historicamente. Neste sentido Delgado afirma:
A “região natural” é uma subdivisão mais ou menos precisa e permanente
que a observação e investigação permitem criar numa área geográfica
estudada, no intuito de salientar a importância respectiva das diferentes
influências fisiográficas, respeitando o mais possível o jogo natural das
forças em presença e colocando a síntese esboçada sob o ponto de vista do
fator humano nela representado (CARVALHO, 1925, p. 82).
Como podemos perceber, Delgado de Carvalho, pretendendo desenvolver uma
Geografia nacional científica segundo parâmetros acadêmicos europeus, atua como
divulgador da Escola Geográfica Francesa sem, contudo, abandonar os pressupostos teóricos
estabelecidos anteriormente por Ratzel. Trata-se de uma disciplina referenciada nas ciências
naturais, mas que, de forma sui generis, incorpora o homem como um dos elementos
essenciais em suas considerações.
O método que Delgado de Carvalho aponta como fundamental para uma efetiva
aprendizagem da Geografia moderna é explicado por Ferraz da seguinte maneira:
Este método consistia em descrever a realidade estudada de forma objetiva,
empiricamente comprovada, racionalmente exata, de maneira a inviabilizar
dúvidas e contradições. Para tal, a indução, análise e síntese eram elementos
cruciais, pois, ao se estudar a realidade como um todo, dividir-se-ia este todo
em partes, descrevendo suas características principais após criteriosa
observação, estabelecer-se-iam as relações que cada parte tinha com a outra
e, somar-se-iam estas várias partes para ser a noção do todo sistematizado.
Eis, em rápidas palavras, o método científico, de fundamentação positivistanacionalista, que os geógrafos brasileiros identificavam como o único capaz
de resolver os problemas da ciência e da sociedade brasileira (1995, p. 5556).
30
Na concepção de Vlach (2004), a importância que Delgado de Carvalho conferiu ao
ensino de Geografia liga-se inextricavelmente à ideologia do nacionalismo patriótico, e, significativamente, a ciência geográfica deveria fornecer-lhe os fundamentos lógicos, com o fim de
atingir um “patriotismo verdadeiro, esclarecido e inteligente”; daí o seu propósito de edificação da Geografia científica no Brasil. Caracterizando esta ideologia como um processo inadiável da formação da nação brasileira, Vlach (2004) assim conclui:
Se a irrupção do Brasil como Estado independente em 1822 já havia colocado a formação da nação como a questão por excelência da arena política
brasileira, o fato é que quase não se havia avançado nesse sentido. Assim,
essa questão foi apontada por líderes políticos e intelectuais como essencial
no período que, grosso modo, estende-se da Proclamação da República
(1889) até meados da década de 1950. A maior parte dos líderes políticos e
intelectuais, independente de suas concepções e projetos para o Estado brasileiro, entendiam que a educação do povo era a única alternativa para a realização desse amplo e complexo processo, dadas as especificidades de uma
sociedade cujas lideranças indagavam, entre o final do século XIX e as duas
ou três primeiras décadas do século XX, se a mestiçagem (biológica e cultural) não inviabilizaria o futuro do Brasil como Estado-nação. Por outro lado,
não lhes passava despercebido que a ideia de nação permitiria esconder as
diferenças entre as formações sociais brasileiras! Daí haverem compreendido, finalmente, que a nação brasileira já não podia se limitar às elites e a
seus representantes políticos. Contribuir de maneira efetiva para formar um
único povo, uma única nação, eis o desafio da educação no início do século
XX (p. 195).
E assim, no sentido de criar condições para que o ensino de Geografia desempenhasse
seu papel de “disciplina de nacionalização”, Delgado de Carvalho organizou, no âmbito da
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, o Curso Livre Superior de Geografia, em 1926. O
público que esse Curso Livre visava atingir era constituído por professores primários, que
careciam de oportunidades para entrarem em contato com o que Delgado de Carvalho denominou de “orientação moderna em Geografia”.
É, pois, nesse contexto que Haesbaert (2005) afirma que ao longo da história do
pensamento geográfico podemos identificar diversas fases em que foram enfatizadas de forma
distinta as múltiplas dimensões da produção do espaço Na própria obra do maior clássico da
Geografia Regional, Haesbaert (2005), com base no estudo de Ozouf-Marignier e Robic
(1995) identifica três destas fases: uma primeira pautada num certo determinismo físiconatural, uma segunda fase, em que se pode identificar uma espécie de transição da região de
bases naturais para uma região definida, sobretudo pela ação humana e uma terceira, em que
ocorre a introdução da concepção de região econômica, e de forma indireta, de região
funcional.
31
Castro (2009) acredita que tendo como objeto o conhecimento dos conteúdos e das
dinâmicas espaciais, os estudos geográficos sempre ofereceram um importante recurso para a
necessidade de controle do território “que se consubstanciava no exercício do poder através
tanto da expansão dos impérios da Antiguidade como através do aparato burocráticoinstitucional do Estado moderno.” (p. 42).
A noção de região natural atende, portanto, a duas importantes exigências que recaem
sobre o discurso geográfico naquele momento. Dotada de um “conteúdo pátrio”, afina-se
inteiramente com o viés nacionalista que permeia esse discurso. Como construção conceitual
que confere à Geografia uma aura de cientificidade e uma identidade própria, aparece como
componente chave no campo didático.
No entender de Fabio Guimarães (1941), o aparecimento da Geographia do Brasil de
Delgado de Carvalho, em 1927, marcou uma nova evolução do ensino de Geografia em nosso
país. Sobre esta obra acrescenta:
Pela primeira vez um livro didático em que a Geografia Regional do Brasil
merecia realmente tal nome, em vez do estudo feito até então pelas unidades
políticas isoladas, eram estas agrupadas, e dentro da cada quadro regional
passava a ser estudada quer a Geografia Física, quer a Geografia Humana (p.
346).
É também Fábio Guimarães (1941) que, ao afirmar que “há muito os geógrafos já
fixaram o conceito de região natural de modo relativamente simples”, comenta:
Deriva (o conceito de região) de dois grandes princípios que servem de base
à Geografia moderna: o princípio de extensão, que serve de base ao estudo
da distribuição dos fenômenos pela superfície terrestre, respondendo às
perguntas “onde” e “até onde”, aliado ao princípio da conexão, do qual
resulta o estudo das inter-relações existentes entre os fenômenos que
ocorrem no mesmo local. Uma região natural só pode, pois, ser determinada,
após a análise da distribuição dos fatos geográficos e das influências
recíprocas que esses fatos exercem entre si numa dada extensão (p. 325).
As publicações de Delgado de Carvalho, neste sentido, se afinam perfeitamente com
uma preocupação das elites políticas e intelectuais da época: difundir os valores pátrios nas
novas gerações e em amplos setores da sociedade. O conhecimento que nele se pretende
ministrar, no entanto, não deveria suscitar nenhuma dúvida sobre sua legitimidade, tendo,
portanto, que apresentar-se ao mesmo tempo como “científico e socialmente necessário.
Para entendermos melhor o que foi exposto acima se faz necessário recorrer a um
conceito muito caro à Geografia, o de região.
32
1.4 Origem e evolução do conceito de região
Etimologicamente o termo região, segundo Moreira (1993, p. 7), “vem de regere, que
quer dizer, dirigir, governar, expressão de claro matiz militar e estadual”. Para Gomes, o
termo região remonta aos tempos do Império Romano, quando a palavra regione era utilizada
para designar área, independente ou não, que estava subordinada ao Império.
Outros conceitos de natureza espacial passaram a ser utilizados na mesma época, tais
como os conceitos de espaço (spatium) e o de província (provincere). Naquele momento, o
espaço era visto como contínuo, ou como intervalo, no qual estão dispostos os corpos
seguindo certa ordem neste vazio e a província como área atribuída ao controle daqueles que a
haviam submetido à ordem hegemônica romana.
O Império Romano passa a ser representado por mapas nos quais as diversas regiões
representam a extensão espacial do poder central hegemônico, sendo que nelas os governantes
dispunham de alguma autonomia, mas deviam obediência e imposto à cidade de Roma
(GOMES, 1995, p. 51).
Com o fim do Império Romano seguiu-se o processo de fragmentação regional que
desembocou no poder descentralizado de territórios regionais do período feudal. A própria
Igreja reforçou este regionalismo político, ao utilizar o tecido destas unidades regionais como
base para o estabelecimento de sua hierarquia administrativa. Neste caso, também fica
evidente a relação entre a centralização do poder às várias competências e os níveis diversos
de autonomia da cada unidade, da complexa burocracia administrativa desta instituição.
(GOMES, 1995).
O surgimento do Estado Moderno na Europa no século XVIII, trazendo como discurso
predominante a afirmação da legitimidade do Estado e da união regional em face de um
inimigo comercial, cultural ou militar exterior, faz surgir o problema destas unidades
espaciais (GOMES, 1995).
Já para Lencioni (1999), o conhecimento dos lugares era de interesse prioritário para o
poder político e econômico do Estado-nação. Os interesses hegemônicos deveriam estar
garantidos não apenas pelo domínio dos povos subjugados, mas também, no âmbito interno
das nações dominantes, pela construção ideológica de que aqueles interesses seriam de
proveito de todos.
A partir do final do século XIX e início do século XX, a consolidação da forma
moderna do Estado como um projeto territorial e socialmente enraizado teve no nacionalismo
um recurso ideológico necessário. Neste contexto, a disciplina Geografia foi instituída nas
33
escolas, com o objetivo da construção e afirmação da nacionalidade. Mas tal prerrogativa não
se deu apenas com a Geografia. Para Castro (2009):
Em toda a história de disputas entre povos e nações a prerrogativa de um
conhecimento, em qualquer campo, sempre representou um trunfo
importante para a dominação, ou seja, um recurso do poder e um fator do
desequilíbrio entre os povos, os Império e os Estados (p. 43).
Na opinião de Lencioni (1999), há, na atualidade, dois grandes marcos de
interpretação acerca do objeto da Geografia: o primeiro entende que a Geografia estuda a
relação entre o homem e o meio, e o segundo a concebe como um campo de conhecimento
particular voltado para o estudo das diferenciações das áreas; ambos, no entanto, apresentam
concepções diferentes de região. Na primeira concepção a região existe em si mesma, ou seja,
ela é autoevidente e cabe ao pesquisador reconhecê-la por meio de estudos a priori. No
segundo caso, a região não existe em si mesma, ela não é objeto de estudo no significado
restrito do tempo, pois ela se conforma no final do processo de investigação, processo esse
que com a elaboração de critérios definidos no processo de investigação constrói o recorte
espacial.
A mesma autora (1999) adverte-nos sobre os motivos de o tema região estar tão
obscurecido, afirmando que isto decorre de quatro fatores fundamentais: O primeiro é que a
realidade aparece cada vez mais como sendo homogênea e indistinta, fazendo com que as
diferenças pareçam anuladas. A partir daí a região parece se diluir imersa no homogêneo.
Entretanto, nas fissuras dessa homogeneidade emergem as diferenças, cujo exemplo mais
agudo são os regionalismos que surgem como força política.
O segundo fator, continua Lencioni (1999), é que a noção de região, até recentemente,
estava bastante vinculada à de planejamento regional, e como houve uma desmontagem dos
planos de desenvolvimento regional, associou-se um descrédito à noção de região. Ou seja, “o
descrédito decorrente da instrumentalização da noção de região se transferiu para a própria
noção de região, fruto de uma impropriedade teórica e metodológica” (p. 203).
Um terceiro fator está relacionado à multiplicidade de estudos regionais que se
tornaram uma enfadonha repetição de formulações teóricas e metodológicas banalizadas,
chegando a se transformar em estudos sem criatividade, muito embora tenham algum mérito
científico. E, finalmente, aponta que é na discussão a respeito da noção de região que se
coloca claramente a questão da unidade da disciplina geográfica, o que a autora salienta: “a
questão da unidade não diz respeito à Geografia regional, ela se constitui numa questão
34
central da própria disciplina geográfica” (p. 203).
Outro autor também pode ser trazido para este debate, tendo em vista sua produção
sobre o conceito de região. De acordo com Corrêa (2007), a utilização do termo região entre
os geógrafos não se faz de modo harmônico. ”Ele é muito complexo. Queremos dizer que há
diferentes conceituações de região” (p. 22). Na sua concepção, o termo região deve ser
abordado sob dois pontos: região deve ser vista como um conceito intelectualmente
produzido. E completa: “Partimos da realidade, claro, mas a submetemos à nossa elaboração
crítica, na sequência, procurando ir além da sua apreensão em bases puramente sensoriais.
Procuramos captar a gênese, a evolução e o significado do objeto, a região” (p. 22-23).
Em segundo lugar, o mesmo autor deixa claro que todos os conceitos de região podem
ser utilizados pelos geógrafos. E conclui: “Todos eles são meios para se conhecer a realidade,
quer num aspecto espacial específico, quer numa dimensão totalizante: no entanto, é
necessário que explicitemos o que estamos querendo e tenhamos um quadro territorial
adequado aos nossos propósitos” (p. 23).
Na concepção de Santos (1994), geógrafos dos mais renomados e das mais diversas
origens tiveram na região um domínio de aprofundados estudos, tanto ao nível de teorização,
como no campo dos trabalhos empíricos. Mas as mudanças que o território vai conhecendo,
nas formas de sua organização, acabam por obrigar a renovação das categorias de análise.
Sobre o conceito de região ele assim afirma:
Durante um longo período muitos a estudaram isoladamente do mundo como
um todo. Viam-na como uma entidade autônoma, com aspectos particulares,
o que equivale a dividir o mundo em uma infinidade de regiões
autossuficientes, mantendo poucas relações entre si. Mas o mundo mudou e
as transformações são cada vez mais intensas [...] Compreender uma região
passa pelo entendimento do funcionamento da economia ao nível mundial e
seu rebatimento no território de um país, com a intermediação do Estado, das
demais instituições e do conjunto de agentes da economia, a começar pelos
seus atores hegemônicos [...] Estudar uma região significa penetrar num mar
de relações, formas, funções, organizações, estruturas, etc., com seus mais
distintos níveis de interação e contradição (SANTOS, 1994, p. 45-46).
Partindo de outros pressupostos, Gomes (1995), que concorda em parte com Corrêa
(2007), adverte que há três grandes domínios nos quais a noção de região está presente.
O primeiro é a própria linguagem cotidiana do senso comum. Aqui os princípios
fundamentais são o de localização e extensão. E acrescenta: “Empregam-se expressões como:
a região mais pobre, a região montanhosa ou a região da cidade “X”. Percebe-se que os
critérios são diversos, não há precisão nos limites e a escala espacial também varia conforme
35
aquilo que se quer expressar” (p. 53).
O segundo domínio, continua Gomes (1995), é o administrativo, ou seja, a região é
vista como uma unidade administrativa. Sabe-se que desde o fim da Idade Média as divisões
administrativas foram as primeiras formas de divisão territorial presentes no desenho dos
mapas. Nesse caso, a divisão regional é a base para definição e exercício do controle na
administração dos estados e de suas subunidades, quando for o caso. Assim completa: “É
preciso destacar que muitas vezes empresas e instituições (como a Igreja Católica) utilizam os
recortes regionais para delimitação de circunscrições hierárquicas administrativas” (p. 54).
O terceiro domínio, ainda segundo Gomes (1995), é o das ciências em geral nas quais
o emprego da noção resguarda a etimologia, pois região é vista como área sob certo domínio
ou área definida por uma regularidade de propriedades que a definem.
Castro (1994) procura identificar os "paradigmas subsumidos" nos mais influentes
modos de ver a região, ao mesmo tempo em que procura tratar também da questão da escala
espacial, pensada como exercício epistemológico de integração e não como exercício
matemático de representação cartográfica. Tendo em vista que a utilização do conceito de
região envolve sempre um determinado nível escalar, o qual pode variar, por exemplo, de
níveis correspondentes a um quarteirão ou a um hemisfério. Retoma o tema região, tentando
superar os impasses metodológicos que os paradigmas científicos clássicos e as diferentes
perspectivas geográficas lhe impuseram (CASTRO, 1994, p. 12).
O paradigma clássico dirigiu as pesquisas geográficas, tanto através da sua vertente
positivista, como da dialético-materialista, e ambas trouxeram avanços e problemas para a
pesquisa regional. Na vertente positivista, o primado da disjunção e da redução do complexo
ao simples impôs essa escala regional como ponto de partida metodológico, valorizando a
indução e minimizando as possibilidades da dedução. Na vertente materialista, a determinação
da base material, num bem estruturado edifício teórico-metodológico, no qual a totalidade
impunha-se inexoravelmente sobre a unidade, eliminou as possibilidades explicativas da
escala regional a dedução a partir de um construto teórico que não dava espaço a
singularidades e particularidades.
A vertente positivista privilegia a escala regional, e a materialista a escala planetária.
Tem-se aí "duas armadilhas" metodológicas para a geografia: a perspectiva lablachiana, a
mais influente na primeira vertente, aprisionou a escala planetária submetendo-a à regional; a
perspectiva materialista aprisionou a escala regional, submetendo-a à planetária (CASTRO,
ibidem, p. 57).
Castro (idem) propõe uma alternativa metodológica para a região e o lugar, centrada
36
em três premissas principais: a superação dos determinismos; o reconhecimento como questão
central da complexidade dos fenômenos e a consideração da escala como problema
fenomenológico e não matemático. Isto porque, para ela a realidade, que é complexa, coloca-se diante do particular que se articula com o geral, da unidade contida no todo e do singular
que se multiplica. Indica ainda, em linhas gerais, que a reconsideração do conceito de região
sugere certa aproximação entre os conceitos de região e território. Para ela, “a região pode ser
vista como um acumulador espacial de causalidades sucessivas, perenizadas numa porção do
espaço geográfico, verdadeira estrutura sujeita na relação histórica do homem com seu
território” (CASTRO, ibidem, p. 61).
Tal proposta é definida também por Gomes, o qual a favor desta tese afirma:
De qualquer forma, se a região é um conceito que funda uma reflexão
política de base territorial, se ela coloca em jogo comunidades de interesses
identificados e certa área e, finalmente, se ela é sempre uma discussão entre
os limites da autonomia face a um poder central, parece que estes elementos
devem fazer parte desta nova definição em lugar de assumirmos de imediato
uma solidariedade total com o senso comum que, neste caso da região, pode
obscurecer um dado essencial, o fundamento político de controle e gestão de
um território (GOMES, op. cit., p. 73).
Outro autor ainda é chamado para este debate, tendo em vista as suas contribuições.
Haesbaert identifica como pressupostos básicos do debate regional em Geografia
propriedades que permearam todo o discurso geográfico regional ao longo de sua história, tais
como: a singularidade ou diferenciação espacial; a coesão ou integração entre diferentes
dimensões do espaço; a relativa estabilidade e continuidade espacial e a relevância das
mesoescalas, procurando verificar até que ponto esses pressupostos estariam sendo colocados
em xeque dentro do processo globalizador-fragmentador em curso (HAESBAERT, 1999).
Apesar da unificação crescente dos mercados e da globalização de uma economia
capitalista de padrão neoliberal, a diferenciação espacial e, mais ainda, a reprodução das
desigualdades, é um fenômeno crescente. Quanto ao segundo pressuposto, afirma ainda que
seja possível optar por um ou por alguns elementos constituintes do espaço regional,
reconhecido(s) como seu(s) "elemento(s) integrador(es)". Ainda como parte de suas
conclusões, ele adverte que o que parece cair por terra é a pretensão de, com um único padrão
de elementos estruturantes, tentarem "regionalizar" o espaço geográfico como um todo.
Em obra mais recente, Haesbaert (2003) faz um balanço da trajetória de "mortes" e
"ressurreições" da região, discutindo suas idas e vindas ao longo do pensamento geográfico e
delimita então três "mortes" (e subsequentes "ressurreições") da região: a primeira "morte"
37
teria sido decretada nos anos 1950-1960 pelo cientificismo neopositivista da chamada New
Geography ou, como a denominamos anteriormente, geografia nova, ou ainda Geografia
quantitativa, de matriz anglo-saxônica, frente ao amplo domínio na Geografia clássica,
especialmente a de matriz francesa, lablachiana, acusada de priorizar o único e impedir assim
a construção de leis universais; quando não propagava o "fim" da região destacava a sua
grande fragilidade conceitual.
Uma segunda "morte" teria sido decretado pelo marxismo, principalmente no período
inicial de incorporação desta corrente teórica na Geografia, quando a região foi considerada
um conceito-obstáculo (LACOSTE, 1975) ou, a fim de não “fetichizar” o espaço, foi proposto
trabalhar com região em sentido estrito (MARKUSEN, 1981) afirma Haesbaert.
A terceira "morte" foi estabelecida por muitos "globalistas" e/ou "pós--modernistas"
que viram na globalização um processo homogeneizador das especificidades regionais, ou
pelo viés da fragmentação (em interpretações pós-estruturalistas), uma diluição das
"mesoescalas" regionais em detrimento da diferenciação a nível local, as relações local-global
como o novo jogo de escalas a ser priorizado (no lugar daquele entre regional e nacional)
(HAESBAERT, 2003).
O debate tem continuidade com as contribuições de Breitbach (1987), que acredita que
a região é uma realidade objetiva, dotada de elementos que podem ser identificados e
analisados. Passíveis, portanto, de exame de acordo com procedimentos científicos
adequados, as consequências de uma utilização indisciplinada e subjetiva do conceito de
região se fazem sentir, com muita ênfase, principalmente quando se trata de planejamento
regional. No entender da autora, frequentemente, o conceito de região, subjacente a planos e
programas normalmente disponíveis, não ultrapassa em muito as abordagens geográficas e
administrativas no sentido estrito, quer dizer, a delimitação meramente territorial do espaço.
A mesma autora trata de forma sucinta das principais correntes de abordagens sobre
região que, direta ou indiretamente, contribuíram para a formação de um arcabouço teórico
sobre o tema. No seu entender, as primeiras contribuições sobre a formação de regiões estão
agrupadas na chamada Escola Alemã, cujos estudiosos não estavam explicitamente
preocupados com o estudo de região, mas sim com os problemas locacionais da atividade
produtiva, e Johann Heinrich von Thunen (1783-1850) foi o pioneiro das teorias de
localização das atividades econômicas (BREITBACH, ibidem).
Ainda na mesma obra, a autora reconhece a importância do geógrafo alemão Walter
Christaller que, em seu livro Die Zentralen Orte in Suddeutschand (1933), trabalha com
conceitos bastante elaborados, como centralidade, região complementar e hierarquia que
38
compõem os alicerces de sua Teoria do Lugar Central, cuja riqueza de desdobramento até
hoje em curso demonstra a importância do papel pioneiro desse geógrafo.
São duas as principais contribuições de Christaller para a caracterização do fenômeno
regional: sua percepção de que a um centro urbano corresponde uma região complementar, e
de que entre eles existe uma relação de dependência, e a sua noção de hierarquia, que revela a
importância da dominação de um lugar sobre outro de ordem inferior, fenômeno que pode ser
verificado na prática, mesmo atualmente e em diferentes países do mundo (BREITBACH,
ibidem).
Losch, Perroux e Boudeville constituem formulações avançadas sobre o conceito de
região, cujas características estão em Alejandro Rofman que, julgando ter atingido uma
primeira acepção de região, resume como sendo a apropriação geográfica dos fenômenos
econômico-sociais que acontecem em toda a formação social (ROFMAN, 1974, p. 51 apud
BREITBACH, op. cit.).
Compreende-se que, devido ao grau de abstração que tal formulação encerra, o autor
parta para a tarefa de situar historicamente uma formação regional dada, apontando, com
maior nível de detalhe, os diversos aspectos diferenciados das regiões no interior de um
sistema nacional.
Na mesma obra Breitbach recorre ainda a Coraggio cuja contribuição é apresentar a
regionalização como um resultado da divisão territorial do trabalho dentro de um marco
conceitual que absorve a realidade social como uma totalidade histórica. A região, portanto,
resulta da regionalização dos processos sociais e deve ser analisada a partir da dinâmica da
reprodução social. Depois, a Alain Lipietz para o qual a região aparece como produto das
relações inter-regionais, ou seja, a região não existe como um ser preexistente e autodefinido.
A região é um processo integrado ao movimento do capital no sentido de sua valorização. E
termina apontando uma linha através da qual o estudo da região poderia encontrar um
desdobramento fértil: tratá-la de um caso concreto, ou seja, uma região física e historicamente
situada (CORAGGIO apud BREITBACH, op. cit.).
No entender de Oliveira (1977), a mais enraizada das tradições conceituais de região é,
sem dúvida, a geográfica no sentido amplo, que surge de uma síntese inclusiva da formação
socioeconômico-histórica baseada num certo espaço característico. Procurando definir,
entretanto, uma região econômica e política, afirma:
Num sistema econômico de base capitalista, existe uma tendência para a
completa homogeneização da reprodução do capital e de suas formas, sob a
39
égide do processo de concentração e centralização do capital, que acabaria
por fazer desaparecer as “regiões” [...]. Tal tendência quase nunca chega a
materializar-se de forma completa e acabada, pelo próprio fato de que o
processo de reprodução do capital é, por definição, desigual e combinado (p.
27).
Alguns autores influenciados por Gramsci (1978) tentam negar a existência de uma
questão regional, em face do avanço e do aprofundamento das relações capitalistas por todo o
território nacional e da consequente homogeneização do espaço, parecendo uma questão
sociocultural que o capitalismo dissolve, afirma Andrade (1993). No entanto, o referido autor
acredita que o avanço das relações capitalistas provoca transformações nas características da
questão regional em suas exterioridades, mas, em vez de eliminá-la, ela agrava, aprofunda a
questão.
Como podemos observar, o conceito de região nos remete a uma discussão intensa,
que, porém, se faz necessária para entendermos as questões políticas e econômicas, pois
embora estas sejam eminentemente geográficas estão profundamente ligadas a origens
históricas e antropológicas.
Pelo exposto concordamos com Corrêa (2007), quando afirma que todos os conceitos
de região podem ser utilizados pelos geógrafos, e que “todos eles são meios para se conhecer
a realidade, quer num aspecto espacial específico, quer numa dimensão totalizante: no
entanto, é necessário que explicitemos o que estamos querendo e tenhamos um quadro
territorial adequado aos nossos propósitos” (p. 23).
A seguir destacaremos como o conceito de região foi construído por Delgado de
Carvalho na sua obra destinada ao ensino de Geografia, no início do século XX, no Brasil.
1.5 Geographia do Brasil de Delgado de Carvalho - 1927
A obra Geographia do Brasil - Tomo II de autoria de Delgado de Carvalho, publicada
no ano de 1927, é considerada de tamanho pequeno, para os padrões de hoje, feita em preto e
branco, com formato de um retângulo, é escrita em papel comum; por ser uma obra que dá
continuidade a outra, inicia-se na página 240 e vai até a página 481.
Vejamos como se encontra hoje a referida obra:
40
Figura 01: Foto da contracapa do livro Geografhia
do Brasil, Delgado de Carvalho, 1927
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes, 2009
Figura 02: Foto da nota preliminar do livro Geografhia do Brasil,
Delgado de Carvalho, 1927
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes, 2009
41
Figura 03: Foto da página 274-275 do livro Geografhia do Brasil,
Delgado de Carvalho, 1927
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes, 2009
Iniciando sua obra, com uma Nota preliminar da 1ª edição da II Parte, o autor
demonstra sua preocupação com as mudanças que ocorriam na sociedade global da seguinte
maneira:
Com quartoze anos de atrazo, apparece hoje a segunda parte da Geographia
do Brasil. Já em 1913, estava escripta esta “synthese geographica”,
promettida na 1ª Edição. Resolvido então a imprimil-a na Europa, onde
residia, fui obrigado pelas circunstancias a adiar a sua publicação. Passados
alguns annos, logo depois da Guerra, tive de modifical-a consideravelmente,
para adaptal-a as mais recentes publicações geographicas. Estava prompta a
segunda redacção, quando modificações no programma do Collegio Pedro II,
em boa hora effetuadas pelos cathedraticos de geographia, Srs. Raja
Gabaglia e Honorio Silvestre, mais uma vez tornaram meu trabalho
inadequado às necessidades do ensino. Principiei então, em 1923, uma
remodelação ainda mais completa da “Synthese Geographica”.
Os progressos, tão rápidos e tão profundos, de nossa litteratura geographica,
realizados pelos esforços continnos de algumas de nossas repartições
scientificas, como o Serviço Geológico e Mineralógico, como a Directoria
de Meteorologia, como o Museu Nacional, como a Directoria Geral de
Estatística, como a Inspectoria de Obras contra as Seccas do Nordeste, como
a Commissão Rondon, etc., esforços estes promovidos por personalidades de
alta competência e patriotismo, como Arrojado Lisboa, Euzébio Paulo de
Oliveira, Arthur Neiva, Roquette Pinto, Bulhões Carvalho, Rondon, Sampaio
Ferraz, auxiliados por esforços isolados de scientistas como J. G. Branner, de
saudosa memória, Oliveira Vianna, Paulo Prado, V. Correia Filho, Ev
Backheuser, Padberg, G. Pawels, Alberto Rangel e muito outros,
42
necessitavam forçosamente um adiantamento desta publicação para poder,
nos limites do possível, apresentá-la em dia e a par de tão brilhante
producção.1
No Brasil da década de vinte, o discurso regionalista da segunda metade do século
XIX que se caracterizava pelo apego a questões provincianas ou locais, dá lugar a um novo
regionalismo, que extrapola as fronteiras dos estados, que busca o agrupamento em torno de
um espaço maior, diante de todas as mudanças que estavam destruindo as espacialidades
tradicionais. Sobre este período Albuquerque (2001) afirma:
O convívio tranquilo entre olho e espaço era profundamente transtornado e
transformado pelo crescente advento dos artifícios mecânicos. O espaço
perdia cada vez mais sua dimensão natural geográfica para se tornar uma
dimensão histórica, construída pelo homem. As cidades em crescimento
acelerado, a rapidez dos transportes e das comunicações, o trabalho realizado
em meios artificiais aceleravam esta “desnaturalização” do espaço. O
equilíbrio natural do meio é quebrado. Nas metrópoles se misturavam
épocas, classes, sentimentos e costumes locais os mais diversos. Os espaços
pareciam se partir em mil pedaços, a geografia entra em ruínas. O real
parecia se decompor em mil planos que precisavam ser novamente
ordenados por homens atônitos. Para isso de nada valiam as experiências
acumuladas, pois tudo na cidade era novo, era chocante.
Mas a emergência de uma nova ideia de região não nasce apenas da
mudança na sensibilidade em relação ao espaço, da mudança de relação
entre o objeto, a região e o sujeito cognoscente; mas esse novo regionalismo
nasce da mudança mais geral na disposição dos saberes, a qual provoca,
inclusive, a mudança nas posições recíprocas e o jogo mútuo entre aquele
que deve conhecer e aquilo que é objeto do conhecimento. Mudança não
apenas na forma de olhar o referente, este espaço fixo, mas a emergência de
um novo modo de olhar e um novo objeto para ser visto. A esta mudança
geral na disposição dos saberes chamamos de emergência de uma nova
formação discursiva (ALBUQUERQUE, 2001, p. 47-48).
A vida político-econômica e cultural brasileira toma novos rumos a partir da década de
1930. Sob o governo de Getúlio Vargas grandes transformações são operadas na sociedade e
nos estados brasileiros determinando os rumos posteriores do país. Deixando a condição
agrário-esportadora, o Brasil se transforma em um país urbano-industrial e produz um novo
modelo institucional que permitiu não só a construção de sua unidade nacional, mas,
sobretudo, da nova sociedade brasileira. São criados entre 1930 e 1945 pelo governo federal
comissões, conselhos, departamento, institutos, companhias, fundações, planos de
desenvolvimento econômico e cultural, promulgadas leis e decretos, enfim, é gerada e posta
em prática uma série de instituições e medidas (MACHADO, 2000).
1
Apresentaremos as citações dos livros de períodos anteriores, utilizando a mesma forma de redação da obra
original.
43
O surgimento de tais órgãos vinculava-se, assim, às novas características assumidas
pelo Estado: um Estado promotor, organizador e mecenas do mundo econômico e cultural.
Para que fosse possível a criação de instituições verdadeiramente nacionais, governo e
intelectuais, entre 1920 e 1930, pareciam estar de acordo com relação à importância e
necessidade de aprofundar o conhecimento da cultura nacional. A construção dessa nova
nacionalidade se torna debate efervescente no movimento modernista, movimento que
redireciona a arte e a cultura brasileira; este ambiente é marcado pela comemoração do
centenário da Independência do Brasil e a realização da Semana de Arte Moderna, ambas em
1922.
Iniciando a referida obra, Delgado de Carvalho (1927), sobre o nacionalismo patriótico,
escreve:
[...] Para amar a sua terra intelligentemente e servi-la utilmente, convém
conhecer os seus verdadeiros interesses, interpretar as suas necessidades
actuais, e, sabendo o que foi feito ao passado, poder julgar o que resta a fazer
no futuro: o que o Brasil realmente espera de cada um de nós. É
indispensável, pois, este preparo preliminar, um tanto superficial, mas largo
e sincero, para preparar a nossa mocidade a haurir com proveito
ensinamentos mais altos, que elevam a alma nacional e fortalecem o espírito,
encontrados nas paginas dos mestres, dos professores de energia como
Alberto de Faria, Calogeras, Oliveira Lima, Taunay e outros que são a honra
da nossa nacionalidade e o orgulho de nossa raça.
Venho tarde é verdade, mas espero ainda poder trazer a minha contribuição à
grande obra da educação nacional, cumprindo com minha promessa de 1913.
Durante todos estes annos, me tenho batido pelo ensino moderno da
geographia entre nós: tenho escripto e tenho falado, mas só agora me foi
dado trazer a expressão do meu pensamento, em matéria de geographia
pátria, dando uma fórma concreta, aliás, defectuosa e pallida, uma
applicação lâmida das ideias que venho defendendo (p. 240).
Não podendo esquecer-se das influências que a disciplina escolar Geografia sofreu das
políticas educacionais e do contexto econômico, social e político que lhes determinam,
Delgado de Carvalho defendeu a posição de que a Geografia pátria deveria ser a base e o
ponto de partida dos estudos referentes à fisiografia e à geologia do globo terrestre. No seu
entender, a antropogeografia ratzeliana deveria dar a tônica das análises e os professores
deveriam atribuir a devida importância ao elemento humano nas suas explanações, já que,
para a moderna Geografia era o homem o verdadeiro objeto do estudo geográfico (ROCHA,
2009).
Silva (2006), considerando o livro didático de Geografia uma materialidade histórica,
procurando os aspectos constitutivos de sua trajetória e tendo em vista a reorientação
44
empreendida por Delgado de Carvalho, passa a incursionar por alguns pontos históricoideológicos importantes desse material e distingue três momentos: o nacionalismo-patriótico,
o desenvolvimento de base nacionalista e a construção democrática da cidadania.
No entender de Silva (2006), o “motor ideológico do nacionalismo-patriótico” (p. 84)
era acionado como uma forma de auxiliar a formação do Estado-nação brasileiro, entendida
como a homogeneização de um povo harmônico, partilhando uma tradição histórica, uma
língua e um território.
Pelo menos dois momentos são distinguíveis no flanco ideológico dessa acepção de
pátria, no que concerne aos livros didáticos de Geografia, salienta Silva (2006): o primeiro, a
tentativa de racionalizar e fazer a pátria conhecida por meio da compreensão científica de sua
composição geográfica e, segundo, o endosso de um imaginário sobre a pátria como política
efetiva do Estado.
A primeira fase dessa ideologia está nos objetivos da ruptura teórico-metodológica
proposta por Delgado de Carvalho, e a segunda é a voz da lei, anos mais tarde, a partir de
1938, com o decreto 1.006, que afirmava uma nova enunciação para o livro didático, dentre os
quais o de Geografia. É evidente que as novas propostas que vinham das obras de Delgado de
Carvalho, seriam objetos de descontentamentos, críticas, reações adversas de toda ordem.
Demonstrando o quanto seria difícil no Brasil a penetração da orientação moderna nas salas
de aula, chamou atenção para os pontos que se apresentavam como principais empecilhos
para a efetivação da renovação por ele desejada:
A falta de vulgarização dos modelos e typos do novo curso geographico,
cujo conhecimento é ainda restricto a meia dúzia de estudiosos; a dificuldade
de alcançar e reunir os professores de geografhia; e caso seja possível
alcançal-os, a dificuldade de convencel-os de que o que estiveram ensinando
até hoje poucas relações tem com a verdadeira geografhia (CARVALHO,
1925, p. 09).
Os conflitos que permearam a introdução da nova orientação teórico-metodológica nas
salas de aulas brasileiras foram, evidentemente, naturais, haja vista que sendo a Geografia
escolar um construto sociocultural, não é possível a realização de mudanças, sobretudo as
substanciais, sem embates, pressões e contradições. Discutindo sobre o uso de seus livros no
curso secundário, Delgado de Carvalho, na sua obra denominada Tomo II de Geographia do
Brasil, com o subtítulo Parte Regional, afirma que tal livro deve ser apropriado pelos alunos,
no segundo semestre do ano, quando estes já devem ter estudado a parte geral. Como se vê, o
aluno deveria utilizar dois livros ao longo de um ano letivo: um para estudar a Geografia
45
geral, o Tomo I, e outro para a parte regional, o Tomo II:
Conhecida a parte geral em que são os assumptos de geographia physica e de
geographia econômica apresentados no seu conjuncto, é necessário que
durante a segunda parte do anno lectivo, os jovens brasileiros possam
comprehender de que modo, na parte regional, solicitam a nossa attenção
estes mesmos problemas (CARVALHO, 1927, p. 240).
Assim, iniciado o segundo semestre, o aluno tem pela frente o estudo do problema da
Geografia regional:
O problema da geographia regional tem agora por fim uma revisão destas
feições e destes factores, não sob o ponto de vista das unidades
administrativas ou Estados, mas sob o ponto de vista das unidades
geographicas que existem no paiz (CARVALHO, 1927, p. 241).
A obra de Carvalho não é pioneira no debate sobre região, pois este já tinha iniciado
desde o final do século XIX, porém no que se refere a livros didáticos ela é a primeira a se
debruçar sobre uma regionalização brasileira, tendo em vista que isto havia sido apontado por
Ali Ida (1905), entretanto, esse autor somente estabeleceu a regionalização do Brasil, dando
continuidade aos estudos de estado a estado. Outros intelectuais brasileiros e estrangeiros já
vinham elaborando propostas de regionalização do país há algum tempo; entre eles destacam-se as publicações de Martins em 1843; de André Rebouças em 1889 e de Elisée Rèclus em
1893 (GUIMARÃES, 1941).
No âmbito da escola, como já salientamos, a primeira proposta de regionalização
brasileira foi feita por Manuel Said Ali Ida (1861-1953), no livro Compêndio de Geografia
Elementar, datado de 1905. Tal proposta era assim argumentada:
Se atendermos às finalidades econômicas dos estados entre si e com elas
conciliarmos, tanto possível, as condições geográficas, teremos a seguinte
divisão racional:
- Brasil Central ou Ocidental, compreendendo as cabeceiras dos tributários
amazônicos (e Tocantins-Araguaia): Mato Grosso e Goiás.
- Brasil Setentrional, ou estados da Amazônia: Amazonas e Pará.
- Brasil de Nordeste: Zona a leste das duas precedentes limitada ao sul pelo
rio S. Francisco (trecho inferior), e caracterizada pela falta de rios navegáveis, secas mais ou menos periódicas e pela produção de algodão, açúcar e
gado no interior. Compreende: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
- Brasil Oriental. Região dos estados produtores de café e fumo (além do
açúcar) e situada a leste da linha que assinala a fronteira de Goiás (divisor
d’águas entre o Tocantins e a bacia do S. Francisco), e cujo prolongamento
ao sul é o rio Paraná até a sua confluência com o Paranapanema. Compre-
46
ende os estados: Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
- Brasil Meridional ou região produtora de mate, araucárias e cereais: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (ALI IDA, 1905, p. 136).
Essa proposta, na opinião de Vlach (2004), foi considerada pioneira, pois antes de
qualquer coisa ressalta a apresentação de alguns critérios que tentaram, de fato, considerar “as
influências entre essas regiões e os homens que as habitam”. Tal obra assinalou, não apenas a
preocupação de acompanhar os “progressos geográficos” que ocorriam no exterior, mas, fundamentalmente, representou o marco inicial de discussões de ordem teórico-metodológica,
buscando inaugurar a geografia científica no Brasil.
Na divisão de Said Ali Ida observamos que ele, ao dividir o Brasil em cinco zonas
geográficas (regiões), estava tentando constituir uma análise do Brasil todo, contrapondo-se
absolutamente ao que designamos como o padrão vigente até então: o estudo dos “Estados
Unidos do Brasil”, consoante seus estados-membros, geralmente dividindo-os em marítimos e
interiores, configurando uma divisão meramente administrativa do Estado-nação. Esta
tentativa de análise do Brasil conforme suas regiões, definidas por critérios racionais, passou
despercebida aos demais autores de livros didáticos de Geografia do Brasil da época. Apenas
Delgado de Carvalho (1884-1980), que em 1927 publicou o seu livro Geographia do Brasil,
tomo II, adotou-a. Sob a referida divisão de M. Said Ali, Delgado faz a seguinte menção:
Não somente aceitamos essa divisão sob o ponto de vista racional, como
digna de ser citada, mas passamos a adotá-la totalmente, para amoldar sobre
ela o estudo geográfico, até hoje, exclusivamente baseado sobre a divisão
administrativa do país (CARVALHO, 1913, p. VII).
Delgado de Carvalho representou um nítido avanço em relação à proposta de M. Said
Ali Ida, pois tendo absoluta clareza das limitações que caracterizavam a Geografia do Brasil
nos primórdios do século XX, concentrou, metodologicamente, suas críticas naquilo que, até
então, era entendido como Geografia, e que não hesitou em designar, com propriedade, de
“concepções geográficas tradicionais” e em cujo interior responsabilizou a “geografia
administrativa” e o excesso de “nomenclatura” como obstáculos poderosos ao desenrolar da
Geografia científica, que desejava estabelecer definitivamente na sociedade brasileira. As
críticas de ordem metodológica que fez à Geografia praticada no país decorrem do fato de que
essa Geografia era, a seu ver, prejudicial à lógica da ciência geográfica e à (sua concepção de)
política. Essas críticas podem ser bem esclarecidas no seguinte pronunciamento:
47
Essa divisão [a sua] por regiões naturais virá (...) apenas como um plano de
trabalho, uma tímida protestação contra os métodos de geografia administrativa, erigidos (sic) em princípios absolutos, desnaturando a fisionomia da geografia pátria, falseando o espírito geográfico das gerações escolares e afastando dos estudos geográficos os que neles só encontram descrições áridas,
nomenclaturas carregadas, ausência total de vida e de interesse.
O ensino da geografia pátria é, entretanto, um dever de inteligência e de patriotismo. Aos nossos jovens patrícios não devemos apresentar a geografia
do Brasil como uma disciplina austera e ingrata ao estudo. Por meio de bons
mapas, de gráficos, de perfis, de diagramas, de fotografia, se for possível, é
preciso torná-la fácil e cativante. É pelo conhecimento do país, pela consciência de suas forças vivas que podemos chegar a apreciá-lo o seu justo valor.
O histórico dos acontecimentos econômicos e sociais nos permite compreender sua formação e explicá-la. Em semelhantes estudos será colhido um patriotismo verdadeiro, esclarecido e inteligente, sem frases retumbantes, não
um patriotismo incondicional e cego, mas, sim, justificado e nobre. Afastando assim um pouco a ideia dos estados, teoricamente iguais e equivalentes, tais como estão na constituição, passaremos a salientar os fatores de
diferenciação, de diversificação que fazem completar entre si as zonas
nacionais. Mais eloquente e necessária aparecerá à ideia sacrossanta da união
que fez a honra de nossa história e que faz nosso prestígio e nossa força
(CARVALHO, 1913, p. IX-X).
Sobre a divisão regional do Brasil adotada por Delgado de Carvalho, o professor Fábio
Guimarães afirma:
Dentre as muitas divisões regionais do Brasil até hoje propostas, a melhor
divisão baseada nas “regiões naturais”, e, portanto, de acordo, sobretudo
com os fatos da Geografia Física, é a que foi proposta pelo Professor
Delgado de Carvalho e adotada nos programas de ensino secundário da
Geografia, tendo-se em vista o atual grau de conhecimento relativo ao nosso
território (1941, p. 368).
Tendo em vista o prosseguimento das análises, apresentaremos a descrição da
regionalização do Brasil feita por Delgado de Carvalho no referido livro. Aceitando em parte
a divisão feita por Said Ali Ida (1905), Delgado divide o Brasil da seguinte maneira:
I. Brasil Setentrional ou Amazônico (Acre, Amazonas e Pará);
II. Brasil Norte-Oriental (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco e Alagoas);
III. Brasil Oriental (Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e
Minas Gerais);
IV. Brasil Meridional (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul);
V. Brasil Central (Goiás e Mato Grosso).
Vejamos, então, os seguintes mapas:
48
Mapa 01: Divisão do Brasil em Regiões, segundo Delgado de
Carvalho. (Adaptado) 2
Fonte: CARVALHO, Delgado de. Geographia do Brasil: Tomo II, 1927
(Adaptado por Aldo Gonçalves de Oliveira em março de 2009)
Mapa 02: Divisão do Brasil em Regiões, segundo Said Ali Ida.
(Adaptado) 3
Fonte: IDA, Said Ali. Compêndio de Geografia Elementar, 1905
(Adaptado por Aldo Gonçalves de Oliveira em março de2009)
2
Esse mapa foi editado a partir das informações acerca da divisão do Brasil em regiões, fornecida por Delgado
de Carvalho no Livro: Geographia do Brasil: Tomo II de 1927. A escolha de adaptar essas informações num
mapa está relacionada à nossa preocupação com o leitor, no sentido de lhe fornecer um elemento didático para
compreensão mais profunda do processo de divisão regional do Brasil nos livros didáticos de Geografia.
3 Esse mapa foi editado a partir das informações acerca da divisão do Brasil em regiões, fornecida por Said Ali
Ida no Livro: Compêndio de Geografia Elementar, de 1905. A escolha de adaptar essas informações num mapa
está relacionada à nossa preocupação com o leitor, no sentido de fornecer-lhe um elemento didático para
compreensão mais profunda do processo de divisão regional do Brasil nos livros didáticos de Geografia.
49
Como podemos observar, a modificação importante em relação à divisão proposta por
Said Ali (1905) foi a inclusão de São Paulo na Região Meridional, desligando-o de Minas
Gerais. As demais regiões mantêm-se inalteradas. Antes de Said Ali Ida, entretanto, esta
divisão já havia recebido contribuições de André Rebouças e de Réclus (FÁBIO
GUIMARÃES, 1941).
Trata-se evidentemente de uma divisão prática, para fins didáticos e, por isso, as
unidades políticas tiveram de ser consideradas por inteiro, como explica Delgado de
Carvalho. Baseou-se, porém, numa divisão em “regiões naturais”, sendo os estados reunidos
de modo a formarem grupos a eles semelhantes, o mais possível. É o que mostra o autor
quando lembra que o norte da Bahia deveria pertencer ao Nordeste semiárido (Brasil
Oriental), que parte do Maranhão é francamente amazônico, etc.
O autor, então, enfatiza, já no início do referido livro, a importância das regiões
naturais, mostrando sua vinculação teórica:
Estas unidades geographicas são unidades naturais, isto é, não creadas pelo
homem, pelas tradições históricas ou pela conveniência política, mas
dictadas pelos meios em que vive o homem. É evidente que a planície
amazônica, baixa, super-humida e quente, dotada de mattas equatoriaes, com
riquezas florestaes e fluviaes que determinam certos typos de vida e de
occupação humanas, constitue um meio bem differente do planalto
paranaense, com o seu clima temperado, seus campos geraes que suscitam
typos de actividade em absoluto contraste com os primeiros. São, pois,
“meios geographicos” diversos, que a simples nomenclatura não permite
distinguir: numa região como na outra há rios, há vegetação, há cidades, etc.,
mas os nomes próprios não salientam, por si só, nem os contrastes, nem as
analogias possíveis. Dá-se a estes “meios geographicos”, esboçados em seus
traços característicos mais salientes, o nome de regiões naturaes
(CARVALHO, 1927, p. 241).
[...] O estudo da região natural, de acordo com esta obra, consiste em
‘mostrar as feições physiographicas, mostrando no seu conjunto, agindo e
reagindo umas sobre as outras: relevo, águas, correntes, vegetação, recursos,
populações, nas suas interacções múltiplas (CARVALHO, 1927, p. 242).
A divisão regional feita por Delgado de Carvalho tendo como base a região natural
levava em consideração os elementos naturais da paisagem procurando, além do estudo
fisiográfico, descrever os componentes principais do gênero humano neles presentes, sendo
introduzido um estudo da economia local com base na antropogeografia.
Neste sentido, Fábio Guimarães afirma que as “regiões naturais” que serviram de
fundamentos à divisão de Delgado de Carvalho, constituem a melhor base para os estudos
geográficos de um país como o Brasil ele completa:
50
A divisão do professor Delgado de Carvalho satisfaz perfeitamente ao estudo
da Geografia física e explica também de modo adequado a diferenciação
regional que se observa em muitos fatos humanos, naqueles mais fortemente
ligados ao determinismo geográfico, mais estável e normal (1941, p. 349).
Entretanto, Castro (2009) nos alerta, que como as bases da divisão regional foram
estabelecidas por domínios climáticos, de vegetação e de relevo, o contexto histórico nesta
divisão não foi contemplado. E dessa maneira conclui:
Não foram contempladas outras peculiaridades sociais ou culturais e apenas
os limites administrativos das unidades da federação – estados - foram
considerados. Estes limites certamente facilitaram a tarefa de mapeamento e
de obtenção de informação e expressam as macroestruturas do território
nacional, mas obscurecem, dentro de si, nas escalas dos estados, diferenças
importantes que devem ser ponderadas nas tentativas de compreender
melhor o espaço político do país (p. 198).
Como se pode observar, há algumas contradições na regionalização evidenciada por
Fábio Guimarães, que reconhece que dentro do mesmo estado pode encontrar até mais de uma
região natural e, no entanto, advoga favoravelmente a regionalização feita por Delgado de
Carvalho que não leva em consideração tal questão e termina por definir as regiões levando
em consideração a divisão dos estados brasileiros. Como esta divisão dos estados está
fundamento em processos históricos, também não podemos afirmar definitivamente que esses
processos históricos não foram considerados, como afirma Castro (2009).
Há, portanto, aqui uma complexidade maior na análise do que se denomina região
natural, pois apesar de se reconhecer as características naturais como elemento definidor da
região, os estados são considerados para se estabelecer limites. E como se sabe, a organização
do espaço brasileiro em territórios estaduais foi um processo histórico complexo e que está
diretamente atrelada à apropriação da terra no Brasil. Assim, podemos dizer que mesmo sem
intenção direta, Delgado de Carvalho utiliza alguns aspectos humanos para estabelecer a sua
regionalização.
Defensor inconteste da Geografia moderna na sala de aula, Delgado de Carvalho
propôs que o meio em que vive o aluno se tornasse, em qualquer tema abordado nas salas de
aula de Geografia, assunto principal de estudo, e neste sentido escreve:
Para cada região deve ser referido um esboço do quadro geographico em
uma descripção geral, segue-se para a localização dos centros históricos e
das cidades, uma descripção especial, formada por pequenas monographias
que mais em detalhe revelam a actividade humana neste quadro e nestes
centros políticos (CARVALHO, 1927. p. 242).
51
No livro Geographia do Brasil de Delgado de Carvalho a apresentação de cada região
é feita com uma descrição geral (Item A), em que é comentada a extensão da área, os aspectos
físicos (clima, hidrografia, vegetação e recursos naturais). Em seguida, vem a descrição
política (Item B) – cidades, população e estado, em que cada estado vai sendo apresentado
abordando a situação, os limites e a superfície, como também a notícia histórica que mais o
caracteriza, juntamente com sua população e suas cidades principais. No último item do livro
em análise é feita uma descrição especial, formada, na opinião do autor, de “pequenas
monografhias que mais em detalhe revelam a actividade humana neste quadro e nestes centros
políticos” (CARVALHO, 1927, p. 242). Sobre a importância dessas monografias ele afirma:
É evidente que as monografhias escolhidas pelo programa poderiam ser
facilmente multiplicadas, seria mesmo indicado recorrer à organização de
outras monographias geographicas, com o auxílio do Atlas, do livro, das
estatísticas, e das notas de aula. Semelhantes exercícios de investigação
pessoal e de trabalho original darão maior interesse aos estudos
geográphicos, salientarão a sua applicação e seu valor na prática, e levarão a
um mais profundo conhecimento dos manuais consultados (CARVALHO,
1927. p. 244).
Como podemos observar, Delgado de Carvalho já evidenciava preocupação com a
Geografia ligada ao trabalho de investigação, assim como também se refere ao cotidiano. Esta
Geografia não estaria resumida à utilização apenas do livro didático em sala de aula, mas
também a outros materiais didáticos disponíveis, o que só vem se multiplicando com o passar
dos tempos, criando metodologias que estimulam o aluno à atividade de investigação.
Como se pode observar com este debate, a produção escolar de Delgado de Carvalho
não é uma simples reprodução de um conhecimento produzido fora da escola, como querem
aqueles que defendem a disciplina escolar como transposição didática, como indica
Chevallard (Apud BITTENCOURT, 2004). O livro didático desse autor é reconhecido por
outros intelectuais como um conhecimento criado para a escola e resultado de debates sobre a
escola e não algo produzido fora dela.
Analisaremos, em seguida, a perspectiva que Delgado de Carvalho apresenta sobre a
Região Nordeste do Brasil, na sua obra já citada: Geografhia do Brasil - Tomo II (1927).
1.6 A Região Nordeste no livro didático de Delgado de Carvalho - 1927
É especificamente no capítulo II que o autor apresenta a Região Brasil Norte-Oriental.
Como se pode verificar no mapa anterior, essa região era constituída por parte dos estados do
52
atual Nordeste, como: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Alagoas. Na leitura do capítulo percebemos com curiosidade que o autor, apesar do título que
dá na divisão regional, no decorrer dos textos para se referir à região atualmente denominada
Nordeste, ora utiliza a palavra Norte, ora, recorre à palavra Nordeste, como identificador desta
região:
A semiaridez de certas zonas do Nordeste tem sido talvez, a assumpto mais
debatido que se refere a elle. (CARVALHO, 1927, p 279)
O Nordeste é uma região de colonisação relativamente antiga e a sua
exploração econômica já passou por varias phases, sem, entretanto, esgotar
nenhum se seus differentes recursos naturaes: tudo ainda lá resta por fazer
neste sentido. (CARVALHO, 1927, p. 281)
No povoamento do Norte distinguem-se duas correntes de desigual
importância para a formação territorial, a colonisação pelo littoral e a
colonisação pelo sertão interior. (CARVALHO, 1927, p. 294)
Há certas regiões nortistas privilegiadas sob o ponto de vista agrícola: no
Ceará, por exemplo, o alto rio Salgado e o Valle do Cariry são municípios
agrícolas (algodão, canna e fumo) Crato, Jardim, Milagres, Lavras e Icó. No
Rio Grande é o Valle do Seridó (Jardim, Caicó) que se destaca. Na Parahyba
o littoral planta canna, o interior algodão, o que se repete em Pernambuco e
Alagoas (CARVALHO, 1927, p. 299).
Os annos seccos não são periódicos, mas são conhecidos na historia do
Nordeste desde o seculo XVI. Entre as mais famosas seccas foram
registradas de 1721, de 1777 e de 1793 no XVIII século. (CARVALHO,
1927, p. 301)
Meio termo entre a história local do Extremo-Norte e a historia local do
Norte (ou Nordeste), o Maranhão foi envolvido, successivamente, em ambos
os cyclos historicos e acabou isolado, como provincia do Imperio e Estado
da Republica, mas genuinamente maranhense, de um século para cá. Foi
francez no século XVI, mas não chegou a ser hollandez, como o Nordeste.
(CARVALHO, 1927, p.307).
Acreditamos que esta dificuldade está relacionada ao modo como se compreendia esta
região, ou ainda, ao modo como se pensava as províncias do Norte, a partir de dois temas
centrais: a seca e a cana-de-açúcar. Fábio Guimarães (1941), ao discorrer sobre a
complexidade da divisão regional do país, também faz referência à dificuldade em estabelecer
a área que compõe o Nordeste, e assim afirma:
Quando um autor se refere, por exemplo, ao Nordeste do Brasil, fica-se
frequentemente em dúvida quanto ao trecho do território nacional que ele
quer considerar: para uns, tal região abrange nove estados, desde o
Maranhão até a Baía, enquanto que para outros ela compreende apenas
cinco, do Ceará a Alagoas.
Grande já é o trabalho realizado em nosso país por competentes geógrafos,
quer nacional, quer estrangeiro, desde mais dum século, e, no entanto
divisões regionais diferentes surgem em número cada vez maior; além disso,
observa-se que é justamente quanto à parte mais bem conhecida do Brasil, a
oriental, que maior é a variedade de regiões (p. 381).
53
Castro (1992), em um trabalho que discorre sobre o Nordeste, afirma que este pode ser
analisado em três períodos diferentes: o primeiro, no seu entender, está situado até o final dos
anos de 1940, quando não havia um Nordeste na configuração atual e muito menos uma
“questão nordestina”. Havia, sim, a seca e a cana-de-açúcar como identificadores das
“Províncias do Norte”:
A imagem projetada da região era a caatinga ressequida, a indefectível
carcaça de um boi e os retirantes, magros, com seus pertences entrouxados e
equilibrados sobre a cabeça. Eram as “vidas secas” de Graciliano Ramos,
cujo protesto contra a ordem social injusta era sufocado no cárcere, enquanto
a imagem de sofrimento era apropriada e usada politicamente. Afinal,
tratava-se de um pedaço de país pouco aquinhoado pela natureza. A culpa da
miséria era dos céus e não dos homens (CASTRO, 1992, p. 59).
No entender de Andrade (1993), o conceito de Nordeste, a aceitação de que existe uma
região nordestina, é relativamente novo no Brasil. “Durante o Império e a Primeira República,
os estados hoje nordestinos eram chamados de ‘do Norte’, admitindo-se que o país poderia ser
dividido em duas porções: o Norte e o Sul, a primeira se contrapondo à segunda” (p. 5).
Cabe aqui observar o que Evaldo Cabral de Mello já anotara, qual seja, o Brasil no
longo período que vai do Império ao acaso da chamada República Velha (1822-1930) só
conhecia duas regiões. As províncias e, posteriormente, os estados do Norte – da Amazônia à
Bahia - contrapondo-se às províncias e estados do Sul – do Espírito Santo ao Rio Grande.
Portanto, apenas Norte e Sul, sem nada de Nordeste (SIQUEIRA, 2000).
José Lins do Rego (1901-1957), em sua obra O Moleque Ricardo, bem que caracteriza
este período:
Por toda a parte se reuniam centros operários pró-autonomia de Pernambuco.
O estado inteiro se empolgava com a luta. O país virava-se para os
acontecimentos. Políticos se dividiam numa competição feia. O dr. Pestana
(candidato a deputado) ficou com uma força combatida e exaltada. Os que
contavam com os operários dele faziam do homem um herói. O retrato dele
andava pelos jornais de boné na cabeça, como aquele Lenine, em retrato
popularizado. Os estudantes deixavam a escola, ganhando o estado em
caravanas. Cada dia que se passava, mais os fatos se aproximavam de um
desenlace. O Exército, reforçado com batalhões de outros estados, a esperar
nos quartéis a palavra de ordem. O povo acreditava nos operários. Falava-se
em bomba de dinamite esperando a hora. Soldados e trabalhadores
defenderiam a autonomia do estado. Nos seus discursos o socialista falava
no Leão do Norte. Ele contava com o povo. Morreriam todos, mas
Pernambuco não se entregaria aos aliados do presidente (REGO, 2008, p.
102-103).
54
Para Albuquerque (2001), no início da década de vinte, os termos Norte e Nordeste
ainda são usados como sinônimos, como a própria ideia de Nordeste não havia ainda se
institucionalizado, esse se constitui no seu raciocínio, um momento de transição. O termo
Nordeste é usado inicialmente para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras
Contra as Secas (IFOCS), criada em 1919 e neste discurso institucional, argumenta o autor, o
Nordeste surge como a parte sujeita às estiagens, e por essa razão merecedora de especial
atenção do poder público federal.
Sobre este período, Albuquerque (2001) assim discorre:
A questão da influência do meio era a grande arma política do discurso
regionalista nortista, desde que a seca foi descoberta em 1877, como um
tema que mobilizava e emocionava que podia servir de argumento para
exigir recursos financeiros, construção de obras, cargos no Estado, etc. O
discurso da seca e sua “indústria” passam a ser a “atividade” mais constante
e lucrativa nas províncias e depois nos estados do Norte, diante da
decadência de suas atividades econômicas principais: a produção de açúcar e
algodão. A seca torna-se o tema central no discurso dos representantes
políticos do Norte, que a instituem com o problema de suas províncias ou
estados. Todas as demais questões são interpretadas a partir da influência do
meio e de sua “calamidade”: a seca. As manifestações de descontentamento
dos dominados, como o banditismo, as revoltas messiânicas e mesmo o
atraso econômico e social da área, são atribuídos à seca, e o apelo por sua
“solução’ torna-se um dos principais temas dos discursos regionais (p. 58).
Silveira (1980), fazendo uma crítica historiográfica na perspectiva do que se escreveu
sobre o Nordeste, divide-a em três vertentes: na primeira que denomina de oligárquica, é a
história “estadualizada” e “municipalizada” obedecendo a um critério eminentemente
territorial-político-administrativo, locus de dominação das oligarquias, que se repassa ao
conteúdo. “O espaço é pouco visualizado em suas relações externas, por vezes referenciadas
apenas a um espaço territorialmente próximo, e internamente como unívoco, pasteurizado às
diferenciações e contradições.” (SILVEIRA, 1980, p. 11).
Esta corrente, continuando o pensamento da autora, sofreria certa alteração com os
trabalhos de Gilberto Freyre que, partejada no contexto das oligarquias, mas não de sua crise
de ajustamento a uma sociedade de classes, utilizou-se de um instrumental metodológico das
ciências sociais norte-americanas, modernizando forma e conteúdo e questionando
determinadas explicações da época (SILVEIRA, ibid. p. 11).
Nessa perspectiva, a região para Freyre significava algo distinto daquele espaço
“provincianizado” ou “estadualizado”. Esse passa a interpretar a realidade nordestina
utilizando esta categoria de análise em contraposição à categoria político-administrativa:
55
“Estado”. Assim, “o conteúdo freyreano” de região alterava, pois, a perspectiva políticoadministrativa então vigente, ganhava uma substância sociológica: o locus do patriarcado
agrário açucareiro, que se identificava com o projeto nacionalista, em uma generalização
esvaziadora das relações contraditórias de classes e estamentos. Na compreensão de
Albuquerque (2001), o livro de Freyre, Nordeste, publicado em 1937, ao tratar da
institucionalização sociológica da Região Nordeste e da sua invenção, esboça:
A fisionomia do Nordeste agrário, decadente, que fora o “centro da
civilização brasileira”. As relações do homem com a terra, com o nativo,
com as águas, com as plantas, com os animais; a adaptação do português e
do africano ao meio. Uma abordagem histórica que pretende instituir um
processo de formação para este espaço; uma origem comum para os
diferentes Estados em declínio em nível nacional (p. 99).
Metodologicamente diferente da interpretação freyreana, continuando com a
interpretação feita por Silveira (1980), foi publicada a obra O Outro Nordeste, de Djacir
Menezes (1970). Geograficamente essa obra aborda a relação homem-meio distinguindo a
área etnográfica da caatinga das áreas etnográficas do litoral úmido e da costa praieira.
Sociologicamente correlaciona os movimentos recentes com os movimentos sociais e
políticos surgidos no Império e à falta de uma consciência de classe. Economicamente fixa os
contornos do coronelismo e, finalmente, aponta para a articulação espacial deste Nordeste
sertanejo, pecuário/algodoeiro ao Nordeste litorâneo-açucareiro, aos centros do Sul do país e
aos centros externos (ingleses) através do mercado.
Na compreensão de Silveira (Idem, ibidem), o pensamento de Gilberto Freyre e de
Djacir Menezes possui a mesma matriz ideológica autoritário-conservadora de base
oligárquica. Pois, embora vislumbre a “região” como uma entidade articulada, a nível externo
e diferenciado, a nível interno, a crença de Menezes de que a Revolução de 1930 e a política
do Estado Novo combateriam a hegemonia paulista e solucionariam as crises da seca,
exprimia simultaneamente a preocupação com os flagelados, mas também, uma manutenção
das estruturas de poder no âmbito regional.
Somente em 1938 é que o Conselho Nacional de Estatística introduz uma
regionalização do país, que é dividido em cinco regiões, onde aparece o Nordeste formado
pelos estados que vão do Ceará a Alagoas.
Naquela ocasião, o geógrafo Fábio Guimarães fez uma divisão do país em grandes
regiões naturais, seguindo a orientação de Ricchieri (1941 apud ANDRADE, 1987),
admitindo a existência de cinco unidades: a Amazônia ou Região Norte; o Nordeste,
56
compreendendo duas sub-regiões, a oriental e a ocidental; o Leste, também dividido em duas
porções, a setentrional e a meridional; o Sul e o Centro-Oeste (ANDRADE, 1987). Tal
regionalização passou a compor os livros didáticos de Geografia, conforme podemos observar
abaixo:
Mapa 03: Divisão Regional do Brasil - 1940
Fonte: SOUZA, Geraldo Sampaio de; SOUZA, Armando José S. de.
Geografia do Brasil. 4ª série ginasial. 1958, p. 24
Apesar de todo o debate acerca da regionalização brasileira, os autores de livros
didáticos em geral demoraram a incorporar tal temática nas suas obras. Como vimos, é
mesmo Delgado de Carvalho que efetivamente vai regionalizar e abordar o país a partir dessa
perspectiva. Desse modo, a partir da regionalização por ele apresentada, aponta ainda para
outras questões sobre essa região que na época se evidenciavam, tais como a seca, a raça, a
migração e o papel do Estado na “correção” desses problemas. Vejamo-las:
Quando se dá o phenomeno da secca e que vae faltando agua, o gado começa
a sucumbir e não há mais esperança de resistência victoriosa ao meio, a
população abandona as suas casas e suas terras e se refugia ou nas
montanhas ou no littoral onde chove ainda.
O governo central sempre se preocupou da situação dos retirantes, famintos
e sem recursos assim agglomerados: eram tomadas providencias, mas só
tarde foram estudados os meios preventivos. As províncias do sul acolheram
levas de cearenses e lhes deram trabalho, o governo imperial, em 1877-78,
despendeu até 70.000 contos de réis em soccorros. (CARVALHO, 1972, p.
311)
57
Como se pode observar em Delgado de Carvalho a seca era um problema natural que
atingia diretamente as condições sociais da população nordestina. Por isto, passava a ser
tratada como uma questão de Estado, que vinha se propondo a resolver tais problemas.
Observe que o autor vê a migração como uma solução para o problema estabelecido, leitura
feita também por outros intelectuais da época, como veremos a seguir, e também destaca a
ajuda financeira do governo central.
É importante destacar que neste período a questão da seca já era uma temática
apontada também na literatura, especialmente aquela produzida nesta região, visto que a seca
era um advento natural, mas com consequências sérias para a população e impactos
significativos em suas vidas. É assim que em sua obra Usina (1936), José Lins do Rego
claramente traduz este período da seguinte maneira:
Naquele ano de seca, os sertanejos haviam descido em bandos, trazendo as
mulheres e os filhos. Vinham trabalhar por um quase nada que lhes desse
para comer e beber. Quem os vira, nos anos anteriores, vivos, exigentes, não
os reconheceria naquele jeito em que estavam. Verdadeiros cacos humanos.
Dois anos de seca passaram por cima deles, comendo, devorando tudo o que
eles tinham de gente. Chegavam pela usina e sem ordem, sem consentimento
do usineiro, ficavam, pegavam no serviço para poder contar com um pedaço
de carne de ceará. A filharada, no começo encolhidos, como pássaros
molhados, com pouco se soltavam pela usina, enchendo a barriga de
genipapo, de goiabas verdes, de tudo que pudessem mastigar (JOSÉ LINS
DO REGO, 1936, p. 335).
Existe aqui também uma nítida relação com o que os jornais da época estavam
anunciando sobre o Nordeste. Albuquerque (2001) relata, assim, o que um articulista do
Jornal O Estado de São Paulo escreve:
(...) algo sabíamos por leitura sobre a terra do sofrimento, que tem prados
só de urzes, tem montanhas de penhascos, habitações só de colmos, céu que
nunca se encobre (...) chão que nunca recebe orvalho, rios que não tem água.
O Nordeste brasileiro só foi divulgado com tal designação após a última
calamidade que assolou em 1919, determinando a fase decisiva das grandes
obras contra as secas. (...) quando levas de esquálidos retirantes vieram curtir
saudades infinitas na operosidade do generoso seio sulino, quem sabe se
ainda em dúvida, entre a miséria de lá e a abundância daqui (...).
Neste contexto merece destaque também o que Gomes (2002) escreve:
A ideia de território traduz, ao mesmo tempo, uma classificação que exclui e
inclui; um exercício de gestão que é objeto de mecanismos de controle e de
subversão; e uma qualificação de espaço que cria valores diferenciais,
58
redefinindo uma morfologia de cunho socioespacial. Estes Pares –
exclusão/inclusão, submissão/subversão, e valorização/desvalorização –
criam tensões e resultam em lutas territoriais que almejam modificar seus
limites, sua dinâmica, suas regras ou seus valores. Por isso, chamamos este
fenômeno de geopolítica, ou seja, lutas que têm como objeto de disputa a
busca pela afirmação de um poder que é também a luta por um território (p.
13).
Preocupado em relacionar problemas de natureza política ao quadro geográfico dentro
do qual eles existem, Delgado de Carvalho desenvolve sua produção intelectual em torno de
dois eixos: uma Geografia com pretensão científica e uma outra modalidade, tributária da
primeira, interessada na relação entre os estados e o território – a Geografia política.
Sobre a migração e a seca, Delgado de Carvalho as trata como um dueto, uma como
consequência da outra. Neste sentido, traz uma justificativa para o seu posicionamento sobre a
temática, visto que se colocava como um intelectual a favor do processo de modernização,
portanto, favorável à migração para que se pudesse constituir um mercado de mão de obra na
atual Região Sul/Sudeste.
[...] Se não fosem as seccas periódicas e o exodo annual dos paroáras 4, o
Ceará contaria hoje talvez dois milhões de habitantes. Mas as correntes
emigratórias forçadas, perdidas para a terra cearense, não deixaram de ser
proveitosas ao Brasil, povoando zonas suas de nacionaes dotadas das
melhores qualidades. O Ceará é o mais importante centro de dispersão de
população que temos e como tal muito concorreu a unificação ethica do paíz
(CARVALHO, 1927. p. 311).
Como movimento intelectual de renovação no domínio da arte, o modernismo, então
vigente no Brasil, produziu consequências diretas e importantíssimas no amplo domínio da
cultura. Como movimento intelectual caracterizou-se pela polarização de ideias como: região
versus nação e tradição versus futuro - temas que estavam em pauta no debate para acordar o
Brasil a criar a nação. Eram temáticas que se referiam à crise brasileira, tanto diagnosticando-a quanto propondo diversas soluções. Discutia-se certa falência moral, econômica e social e
buscavam-se as virtudes básicas da nacionalidade (MACHADO, 2000).
É sobre esse contexto que Siqueira (2001), ao afirmar a tendência niveladora da
hegemonia do nacional sobre o regional produzindo fortes interpelações locais, especialmente
nas primeiras décadas do século XX, sobretudo a partir do campo da cultura, completa:
Sinaliza-se a emergência de um novo gradiente de argumentos em
contraponto ao dualismo político regional-nacional de então. Vale aqui o
4
Paroaras: Sem acento agudo conforme as normas atuais é um brasileirismo que significa nordestino que vive na
Amazônia.
59
registro da publicação, no Recife, em 1925, do Livro do Nordeste que,
concebido para homenagear o centenário do sóbrio Diário de Pernambuco,
sob a liderança do então jovem intelectual Gilberto Freyre, recém-chegado
dos ambientes acadêmicos da América do Norte, constituiu-se num fértil
repertório de novos argumentos portadores de uma enorme contribuição para
a redefinição e reavaliação dos conceitos de região e de nação. Obra plural,
incluindo vários autores e de variados perfis, todos se debruçam em
argumentos que ressaltam os valores perenes e mais característicos da
região, alargando, pois o próprio conceito de região, trazendo o foco de sua
discussão para o emblemático processo de modernização, percebido por
Freyre como enigma a ser decifrado (p. 17).
O modelo institucional, produzido por esse novo estado brasileiro, um Estado
capitalista-industrial que proclamava a necessidade de um governo forte, capaz de combater
os particularismos de ordem local, defendidos pela aristocracia agrária e intervir direta e
intensamente na economia, estava claramente associado aos anseios centralizadores e
nacionalistas que dominavam o cenário político. A busca dessas virtudes ficaria a cargo dos
homens esclarecidos, de uma elite de cultura e ciência, capaz aos poucos de construir um
pensamento dominante e influenciar a grande população brasileira (MACHADO, 2000).
Pelo que vimos até o momento, podemos aferir que a obra de Delgado de Carvalho se
apresenta como inovadora para a escola, pois apresenta, pela primeira vez em um livro
didático, um estudo a partir de uma divisão regional do Brasil. Porém, seu olhar não foge ao
espírito da época, de modo que o nacionalismo, como já foi apontado anteriormente, está
posto para este livro como um dos objetivos da Geografia escolar; além disso, ele aborda
ainda os “tipos” físicos nordestinos, destacando exatamente as características definidas pelos
estudos da época. Delgado aponta ainda para outras questões que na época se evidenciavam,
tais como a seca, a migração e o papel do Estado na “correção” desses problemas.
Outra questão importante, agora de ordem metodológica, mas que também possibilita
compreender este autor como inovador, é a sua sugestão de uso de narrativas para o ensino de
Geografia. No final do livro, ou seja, no anexo I, Delgado de Carvalho aconselha os
professores de Geografia a fazerem uso de narrativas geográficas sob formas de viagens
figuradas da seguinte maneira:
E bastante frequente o uso da narrativa geographica sob forma de viagens
figurada. É excellente habito sob duas condições, entretanto: 1ª não
constituir apenas uma repetição do que se acha no atlas, 2º, não ser o
methodo objecto de uso exclusivo e de abuso (1927, p. 462).
[...] Não deve ser repetido o atlas, porque não é valioso o exercício se só
comporta enunciação de nomes próprios (1927. p. 462).
60
E, em seguida, cita o seguinte exemplo:
Viagem por mar deve falar do porto da Parahyba, lembrar as origens da
cidade e descrever as dunas à sahida do rio, lembrar a história physica da
Bahia da Traição, hoje entulhada; descrever o aspecto da costa, as barreiras
principalmente, mencionar a existência dos recifes no Canal de S. Roque;
supor uma parada em Macao, para falar nas Salinas, etc.
A viagem por terra é feita de estrada de ferro, até Campina Grande; ali se
descreve o grande mercado interior de algodão; segue-se pela estrada de
rodagem que atravessa o planalto da Borborema, menciona-se os açudes da
região de ferro, etc.
Em qualquer hypothese, descrevendo-se uma viagem, é sempre necessária
uma referência à escala do mappa empregado para avaliar
approximadamente as distancias e o tempo empregado (p. 462).
É também aconselhado aos professores trabalhar com “dissertações geografhicas”. E
mais uma vez cita um exemplo:
Exercício: “O isolamento da colônia; seu abandono aos proprios recursos; o
patriotismo, dentro em pouco travado com o obscuro despertar de uma
consciência colletiva regional, facilitaram a tarefa no Novo Mundo, e
impediram que com os leõs da Hespanha se confundissem as quinas e os
castellos”. Adduzir as bases geografhicas sobre as quais repousam estas
proposições de Calogeras (p. 463).
E a orientação como proceder a referida dissertação:
A dissertação deverá ter três partes principaes: o isolamento (afastamento da
metrópole e fraqueza de Portugal em 1580), os recursos próprios (estudo da
economia colonial no XVII século), o patriotismo (isto é, o sentimento
regional despertado pela resistência à invasão hollandeza) (p. 463).
Continua Delgado de Carvalho dando algumas sugestões de títulos para dissertações
como:
-Estudar os typos de costas concordantes que se encontram no litoral do
Brasil.
- Informação prestada a um jornalista que deseja escrever um artigo a
situação do cacáo no Brasil.
- Descrever a ilha de Pinharé, com commentarios feitos no mappa da página
88 do Compendio.
- O futuro da emigração cearense, à luz das obras de irrigação do Nordeste.
- Informações prestadas a um industrial inglez sobre os recursos do Valle do
S. Francisco médio.
O autor finaliza o anexo I com a seguinte informação:
61
Numerosas outras dissertações poderão ser feitas sobre themas imaginados
pelos professores e sempre renovados. Quadros estatísticos podem ser
facilmente interpretados, quando bem escolhidos e característicos de um
phenomeno social ou econômico com base geografhica. Phases de bons
autores podem ser convenientemente explicadas e analyzadas, ou mesmo
discutidas. Notícias de jornaes e revistas podem ser desenvolvidas em
explanações circunstanciadas. O alcance geographico, entretanto, nunca
deverá ser perdido de vista, apezar de que, muitas vezes, o compendio de
História do Brasil, será consultado com proveito (p. 465).
A Geografia escolar brasileira, ao veicular os conhecimentos produzidos pela
Geografia Clássica e, mais tarde, os produzidos pela Geografia Moderna utilizou-se da visão
de mundo, da visão de sociedade, da visão de homem/mulher e da visão de escola que
sustenta a pedagogia tradicional, não obstante ter sido defendido pelos (as) principais
expoentes da concepção moderna o rompimento total com a pedagogia tradicional e a adoção
dos princípios da pedagogia escolanovista (ROCHA, 2009).
Evitando tomar partido na querela determinismo versus possibilismo, Delgado se sente
à vontade diante do patrimônio intelectual de Ratzel, dando mostras inquestionáveis de sua
valorização positiva. O comentário abaixo ratifica esta suposição:
Há questões no mundo moderno que solicitam a nossa atenção: não são do
domínio próprio da história nem da geografia, não são de economia política
nem de sociologia, não pertencem às ciências puras ou aplicadas. (...) São
fatos prementes, de atualidade e importância, exigem atenção, envolvem
interesses superiores de países cultos, muitas vezes nacionais. Precisam,
pois, ser compendiados para a sua sumária e precisa apresentação a alunos
de média cultura. À geografia, patamar de ciências, cabe coligir os dados e
interpretá-los sob o prisma humano que lhes dá valor e significado
(CARVALHO, 1929, p. 10-11).
Como se pode verificar nesta análise, o autor em tela trazia inovações significativas
para a sua época, mas também havia em sua obra as permanências ou continuidades,
demonstrando que o seu posicionamento, apesar de inovador, trazia as marcas de uma época,
em que o nacionalismo, o regionalismo, o olhar sobre as raças, entre outras temáticas,
estavam em plena construção na nossa sociedade.
Por outro lado, Delgado de Carvalho, identificando-se com os intelectuais inseridos no
contexto do otimismo pedagógico e do entusiasmo pela educação, colocou em baixa a velha
orientação clássica que até então se mantinha como único modelo de Geografia escolar a ser
ensinado em nossas escolas (ROCHA, 2009). Isto foi fundamental para que a nova concepção
de Geografia defendida alcançasse o status de modelo oficial a ser seguido, no nascente
sistema educacional brasileiro.
62
Neste contexto, a posição de destaque de Delgado de Carvalho decorreu de seu papel
inovador no ensino de Geografia, sobretudo na qualidade de autor de livros didáticos, os quais
conquistaram o mercado nacional durante o período que se estende das décadas de 1920 a
1940, quando foram, gradativamente, suplantados pelos manuais escolares de Aroldo de
Azevedo.
Passaremos agora para o segundo capítulo, onde analisaremos o contexto mundial em
que Aroldo de Azevedo, elaborando suas obras com base no mesmo paradigma das obras de
Delgado de Carvalho, ou seja, a modernidade e a racionalidade, com estas, diferenciam-se,
principalmente, pelas ponderações de Aroldo de Azevedo acerca das “relações entre a
Geografia política e a geopolítica” (VLACH, 2005, p. 206).
63
CAPÍTULO 2 - AROLDO DE AZEVEDO E A GEOGRAFIA BRASILEIRA
2.1 A Geografia pós II Grande Guerra Mundial
Antes de findar a guerra em Bretton-Woords (1944), consoante a nova configuração
do poder mundial, o Reino Unido passa o bastão da liderança econômica aos Estados Unidos
enquanto, ao assinarem o tratado, com o mesmo nome do lugar, eram criados o Banco
Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Sobre este momento histórico Hobsbawm
(2009) escreve:
Por diversos motivos, os políticos, autoridades e mesmo muitos dos homens
de negócios do Ocidente do pós-guerra se achavam convencidos de que um
retorno ao laissez-faire e ao livre mercado original estava fora de questão.
Alguns objetivos políticos – pleno emprego, contenção do comunismo,
modernização de economias atrasadas, ou em declínio, ou em ruínas –
tinham absoluta prioridade e justificavam a presença mais forte do governo.
Mesmo regimes dedicados ao liberalismo econômico e político podiam
agora e precisavam dirigir suas economias de uma maneira que antes seria
rejeitada como “socialista”. Afinal, fora assim que a Grã-Bretanha e mesmo
os EUA haviam orientado suas economias de guerra. O futuro está na
“economia mista” (268).
Após a Segunda Guerra Mundial, verifica-se uma nova fase de expansão capitalista.
Não se trata mais de uma expansão marcada pela conquista territorial, como ocorreu no final
do século XIX (CORREA, 2007). Ela se dá de outra maneira e traz enormes consequências,
afetando tanto a organização social como as formas espaciais criadas pelo homem. Na
Geografia, “dava-se a grande mutação que foi o advento do determinismo econômico em
substituição àquele dito ambiental” (MONTEIRO, 2001, p. 9). Toda a esfera dos
conhecimentos passa a girar sob o antagonismo capitalismo-comunismo, no período da
Guerra Fria.
O contexto posto pela Segunda Grande Guerra Mundial, com a destruição dos espaços
urbano-industriais na Europa e a necessidade de reconstruí-los exigia planejamento. Neste
sentido a Geografia viu-se lançada a um comprometimento com o planejamento territorial,
passando-se a discutir, para ela, a adequação adjetiva de aplicada ou aplicável (MONTEIRO,
2001).
Uma nova divisão social e territorial do trabalho é posta em ação, envolvendo
introdução e difusão de novas culturas, industrialização, urbanização e outras relações
espaciais. Sobre as regiões no período ora abordado Correa (2007) afirma:
64
As regiões elaboradas anteriormente à guerra são desfeitas, ao mesmo tempo
em que a ação humana, sob a égide do grande capital, destrói e constrói
novas formas espaciais, reproduzindo outras: rodovias, ferrovias, represas,
novos espaços urbanos, extensos campos agrícolas despovoados e
percorridos por modernos tratores, shopping centers, etc. Trata-se de uma
mudança tanto no conteúdo como nos limites regionais, ou seja, no
arranjo espacial criado pelo homem (p. 17).
No Brasil vive-se o período conhecido na história brasileira como populismo,
caracterizado pelas relações clientelistas, de tutela, de concessão de favores, como a forma
principal de relação entre Estado e sociedade. Na era Vargas (1930-1945) ocorreram duas
reformas educacionais, a de Francisco Campos em (1931-1942) e a de Gustavo Capanema
(1942-1945). A reforma de Francisco Campos reestruturou o ensino superior cuja
preocupação era a formação de professores para o ensino secundário, que se dividia em dois
ciclos: ginasial e clássico ou científico.
Iniciando a construção da ideologia do nacionalismo patriótico, o Estado neste período
passa a opinar com mais força a respeito da ciência geográfica no Brasil. Machado (1996
apud FERRACINI, 2009) escreve que como nesse período existia a necessidade de
centralização
das
instituições
políticas
do
governo
autoritário,
no
projeto
de
institucionalização da disciplina Geografia os geógrafos poucos participaram.
No entanto, apesar dessas relações de tutela e do atrelamento dos movimentos sociais
promovidos tanto pelos políticos tradicionais e populistas como pelo “centralismo
democrático” do partido comunista, os anos de 1950 e 1960 são marcados por intensa
mobilização social que se expressa no movimento sindical, nas Ligas Camponesas e numa
ampla reivindicação por “Reformas de Base” de cunho democrático, popular e nacionalista.
Nesse contexto, Aroldo de Azevedo (1910-1974) publicou 30 livros didáticos por um
período de 40 anos, entre as décadas de 1930 e 1970, com venda superior a 11 milhões de
exemplares (SILVA, 2006), nos quais, exemplos de manifesto nacionalismo patriótico como
os citados abaixo, são recorrentes:
Dos fatos essenciais da geografia brasileira, o que primeiro deve ser posto
em realce é a enorme extensão de nosso país. Já Pierre Defontaines, com
felicidade, definiu o Brasil como sendo uma Nação gigante, um verdadeiro
“continente” (AZEVEDO, 1977, p. 15).
Recebemos de nossos antepassados uma pesada herança, que exige de
nossos governantes, de nossos homens públicos e de todos quantos possam
influir sobre a vida nacional uma alta dose de descortino, de aprofundado
conhecimento de nossas realidades, de elevado espírito de colaboração
construtiva e patriótica (AZEVEDO, 1977, p. 16).
65
A exemplo do que acontece com os indivíduos, não existe país do mundo
que não tenha problemas a enfrentar. Os nossos, felizmente, têm solução.
Essa verdade precisa ser lembrada, porque há países mais ricos, mais belos,
mais poderosos, que também possuem seus problemas, muitas vezes mais
graves e de solução mais difícil (AZEVEDO, 1977, p. 16).
As ideias de Aroldo de Azevedo vão ao encontro da ideologia do desenvolvimentismo
de base nacional – ou nacionalismo desenvolvimentista - que na acepção terminológica de
Paiva (1980), ao mesmo tempo em que há certa continuidade do momento anterior,
diferencia-se pela reorganização da política, particularmente das políticas públicas da
educação, a partir da década de 1950, permeando os anos de 1960 e 1970.
É possível identificarmos aqui o que Silva (2006) classifica como o segundo momento
no flanco ideológico da acepção de pátria, no que concerne aos livros didáticos de geografia:
“o endosso de um imaginário sobre a pátria como política efetiva do estado.” (p. 45). Vejamos
o que o Decreto-Lei 1.006/1938, Art. 20, alíneas a-k, em paralelo às proibições legalmente
delegadas ao perfil do livro didático pelo Estado Novo, afirmava:
Não poderá ser autorizado o uso do livro didático:
a) que atente, de qualquer forma, contra a unidade, a independência ou a
honra nacional;
b) que contenha, de modo explícito ou implícito, pregação ideológica ou
indicação da violência contra o regime político adotado pela Nação;
c) que envolva qualquer ofensa ao Chefe da Nação, ou às autoridades
constituídas, ao Exército, à Marinha, ou às demais instituições nacionais;
d) que despreze ou escureça as tradições nacionais, ou tente deslustrar as
figuras dos que se bateram ou se sacrificaram pela pátria;
e) que encerre qualquer afirmação ou sugestão, que induza o pessimismo
quanto ao poder e ao destino da raça brasileira;
f) que inspire o sentimento da superioridade ou inferioridade do homem de
uma região do país com relação ao das demais regiões;
g) que incite ódio contra as raças e as nações estrangeiras;
h) que desperte ou alimente a oposição e a luta entre as classes sociais;
i) que procure negar ou destruir o sentimento religioso ou envolva combate
a qualquer confissão religiosa;
j) que atente contra a família, ou pregue ou insinue contra a
indissociabilidade dos vínculos conjugais;
k) que inspire o desamor à virtude, induza o sentimento da inutilidade ou
desnecessidade do esforço individual, ou combata as legítimas
prerrogativas da personalidade humana (BRASIL, 1.006/1938, Art. 20,
alíneas a-k, apud SILVA, 2006, p. 50-51).
O livro didático neste contexto assume mais uma das quatro funções identificadas por
Choppin (2004): a função denominada de referencial, na qual o livro didático é então apenas
a fiel tradução do programa. Ele constitui o suporte privilegiado dos conteúdos educativos, o
depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades que um grupo social acredita que seja
66
necessário transmitir às novas gerações. Neste caso ele também pode ser visto como veículo
de difusão de ideologias.
Há que se considerar, em tal contexto, a dinâmica da ciência geográfica. Nesse
período, o desenvolvimentismo e o autoritarismo foram condições históricas, no contexto
nacional, da produção do discurso didático da Geografia, em uma circunscrição de
supervalorização da economia, na qual, ressalta-se, a educação foi relegada a um segundo
plano, em termos de qualidades, não de quantidade, desvalorizando-se, igualmente, o trabalho
intelectual, posto que os produtos desse tipo de transformação não têm resultados imediatos,
muito menos os resultados (técnicos, administrativos, pragmáticos), esperados pelos
dirigentes e pensadores posicionados na situação do momento especificado.
Nesse sentido o período em questão é marcado pelo diagnóstico de um anacronismo
no sistema de ensino brasileiro, sem especificações incidentes na formação de uma sociedade
moderna e desenvolvida e, nesses termos, entenda-se a formação de administradores e
técnicos em profusão e consoante com as necessidades de uma sociedade industrial: em xeque
estaria a educação de inspiração europeia (acusada de acadêmica, propedêutica, ornamental,
beletrista), a ser substituída por uma educação nos moldes estadunidenses, um ensino para
engrenar o estudante no mundo do trabalho industrial:
Nas décadas de 60 e 70, considerando o nível de desenvolvimento da
industrialização na América Latina, a política educacional vigente priorizou
[...] a formação de especialistas capazes de dominar a utilização de máquinas
ou de dirigir processos de produção. Esta tendência levou o Brasil, na década
de 70, a propor a profissionalização compulsória, estratégia que também
visava diminuir a pressão da demanda sobre o Ensino Superior (BRASIL,
1999, p. 15 apud SILVA, 2006, p. 95).
A ênfase na técnica tem um sentido duplo: propiciando o domínio da natureza,
propicia a domestificação do ser humano. “Aliada à orientação técnica, há o recurso da
massificação, alocada de informação e de padrões de entretenimento, até a expansão
propriamente dita das redes de ensino público, impulsionada na década de 1960” (SILVA,
2006, p. 95). Trata-se de uma massificação como forma de dominação.
Nesta concepção, a importante ideia de construção ou produção do espaço pela sociedade acaba ficando completamente ausente, pois no fundo ela não tem lugar numa perspectiva
que nunca vê a segunda natureza e muito menos o homem como ser político, onde os projetos
alternativos de grupos e classes, as contradições e os conflitos e lutas, as oposições de fundo
econômico, étnico, sexual, nacional ou regional fazem dessa abstração – homem – algo exter-
67
namente complexo e difícil de ser reduzido a uma ideia unívoca e eterna. Nesse contexto, “a
geografia escolar naturaliza o social-histórico: esse talvez seja desde seus primórdios o seu
cerne, a sua função ideológica essencial” (VESENTINI, 1989, p. 169).
Entendemos que é válida neste sentido a afirmação de Martins (2002), quando diz que
a manutenção de uma visão que insista na disciplina escolar como derivada do saber acadêmico é sustentada por porta-vozes governamentais, agências educacionais, associações de
disciplinas e, talvez de forma mais importante, pela mídia, está se relacionando a uma visão
que “corresponde a uma demarcação de espaço e discursos políticos, em geral tentando
legitimar suas posições” (p. 25).
Quando há disputas entre porta-vozes governamentais e associações de disciplinas,
elas se dão, principalmente, em relação ao conteúdo que deve ser ensinado. Quando elaboram
as prescrições curriculares e consideram que um dos objetivos da escola é o de divulgar e/ou
vulgarizar saberes acadêmicos, passam a buscar a legitimidade social para suas escolhas, atribuindo aos momentos de mudança nos saberes escolares profundas capacidades de causar
melhorias ao sistema educativo e à vida prática dos estudantes (MARTINS, 2002).
O que ocorreu com a Geografia nos anos de 1970 no Brasil mostra, todavia, um rompimento dessa visão consensual e a instrumentalização de disciplina escolar para a criação de
outro embate político, envolvendo diferentes e opostas concepções de escola, de docência e de
pesquisa científica.
A criação de uma nova disciplina escolar como, por exemplo, os Estudos Sociais, nos
anos de 1970, em substituição a outras duas já tradicionais nos currículos, História e
Geografia, procurou retirar das associações de disciplinas, das pesquisas científicas e das
universidades a capacidade de promover sua divulgação e de buscar a legitimidade
(MARTINS, 2002).
Em relação à permanência ou exclusão de disciplinas em um determinado currículo,
Bittencourt (1998) reconhece que não se “restringe a problemas epistemológicos ou didáticos,
mas articula-se ao papel político que cada um desses saberes desempenha ou tende a
desempenhar, dependendo da conjuntura educacional (p. 10).
Além de professores e alunos, Estado, deputados e partidos políticos, são agentes que
integram a constituição das disciplinas escolares e, por intermédio de suas ações, delimitam
sua legitimidade e seu poder. Quando há disputas entre porta-vozes governamentais e
associações de disciplina, elas se dão, principalmente, em relação ao conteúdo que deve ser
ensinado.
68
Foi com estes pressupostos que a resolução número 8, de 1º de dezembro de 1971 do
Conselho Federal de Educação, sob a Lei 5.692/71, fixou o núcleo comum para os currículos
do ensino de 1º e 2º graus (atuais ensino Fundamental e Médio), definindo-lhe os objetivos e a
amplitude, confirmando o que a Lei 4.024/61 já trazia em relação à Geografia na forma de
Integração Social, depois chamada de Ciências Sociais pela resolução número 96/68.
De acordo com o Artigo 1º da resolução número 8/71, o Núcleo Comum a ser incluído
abrangia obrigatoriamente as seguintes “matérias”:
a) Comunicação e Expressão; b) Estudos Sociais; c) Ciências. A Lei também
acrescentava que era obrigatória a inclusão de conteúdos específicos nas matérias
fixadas:
a) Em Comunicação e Expressão: a Língua Portuguesa;
b) Em Estudos Sociais: a Geografia, a História e a Organização Social e Política do
Brasil;
c) Em Ciências: a Matemática e as Ciências Físicas e Biológicas.
O Artigo 2º dizia que as matérias fixadas deveriam conjugar-se entre si para que o currículo assegurasse a sua unidade.
Os objetivos fixados pelo Artigo 3º da Resolução número 8/71 definiam que a disciplina Estudos Sociais deveria fazer o ajustamento crescente do educando ao meio, no qual
deve viver e conviver, dando ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva contemporânea
de seu desenvolvimento.
A ordenação do currículo foi feita por séries anuais. A Educação Geral destinava-se a
transmitir uma base comum de conhecimentos indispensáveis a todos na medida em que se
espelhava no “Humanismo”; a parte de formação especial teve o objetivo de sondagem de
aptidões e iniciação ao trabalho no ensino de 1º grau e de habilitação profissional para o 2º
grau.
O Núcleo Comum de matérias, para a Câmara de Ensino, deveria situar-se na perspectiva de todo o conhecimento humano sobre suas grandes linhas; para tanto, optou-se por uma
classificação tríplice entre Comunicação e Expressão, Ciências e Estudos Sociais, por acharem mais unificador do que Ciências e Humanidades. Assim, os Estudos Sociais se constituíram em um elo a ligar as Ciências e as diversas formas de Comunicação e Expressão, colocando no centro do processo a preocupação com o humano.
Na prática escolar, os Estudos Sociais assumiram o papel de diferentes áreas do conhecimento e descaracterizaram conteúdos específicos, como os de Geografia e História, por
serem superficiais e terem um papel disciplinador. A multiplicidade de enfoques não ocorreu
69
em nível de conhecimento da realidade como algo completo e integrado, pelo contrário, a integração de diversos conteúdos resultou em uma disciplina estanque e fragmentada.
Paralelamente à reforma na escola, a reforma educacional atingiu também a formação
de professores. Isso ampliou a oferta de cursos de licenciatura curta: dois anos de faculdade
em período noturno. Desta forma foi possível formar um professor bidisciplinar de Geografia
e História em menos de 24 meses. Até hoje, vive-se resquícios dessa época: professores com
dificuldades de identificar a diferença entre as duas áreas do conhecimento.
Consequentemente à problemática da formação, muitos desses professores se apegaram ao livro didático como uma boia salva-vidas. O livro didático, assim como no início do
século XIX, ainda era (é) o maior referencial do professor que se sente inseguro em relação ao
seu conteúdo disciplinar.
De meio (que deveria ser), o livro didático passa a ser visto e usado como um fim em
si mesmo. Assim concordamos com Silva (1987) quando afirma que “O vigor do livro
didático advém da anemia cognitiva do professor. Enquanto este perde peso e importância no
processo de ensino, aquele ganha proeminência e atinge a esfera da imprescindibilidade” (p.
8). Concordamos com tal posicionamento, não queremos aqui afirmar que todos os processos
se posicionam dessa forma, pois sabemos que tanto no passado quanto no presente grande
parte dos professores assume um posicionamento distinto desse.
É, pois, nesse contexto que o segundo livro analisado nesta pesquisa: Geografia do
Brasil, de Aroldo de Azevedo, publicado pela Companhia Editora Nacional – São Paulo,
Brasil, em 1958, será analisado no tópico a seguir.
2.2 Geografia do Brasil de Aroldo de Azevedo - 1958
No formato de um retângulo, esta obra que também tem tamanho médio, se comparada
com os livros didáticos atuais ou com os livros didáticos publicados em períodos anteriores,
está organizada em duzentas e cinquenta e três páginas, em que se destacam os textos
acompanhados de algumas figuras, em preto e branco. Não apresenta sugestões de atividades,
e, no final de cada capítulo, é orientada uma leitura complementar do mesmo autor do livro
em forma de resumo dos temas tratados ao longo de cada capítulo. Sua capa é grossa e de cor
verde.
Observemos as fotos seguintes:
70
Figura 04: Foto da capa do livro Geografia do Brasil, Aroldo de
Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes - 2009
71
Figura 05: Foto com o número de exemplar do Livro Geografia do Brasil,
Aroldo de Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes - 2009
Podemos também observar, na contracapa, que esta obra era indicada para a terceira
série ginasial (que corresponde hoje ao sétimo ano do ensino fundamental). Com data de 1958
e que já estava na 8ª edição (não foi possível encontrar registro da primeira edição), o que nos
leva a acreditar na sua longa utilização no ensino de Geografia nas escolas brasileiras.
72
Figura 06: Foto da capa do livro Geografia do Brasil, Aroldo
de Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes - 2009
O autor não apresenta uma nota introdutória, apenas um agradecimento a seus filhos e
um programa com uma nota de rodapé, explicando que o livro está de acordo com a Portaria
Ministerial nº 1.045, de 14 de dezembro de 1951.
Do capítulo I ao capítulo XVIII Aroldo de Azevedo aconselha sempre como
complementar uma leitura de sua autoria, como a seguinte:
Figura 07: Foto da página 17 do livro Geografia do Brasil, Aroldo de
Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes - 2009
73
A partir do capítulo XIX, quando Aroldo de Azevedo vai descrever as três maiores
riquezas agrícolas até o final da obra esse autor sempre termina cada capítulo com um quadro
estatístico, como o que veremos a seguir:
Figura 08: Foto da página 183 do livro Geografia do Brasil, Aroldo de
Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes - 2009
74
Como podemos observar, o desprezo do cotidiano no processo de ensinoaprendizagem e a valorização do planejamento e da atuação do geógrafo a serviço do Estado e
das empresas privadas é vista de forma muito perceptível na obra de Aroldo de Azevedo.
Vlach (2004) afirma que Aroldo de Azevedo, fiel à ideologia liberal, sobre o autor de livro
didático ponderou:
Em relação aos problemas brasileiros, deve ser o mais possível realista,
desapaixonado, apolítico, sem se deixar levar pela constante exaltação do
que é nosso ou transformar-se em instrumento de propaganda políticopartidária. Em contrapartida, não pode ter a preocupação do menoscabo e da
depreciação das nossas características de Povo e de Nação (AZEVEDO,
1961, p. 42, apud VLACH, 2004, p. 213).
Logo no início do livro Aroldo de Azevedo afirma:
A área exata ocupada pelo nosso país está em vias de ser fixada, graças aos
trabalhos do Conselho Nacional de Geografia. A cifra oficialmente aceita é
de 8.513.844 km2. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
ocupava, em agosto de 1939, uma área avaliada em cerca de 21.350.000km2.
Quanto ao Canadá, sua superfície é de 9.570.000 km2. Sem o território do
Alasca, os Estados Unidos ocupam um território menor que o nosso, com
7.800.000 km2.
Se compararmos o Brasil com outros países, neste particular, poderemos
verificar que seu território é quase 95 vêzes maior que o de Portugal, 15
vêzes maior que o da França, 8 vêzes o da Colômbia ou da Bolívia, 3 vêzes o
da República Argentina (AZEVEDO, 1958, p. 15).
Ao utilizar-se de forma exagerada dos números, Aroldo de Azevedo (1958) adota uma
postura pragmática que se associa à difusão do sistema de planejamento do Estado capitalista,
e ao positivismo lógico como método de apreensão do real.
Baseado no paradigma “A Terra e o Homem”, a obra em destaque apresenta o quadro
físico (relevo, clima, hidrografia, vegetação) e, depois, coloca nessa base o homem (visto
essencialmente como habitante, morador e consumidor) e pela economia (onde há igualmente
uma sequência predefinida), ligada a uma evolução temporal dos elementos: primeiro o meio
rural, o extrativismo e a agropecuária e, finalmente, a atividade industrial.
Iniciando o primeiro capítulo denominado: A Terra e o Espaço Brasileiro, ainda nas
primeiras páginas, Aroldo de Azevedo apresenta uma grande exaltação à Pátria:
Não conhecemos os calores de abrasar, nem os frios enregelantes. Não
possuímos regiões desérticas, nem assistimos às chuvas torrenciais a cair
durante semanas a fio. Nosso relevo apresenta modestas altitudes, sem
trechos intransponíveis. Nossos rios, gigantescos alguns, não costumam
75
ocasionar inundações devastadoras e catastróficas, a não ser
excepcionalmente. A idade e a natureza de nossas rochas dão-nos a certeza
de que jamais teremos vulcões nem precisamos ter receios dos tremores de
terra. [...] Outras terras podem ser mais belas e mais ricas. Entretanto, a que
Deus nos deu satisfaz-nos inteiramente por tudo quanto acabamos de dizer
(AZEVEDO, 1958, p. 15).
Enaltecendo as características naturais do país, buscando mostrar a natureza como uma
aliada bondosa, “mansa”, sem grandes contrastes, engrandecedora do território, compara-a a
outras regiões para reafirmar a natureza existente e, ainda, recorre a Deus para afirmar a sua
grandeza. Difunde assim exatamente o papel de uma Geografia escolar comprometida com os
ideais nacionalistas, como bem evidencia Vlach (1988; 2004).
Tal concepção, também, pode estar relacionada com a interpretação feita por Chauí
(2000), quando afirma que o Brasil é uma invenção histórica e uma construção cultural, e que
se verifica no cotidiano das pessoas uma forte presença de uma representação homogênea
originada na escola. Identificando o aprendizado formador da homogeneidade na escola, a
autora assim se refere:
Na escola todos nós aprendemos o significado da bandeira brasileira, (...)
Aprendemos que por nossa terra passa o maior rio do mundo e existe a maior
floresta tropical do planeta. (...) Que somos todo um povo novo, formado
pela mistura de três raças valiosas: os corajosos índios, os estoicos negros e
os bravos e sentimentais lusitanos. (...) Que somos um “país de contrastes”
regionais, destinado por isso à pluralidade econômica e cultural (p. 7-8).
Tratando da questão acerca do território nacional e enfocando diretamente a questão
das fronteiras, Aroldo de Azevedo assim se expressa:
A enorme extensão de nosso país deve constituir, longe de um simples
motivo de orgulho, uma constante preocupação. Num mundo, como o atual,
em que as ambições não encontram fronteiras, um país tão imenso há de
sempre constituir objeto de cobiça. Precisamos, portanto, ocupá-lo
efetivamente, aproveitá-lo da melhor maneira possível, povoá-lo de modo
mais igual e saber defendê-lo com energia quando isso se fizer necessário
(AZEVEDO, 1958, p. 16).
Aos nossos estadistas do Império e, sobretudo, da República coube
consolidar definitivamente as fronteiras estabelecidas, em suas linhas
mestras, pelos nossos antepassados. O Brasil se orgulha de nunca haver
realizado guerras de conquista e de ter resolvido suas sérias questões de
fronteiras através do arbitramento (AZEVEDO, 1958, p. 127).
Podemos observar que a ideia de Aroldo de Azevedo na obra analisada mostra uma
prática alienada das grandes questões nacionais como a desarticulação dos “arquipélagos
regionais” e a consolidação de um espaço geográfico nacional, entre a (tentativa de)
construção de uma sociedade democrática e a imposição de um Estado forte e autoritário
76
(VLACH, 2004), característica do final da década de 1950 e o início da década de 1960. Na
concepção de Castro (2009), a história da conquista territorial brasileira deixou marcas
profundas no imaginário político nacional. Com origem no mito fundador do Estado no Brasil
atribuído à estratégia colonial portuguesa da conquista territorial, “a unidade territorial é uma
herança, ou seja, uma realidade evidente e não um objetivo político a ser construído e
preservado pelo Estado Nacional” (p. 167). E é esta autora que nos lembra:
No momento da Independência o território brasileiro era um desenho no
mapa e não havia ainda uma fronteira totalmente definida por acordos
internacionais que garantissem a soberania sobre o conjunto do território,
mas mesmo assim a crença na herança colonial do grande território que deve
ser preservado como patrimônio da sociedade nacional permanece e
obscurece o papel dos atores na construção de espaços diferenciados
(CASTRO, 2009, p. 167).
No capitulo VIII, quando Aroldo de Azevedo vai tratar dos tipos étnicos, que
contribuíram para a formação do povo brasileiro, a frase que aparece logo no início e em
negrito é a seguinte: “A maioria dos brasileiros descende de europeus” (AZEVEDO, 1958, p. 90). E
continuando sobre o assunto escreve: “O censo de 1950, consignou a existência de cerca de 32
milhões de brancos em nosso país. Dêsse total, é provável que apenas 28 milhões sejam realmente
brancos” (AZEVEDO, 1958, p. 90). Para chamar mais atenção para o assunto, Aroldo de
Azevedo expõe também a seguinte foto:
Figura 09: Foto do homem brasileiro (p. 91) do livro
Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes – 2009
77
Ainda sobre os tipos étnicos Aroldo de Azevedo salienta:
Os mestiços constituem importante elemento da população.
[...]
Os mais numerosos são os mulatos, que trazem em suas veias sangue
português e africano. A cor de sua pele pode variar bastante, chegando a
haver casos em que a mestiçagem só pode ser verificada através de outros
indícios (forma de nariz, qualidade do cabelo, espessura dos lábios). Nem
sempre robustos, tais mestiços costumam apresentar, porém, inteligência
viva e certo pendor para a literatura, a política, as artes. Aparecem
notadamente no litoral do Nordeste e na região centro-oriental do país. Sua
tendência é afastar-se cada vez mais do tipo negro, integrando-se no
elemento branco (AZEVEDO, 1958, p. 92-93).
Na ponderação que podemos fazer com base nas ideias que Aroldo de Azevedo
apresentou merece destaque o fato que quase todas as suas observações remetem às questões
colocadas pela geografia política alemã. Como exemplo, podemos repetir o que já salientamos
no parágrafo anterior – “sua tendência é afastar-se cada vez mais do tipo negro, integrando-se
no elemento branco”, o que mostra que aceitou a tese do “embranquecimento da população
brasileira” (VLACH, 2004, p. 212).
Sobre este tema Ferracini (2008) ao escrever um artigo sobre ensaios de geografia
humana na obra de Aroldo de Azevedo, com base nas ideias do professor Munanga (2004)
que historiciza como o conceito de raça foi empregado nas ciências humanas, politicamente,
afirma que Aroldo de Azevedo seguiu as divisões de ordem taxonômica num “universo dos
fenótipos” definindo as raças em função da cor da pele (negros, brancos e amarelos) (p. 431).
Também sobre a formação do povo brasileiro Aroldo de Azevedo apresenta descrições
pejorativas da religiosidade:
O negro brasileiro é geralmente forte. Seu gênio é pouco expansivo, sua
índole é pacífica e propícia à submissão. Supersticioso, aprecia a prática de
ritos fetichistas... O negro vive num certo isolamento embora não existam
entre nós preconceitos de cor. Dedica-se a profissões braçais ou aos serviços
domésticos, salvo na Bahia onde aparecem todas as profissões (AZEVEDO,
1958, p. 98).
Sabemos que foram inúmeros e diferenciados os povos africanos transportados para o
Brasil no período da colônia e do império. Cada qual com suas crenças e religiões, as que
conseguiram sobreviver passaram por diversas mudanças no que tange aos ritos e tradições;
para Aroldo, entretanto, algumas de suas práticas recebem o elogio de poderes mágicos e
sobrenaturais. Não podemos esquecer que são diversos os exemplos de manifestações de
origens africanas mantidas por parte da população negra e branca no nosso país.
78
Nada se fala na obra de Aroldo a respeito do negro como sujeito histórico na formação
territorial brasileira. Quais seriam os valores e posicionamentos sociais e políticos que um pai
de santo ou mãe de santo recebiam no Brasil entre os anos 30 e 60? Dizendo que na sociedade
brasileira não existe preconceito de cor não seria esse dizer uma ironia disfarçada? Para
Ferracini (2008), as ideias propostas pelo professor Aroldo de Azevedo, “mesmo que
indiretamente não aparentem ideologias científicas como o darwinismo social, o positivismo e
o neolamarckismo, que se difundiram na Europa, parecem articuladas com tais influências”
(p. 437).
No capitulo IX, que Aroldo de Azevedo intitula: Imigração e colonização, sobre a
colonização nos séculos XIX e XX, este autor faz o seguinte relato:
Muito mais importante, porém, foi a colonização alemã, que se iniciou com
o núcleo de São Leopoldo (1824), onde se estabeleceram 126 colonos. Não
tardou que outros núcleos surgissem no território gaúcho: Santa Cruz, Novo
Hamburgo, Mundo Novo. Na atual cidade de Petrópolis, nos arredores de
São Paulo, como no Espírito santo, também foram fundadas colônias
germânicas. Mas foi em Santa Catarina que os núcleos coloniais se
multiplicaram, graças aos esforços de algumas sociedades colonizadoras e à
iniciativa do Dr. Hermann Blumenau (AZEVEDO, 1958, p. 107-108).
Carregada de ideologias de superioridade e inferioridade, a obra de Aroldo de
Azevedo reforça a ideia de superioridade de um grupo humano sobre o outro. A maneira
como Azevedo expõe suas ideias nos livros didáticos “reforça a sua simpatia com as teorias
racistas desenvolvidas e praticadas por Joseph Arthur de Gobineau, famoso ensaísta e político
francês, que escreveu A desigualdade das raças humanas (1853-1855), na qual argumenta
que a raça suprema correspondia aos alemães, a quem considerava os descendentes de um
povo mítico, os arianos” (FERRACINI, 2008, p. 436).
Sobre a organização político-administrativa do Brasil, Aroldo de Azevedo, afirma:
União, Estados, Territórios e Municípios. – Política e administrativamente
falando, existem quatro entidades dentro do território nacional: a União, o
Estado, o Território e o Município.
A União é constituída pelo todo, pelo país inteiro. É a única que tem
personalidade internacional e que entra em relações com os demais países.
Suas autoridades exercem o poder através de todo o território brasileiro, sem
exceção.
Sòmente o governo da União pode: 1. manter relações com os países
estrangeiros e com êles celebrar tratados; 2. Declarar guerra e fazer a paz; 3.
organizar a defesa do país; 4. superintender o policiamento no mar, no ar e
nas fronteiras; 5. cunhar e emitir moedas; 6. estabelecer o plano nacional de
viação; 7. manter o serviço postal; 8. organizar os serviços de defesa contra
79
os efeitos da seca, das endemias rurais e das inundações; 9. legislar sobre:
direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico e do
trabalho; a produção e consumo; as diretrizes e as bases da educação
nacional; o regime de portos e da navegação de cabotagem; comércio
externo e interno; as riquezas do sub-solo, a mineração, a metalurgia, águas,
energia elétrica, florestas, caça e pesca; a emigração; a incorporação dos
indígenas à comunhão nacional; etc. etc. (AZEVEDO, 1958, p. 134-135).
Ainda sobre o assunto em destaque Aroldo de Azevedo apresenta o seguinte mapa:
Mapa 04: Mapa da Divisão Política do Brasil (p. 137), do livro
Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes – 2009
E, sem sequer citar uma frase introdutória sobre a divisão regional brasileira, Aroldo
de Azevedo, ainda no mesmo capítulo, apresenta o seguinte quadro:
80
Figura 10: Da divisão regional brasileira (p. 138-139), do
livro Geografia do Brasil, Aroldo de Azevedo, 1958
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes – 2009
Vemos, a partir deste quadro, uma ampla possibilidade de aparecimento dos
propósitos de divisão regional. Para qualquer fenômeno que necessariamente tenha uma
expressão espacial é possível o estabelecimento de uma divisão regional. A região, para
81
Azevedo, se torna um instrumento técnico-operacional, a partir do qual se procura organizar o
espaço. O que nos faz acreditar que este seja, na opinião de Haesbaert (1999), o período
identificador da primeira “morte” da região, decretada entre os anos 1950-1960.
A divisão aqui é uma classificação caracterizada pela divisão sucessiva do todo em
partes. Dedutiva, de cima para baixo, pressupõe, na opinião de Corrêa (2007), que o
pesquisador já tenha uma visão do todo e queira, analiticamente, chegar a identificar, através
de critérios selecionados, as partes componentes do todo, ou seja, os estados
Percebemos aqui uma relação com o que é apontado por Lencioni (1999), quando
afirma que existe uma interpretação acerca do objeto da Geografia que está relacionado a um
campo de conhecimento particular voltado para o estudo das diferenciações das áreas. Neste
contexto, a região não existe em si mesma, ela se conforma no final do processo de
investigação.
De acordo com Corrêa (2007), a divisão regional aqui concebida pressupõe uma
objetividade máxima, o que implica a ausência de subjetividade por parte do pesquisador. Não
se atribui à região nenhuma base empírica, sendo os propósitos da cada pesquisador que
norteiam os critérios a serem selecionados para uma divisão regional. Tal como aponta Grigg
(1973), a região aqui é uma criação intelectual balizada por propósitos especificados.
No tocante a questão regional, a abordagem do ator parece bastante conservadora,
tendo em vista o percurso já feito por outros autores de livros didáticos de Geografia escritos
por autores brasileiros. Azevedo não apresenta o Brasil dividido em regiões naturais, como
aquela proposta por Manuel Said Ali Ida e adotada por Delgado de Carvalho, e, no livro
didático em análise, refere-se à Região Nordeste, assim como às demais regiões,
isoladamente, tratando cada uma, em capítulos específicos.
Passaremos agora a analisar como Aroldo de Azevedo entendia a Região Nordeste e,
consequentemente, apresentava-a para os estudantes brasileiros na segunda metade do século
XX.
2.3 Aroldo de Azevedo e a Região Nordeste
O fim da década de trinta marca a “descoberta” de outro Nordeste. A explosão das
diferenças trazida pela modernidade incomodava a classe média. Buscava-se, no futuro
revolucionário, a semelhança absoluta, o restabelecimento da plena identidade. O discurso
político denuncia a democracia burguesa como uma farsa. Sobre este momento Albuquerque
(2001) relata:
82
A dialética hegeliana, presente nos fundamentos do marxismo, consagra
exatamente o predomínio do todo sobre as partes, ou seja, a totalidade
suprime a representação para instaurar imediatamente a identidade de tudo.
Existe, neste pensamento, uma enorme desconfiança em relação ao mundo
da representação, e, em relação à própria linguagem, busca-se encontrar sob
ele um mundo concreto, real, que prescinda do discurso. O marxismo se
arvora a ser o último dos discursos. A ser aquele que instaura de vez o
encontro entre as palavras e as coisas, entre a representação e o referente,
entre o significante e o significado, destruindo as rachaduras estabelecidas
entre eles pela modernidade (p. 185-186).
É Caio Prado Júnior, intelectual ligado ao Partido Comunista e ainda desligado da
Universidade, afirma Albuquerque (2001), que na década de trinta, ao publicar: Evolução
Política do Brasil, faz a primeira tentativa de leitura marxista de nossa história. “A
preocupação com uma interpretação do Brasil que levasse em conta o fato econômico como
determinante coadunava-se com o próprio momento vivido pelo país, em que a transformação
da estrutura econômica aparecia como um imperativo (p. 187).
Os romances de Graciliano Ramos e Jorge Amado, da década de trinta, a poesia de
João Cabral de Melo Neto, a pintura de caráter social da década de quarenta e o Cinema Novo
do final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta tomarão o Nordeste como o exemplo
privilegiado da miséria, da fome, do atraso, do subdesenvolvimento, da alienação do país,
continua o raciocínio de Albuquerque (2001), que assim completa:
Tomando acriticamente o recorte espacial Nordeste, esta produção artística
“de esquerda” termina por reforçar uma série de imagens e enunciados
ligados à região que emergiram com o discurso da seca; já no final do século
passado. Vindo ao encontro, em grande parte, da imagem de espaço-vítima,
espoliado; espaço de carência, construído pelo discurso de suas oligarquias.
Eles lançam mão de uma verdadeira mitologia do Nordeste, já fabricada pelo
discurso anterior, e o submete a uma leitura “marxista” que a inverte de
sentido, mantendo-a, no entanto, presa à mesma lógica e questões. Do
Nordeste pelo direito, passam a vê-lo pelo avesso, em que as mesmas linhas
compõem o tecido, só que, no avesso, aparecem seus nós, seus cortes, suas
emendas, seu rosto menos arrumado, embora constituinte também da própria
malha imagética-discursiva chamada Nordeste (192).
A industrialização moderna que se desenvolveria após a Segunda Guerra Mundial
levou o governo brasileiro a ter outras preocupações. O Nordeste, para se industrializar,
necessitava de energia abundante e barata. Iniciou-se uma política de aproveitamento da
energia hidroelétrica, fornecida pelo São Francisco, com a construção da Usina de Paulo
Afonso, posta em atividade em 1954.
A criação do banco do Nordeste do Brasil, com sede em Fortaleza, em 1952, visa levar
83
o crédito aos empreendimentos agrícolas e industriais. O governo procura desenvolver uma
política de valorização do Vale do São Francisco, inspirada no projeto americano do Vale do
Tennesse, modernizando e incentivando as atividades agrícolas na área, introduzindo novas
variedades, desenvolvendo a irrigação e dando orientação técnico-agronômica (ANDRADE,
1993, p. 36).
É neste contexto que Aroldo de Azevedo em sua obra ora estudada: Geografia do
Brasil (1958) apresenta a Região Nordeste. Dividida em sete estados, a saber: Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, esta é apresentada em um
quadro explicativo com suas respectivas capitais, área, população e densidade, somente no
capítulo XIII deste livro. O que evidencia a dificuldade que o aluno tinha para compreender a
delimitação regional com que o autor está trabalhando.
No capítulo IV, quando o destaque vai para o clima, a Região Nordeste é identificada
da seguinte maneira:
O clima equatorial semiárido já corresponde ao sertão do Nordeste, onde, em
virtude da má distribuição das chuvas, se registram às vezes períodos de seca
aniquiladora. Quando deixam de vir as esperadas chuvas de verão, morrem
as plantações, seca a vegetação natural, desaparecem os cursos d’água, caem
mortos de fome e sede os animais, e o homem não tem outro caminho senão
abandonar suas terras e procurar zonas onde o flagelo não se tenha feito
sentir tão duramente (AZEVEDO, 1958, p. 51).
Esta concepção também está presente na música popular deste período que passa a ser
incentivada pela própria política do Estado. Neste sentido merece destaque a música Asa
Branca de Luiz Gonzaga:
Já fais treis noite qui pro norte relampeã
A Asa-Branca uvindo o ronco do truvão
Já bateu as e vortô pru meu sertão,
Aí, ai eu vô m’imbora
Vo cuidá da prantação.
Para Albuquerque as músicas de Luiz Gonzaga estão
Condizentes com a visão populista que dominava a política brasileira neste
momento e muito próximo da visão tradicional da política da região,
Gonzaga se coloca como o intermediário entre o “povo do Nordeste” e o
Estado, que deseja saber quais são os problemas deste povo, cabendo ao
artista torná-los visíveis (ALBUQUERQUE, 2001, p. 161).
84
Os romances de Graciliano Ramos e Jorge Amado, da década de trinta, a poesia de
João Cabral de Melo Neto, a pintura de caráter social, da década de quarenta e o Cinema
Novo, do final dos anos cinquenta e início dos anos sessenta tomarão o Nordeste como o
exemplo privilegiado da miséria, da fome, do atraso, do subdesenvolvimento, da alienação do
país, continua o raciocínio de Albuquerque (2001), que assim completa:
Tomado acriticamente o recorte espacial nordestino, esta produção artística
“de esquerda” termina por reforçar uma série de imagens e enunciados
ligados à região que emergiram com o discurso da seca, já no final do século
passado, vindo ao encontro, em grande parte, da imagem de espaço-vítima,
espoliado; espaço de carência, constituído pelo discurso de suas oligarquias.
Eles lançam mão de uma verdadeira mitologia do Nordeste, já fabricada
pelos discursos anteriores, e a submetem a uma leitura “marxista” que a
inverte de sentido, mantendo-a, no entanto, presa a mesma lógica e questões.
(p. 192).
Podemos fazer aqui uma relação com o que Castro identifica como o segundo período
sobre a questão Nordeste, que no seu entender se inicia a partir do final dos anos de 1940,
quando a integração mundial, pela expansão capitalista em novas bases, estabelece o tema do
desenvolvimento como questão central, tendo em vista as necessidades de ampliação dos
mercados e de superação da ordem anterior.
Desse modo, compreendemos que Azevedo reproduz de certa forma uma leitura de
Nordeste que vinha sendo feita desde a década de 1930, mas que vinha sendo construída
desde períodos anteriores.
Sobre a ajuda do governo na defesa da economia da Região Nordeste, Aroldo escreve:
Procurando defender a economia do Nordeste, o governo federal estabeleceu
sérias restrições ao plantio da cana-de-açúcar no território dos demais
produtores. Em 1933, foi criado o Instituto do Açúcar e o do Álcool
(AZEVEDO, 1958, p. 186).
O debate sobre a intervenção do Estado através da criação do Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA) vai ser abordado por vários autores, entre eles Oliveira (1977), que informa:
O Estado intervirá na economia açucareira do país como um todo, criando o
Instituto do Açúcar e do Álcool, cuja missão primordial era na verdade
estabelecer uma divisão regional do trabalho da atividade açucareira em todo
o país, emergindo já com muita força a produção de açúcar nos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro.
[...]
A ironia da História consiste aqui precisamente no fato de que foi sob a
direção nominal de membros da burguesia açucareira do Nordeste que o eixo
85
da produção do açúcar passou do Nordeste para a “região’ industrial
comandado por São Paulo.
[...]
A intervenção do IAA na economia do “Nordeste” açucareiro não mudou a
forma de reprodução do capital, contribuindo antes para reforçar certas
características “primitivas” que tal economia tinha recriado em lei interior
(p. 67).
Na concepção de Silveira (1980), a criação do IAA se constituiu numa medida de
intervenção do Estado na divisão regional do trabalho pertinente à economia açucareira, que,
se em aparência consistia na expressão político-institucional do grupo açucareiro nordestino,
de fato é a partir daí que se inicia “o processo de retirar-lhe definitivamente o tapete dos pés”
(p. 20).
Para Andrade (1993), a partir deste período, a indústria açucareira foi estimulada a
crescer, através de programas específicos do IAA, não só visando à modernização e aumento
da capacidade das usinas, como estimulando o crescimento da produção do álcool. “O
Nordeste viveu assim um processo de industrialização que promoveu o seu crescimento, sem
que o mesmo fosse acompanhado por um autêntico desenvolvimento” (p. 25).
As críticas à criação do IAA também compõem os debates apresentados no livro A
Invenção do Nordeste e outra artes, de Albuquerque que assim discorre:
A política modernizante, industrializante e nacionalista do Estado, no póstrinta, só faz aprofundar as distâncias entre essa área (O Nordeste) e o Sul do
país e subordiná-lo cada vez mais; obrigando-a a aceitar uma posição
subalterna na estrutura do poder. São criadas políticas compensatórias, como
o DNOCS e o IAA, instituições destinadas a falar em nome deste espaço e a
distribuir migalhas que caem do céu do estado indo parar nos bolsos dos
grandes proprietários de terra e empresários, funcionando como incentivos a
uma obsolescência tecnológica e a uma crescente falta de investimentos
produtivos. Isto torna o Nordeste a região que praticamente vive de esmolas
institucionalizadas através de subsídios, empréstimos que não são pagos,
recursos para o combate à seca que são desviados e isenções fiscais (p. 74).
Como podemos verificar, há uma relação entre Estado e economia no Brasil, Desde o
início da formação do Estado brasileiro aos nossos dias, as mudanças nas feições do aparelho
estatal anteciparam sempre mudanças na economia, sempre em direção à modernização
capitalista. Após 1930 - quando o padrão de acumulação, sustentado, fundamentalmente, no
setor externo, mostrava-se esgotado e a modernização das bases econômicas e da sociedade
rumo a uma economia industrial pareciam o único caminho viável - o Estado passa a cumprir
um papel direto e ativo no desenvolvimento industrial brasileiro, é chegado o momento de
86
alterar o padrão de acumulação capitalista no Brasil, deslocando o eixo para o mercado
interno (FURTADO, 1974ª apud Vieira, 2004).
Aroldo de Azevedo (1958), voltando a comentar sobre a economia do Nordeste, agora
no seu declínio, relata:
Nos últimos 25 anos, estamos assistindo a uma verdadeira transformação na
lavoura canavieira. A decadência das espécies cultivadas, que descendiam
das do período colonial, e a devastação causada pelo “mosaico” facilitaram
essa renovação; foram introduzidas espécies oriundas de Java e da Índia,
mais ricas e mais resistentes.
Por outro lado, evoluiu bastante a indústria do açúcar e do álcool. Os velhos
engenhos e as antiquadas engenhocas (“banguês”) começaram a ser
substituídas por usinas modernas e aperfeiçoadas, concorrendo, assim, para a
melhoria do produto.
O Nordeste foi até bem pouco tempo o maior centro de produção no país. Os
grandes canaviais estendem-se na zona litorânea, onde domina o solo de
“massapé”. Pernambuco vem à frente, sem encontrar rival. Seguem-se
Alagoas, Paraíba e Sergipe.
O sertão do Nordeste, que foi o berço de nossa pecuária; é hoje a região
menos importante. Contém um quinto do nosso rebanho de bovinos, cuja
criação faz de maneira rudimentar e sem os necessários cuidados, destina-se
à produção de carne e couro (p. 197).
Numa economia capitalista, as diferenças entre os lugares aparecem nas
particularidades das formações sociais, combinando vários níveis, sejam qualitativos sejam
quantitativos, expressando o valor de cada local na divisão internacional do trabalho, o que
representa a reprodução da ordem internacional na organização local da sociedade.
O desenvolvimento desigual das regiões no mundo capitalista resulta da
articulação de diversos modos de produção, o que é determinado por níveis
diferenciados de acumulação interna, promovendo impactos econômicos
cada vez mais intensos à medida que os espaços se integram por meio do
mercado e sob a hegemonia do capital industrial (VIEIRA, 2004, p. 112).
Concordamos com Silveira (1980), quando afirma que é a divisão internacional do
trabalho que realiza a expansão capitalista em sentido geográfico, de extensão, subordinando
áreas não capitalistas para o sentido de acumulação, transformando-as de organizações autossuficientes na produção de valores de uso em organizações especializadas e dependentes,
produtoras de valores de troca.
A preocupação com medidas governamentais sobre a preservação do ambiente
também está presente na obra de Azevedo:
87
O governo federal tem criado alguns hortos florestais (Gávea, Lorena, Ibura,
Ubajara), que orientam os interessados no reflorestamento, ao mesmo tempo
que em certos estados (São Paulo, por exemplo) se tomam idênticas
medidas. Além disso, a plantação de eucaliptos vem sendo feita de maneira
sistemática em São Paulo como no Rio Grande do Sul, onde já existem
milhões de pés.
Digna de elogios, também, é a criação de parques nacionais, que constituirão
verdadeiras reservas de nossas riquezas florestais. Atualmente se acham em
organização cinco desses parques: o do Itatiaia, o do Iguassú, o da Serra dos
Órgãos, o dos Aimorés e o do Monte Pascoal (AZEVEDO, 1958, p. 216).
Acreditamos que a preocupação do governo com a criação de parques nacionais esteja
relacionada com o turismo. Nascido como atividade econômica na segunda metade do século
XIX, inicialmente voltado para consumidores de alto poder aquisitivo devido aos altos custos
das viagens, o turismo passa e se estruturar como “indústria” no pós Segunda Guerra
Mundial. A busca de mais e mais turistas combina muito bem com a nova estratégia de
desenvolvimento.
É, pois, neste sentido que Nosella (1981), denunciando a ideologia subjacente nos
textos didáticos ao publicar: As Belas Mentiras, afirma que a natureza, da forma como é
geralmente descrita pelos textos de leitura, parece ser um ambiente incontaminado, não
realizando um despertar crítico de maior profundidade sobre as extensões da devastação
ecológica empreendida pelo homem contemporâneo, que não se limita a destruir as árvores.
Tal devastação abrange reservas florestais inteiras, além da poluição dos rios, do mar e do ar.
É o comentário sobre o comércio interno do nosso país, a chave que encerra o livro
aqui analisado. Vejamos, então:
O aumento de nossas vias terrestres e o crescimento de nossa navegação de
cabotagem têm concorrido para aumentar o intercâmbio entre as diversas
regiões brasileiras.
O Norte e o Nordeste fornecem para as regiões meridionais, sobretudo o
açúcar, a borracha, oleaginosos, fibras têxteis, sal. Em compensação, o Sul e
o Centro-Leste enviam para aquelas regiões artigos manufaturados, charque,
milho, arroz, feijão, batata, laticínio. Para os centros industriais, os estados
sulinos fornecem carvão de pedra. Daí a interdependência das diversas zonas
econômicas de nosso país, o que é um sólido fundamento em que se apoia a
unidade nacional (AZEVEDO, 1958, p. 232).
Para uma reflexão neste sentido, faz-se necessário a citação de Oliveira (1981),
quando, discutindo o aumento das disparidades regionais como sinal e momento de integração
nacional, relata:
88
Esse movimento dialético destrói para concentrar, e capta o excedente das
outras “regiões” para centralizar o capital. O resultado é, em sua etapa
inicial, a quebra das barreiras inter-regionais, as expansões do sistema de
transportes facilitando a circulação nacional das mercadorias. A expansão do
sistema capitalista de produção ocorre mediante ciclos sucessivos,
determinados pela mudança na composição orgânica do capital. Tais ciclos,
ou o ciclo capitalista, de forma genérica, são a forma que tomam as
mudanças na composição orgânica do capital; elas correspondem, por sua
vez, ao movimento de concentração e centralização especialmente a forma
de destruição das economias regionais ou das “regiões”. Estas, produzidas
agora no centro de gravidade da expansão do sistema, são em si mesmas
tantas outras formas do movimento de concentração; e a exploração das
capitais das “regiões” em estagnação é a forma do movimento de
centralização. Aparentemente, pois, sucede de início uma destruição das
economias “regionais”, mas essa destruição não é senão uma das formas da
expansão do sistema em escala nacional (p. 75-76).
Por outro lado, Castro (2009), acreditando que o conjunto das demandas regionais,
incorporadas à agenda política nacional, não pode ser reduzido a uma lógica apenas de
racionalidade acumulativa do capital no território nacional, completa:
Nem pode ser atribuído às tensões em bases políticas regionais, percebidas
como contraditórias à unidade da federação. Pois a realidade é que o sistema
representativo é regionalizado muito mais por uma lógica de inserção
territorial da vida social no sistema político do que por qualquer desvio desse
sistema (p. 199).
O discurso nacional-patriótico verificado nos livros didáticos de Geografia de Delgado
de Carvalho e Aroldo de Azevedo, a partir do ângulo teórico-metodológico da Geografia
Moderna, se deu nos compêndios desta disciplina sob influência da Geografia francesa, os
quais promovem a compartimentação natureza/habitantes/economia. Neste contexto, Pereira
afirma:
Carvalho busca situar-se claramente em relação aos debates teóricometodológicos que se desenrolavam internamente à Geografia de sua época
e informar ao seu público leitor, tanto que na apresentação de seu livro
(Geografia do Brasil, de 1913), quando se refere à polêmica possibilismo &
determinismo, assume em relação a ela posições claras, ao negar poder de
determinação à natureza e afirmar que sua influência diminui com os
“progressos da civilização”, propondo como tarefa da Geografia o estudo
dos gêneros de vida dos grupos sociais nos quadros naturais (1989. p. 1617).
De modo que a formulação da realidade geográfica como economia produzida pelas
relações entre a natureza e os habitantes humanos remetem ao funcionalismo durkheineano
89
enviesado no constructo teórico-metodológico de Vidal de La Blache: em um quadro natural,
identificam-se, descrevem-se e explicam-se os gêneros de vida, observando e analisando,
enquanto fenômenos sociais, de forma objetiva e isenta, o funcionamento de determinada
região:
[...] o pensamento vidaliano demonstra suas raízes funcionalistas ao apoiarse no conceito de gêneros de vida, como um conjunto articulado de
atividades enraizadas historicamente e que expressam a adaptação ou
resposta dos grupos sociais ao meio geográfico. A região aparece como uma
unidade espacial com relativa autonomia funcional e o todo (espaço
geográfico) como um mosaico dessas unidades (PEREIRA, 1989, p. 22).
Trata-se do paradigma geográfico francês “A Terra e o Homem”, em que pese o
debate sobre o determinismo e o possibilismo, colocados algumas vezes por autores de
manuais didáticos, como Carvalho e Azevedo. Em seu conjunto estas obras geográficas têm o
gesto de adaptar o social ao natural/físico (VESENTINI, 2001, p. 168) e o sentido disso é
instaurar o Estado nos limites da nação, incidindo na existência ou na fabricação de uma. O
efeito de um entendimento do espaço geográfico como uma tricotomia regional servia,
portanto, aos propósitos de uma educação nacional-patriótica.
Para Silveira (1980), aqui se foca a segunda vertente historiográfica sobre o Nordeste,
de feição neoliberal, que leva à constatação de “dois brasis”: um arcaico identificado com o
subdesenvolvimento, localizado, sobretudo no Nordeste agrário; outro moderno, identificado
com o progresso e desenvolvimento, localizado no Centro-Sul industrializado. Ainda
seguindo o raciocínio de Silveira (1980), Celso Furtado, “o grande intérprete” dessa
dualidade, ao aprofundar o conhecimento sobre a Região Nordeste, adverte para a ameaça
advinda dos desequilíbrios regionais sobre a “Unidade Nacional” e assim se pronuncia:
A desigualdade econômica, quando alcança certo ponto, se institucionaliza
[...]. Quando uma economia subdesenvolvida cresce – como é o caso em
todo o Brasil, mesmo que na região de São Paulo – os salários não tendem a
crescer com a produtividade. Disso todos sabem. Cresce a economia e os
salários podem não crescer com a produtividade, pelo simples fato de que há
uma oferta de mão de obra pressionando por todos os lados e impedindo a
organização da classe trabalhadora [...]. Quando se vencer essa etapa em São
Paulo, uma das áreas mais desenvolvidas do Brasil, os salários tenderão
espontaneamente a pressionar para cima, à proporção que aumenta a
produtividade. E, então, a classe trabalhadora se organizará eficientemente,
como em todos os países industrializados do mundo. Terá força quando se
tornar um fator relativamente escasso [...] Em tais circunstâncias, a classe
trabalhadora, seja qual for o regime, se organiza eficientemente e assume
posição política poderosa. E, a partir desse momento, não mais permite que
90
seus salários sejam condicionados por uma afluência desorganizada de mão
de obra [...]. Se tal fenômeno vier a ocorrer no Brasil, país de grande
extensão geográfica, a formação de grupos regionais antagônicos poderá
ameaçar a maior conquista do nosso passado: a unidade nacional.
(FURTADO, 1959, p. 14).
Todavia, tal proposta dualista de utilizar-se do planejamento para promover o
desenvolvimento no sentido burguês coadunava-se com o ideário neoclássico de uma
determinada intervenção do Estado na economia, para alterar a alocação de fatores de modo a
ser alcançado o ponto optimum do equilíbrio e harmonia das forças sociais, cujo modelo de
referência era as sociedades capitalistas hegemônicas (SILVEIRA, ibidem).
Ainda na vertente liberal se destaca a obra clássica de Josué de Castro (1954),
Geografia da Fome, que centrada sobre os países subdesenvolvidos, aponta, entre os casos
mais gritantes, a degradação biológica pela fome do Nordeste brasileiro. Esse elemento
reprisa a tecla das disparidades regionais e diagnostica como determinante básico desse
quadro o tipo de exportação agrícola da área: o latifúndio agrário com produção de gêneros de
exportação.
Na obra de Manuel Correia de Andrade (1963), A Terra e o Homem no Nordeste, na
interpretação de Silveira (Ibidem), está implícita uma noção de região econômica, que
perpassa na explicação da diversidade interna ao território do Nordeste. Contudo, falta à obra
um tratamento mais circunstanciado de aspectos como a tessitura comum às várias “regiões”
dentro da “Região Nordeste”, a articulação da “região” com outras “regiões” do país, e das
“regiões” internas com o Nordeste, umas com as outras.
É, pois, a interpretação de Francisco de Oliveira que constitui a terceira vertente de
abordagem da problemática regional nordestina que veicula, pois, na visão de Silveira
(Ibidem), uma percepção diferenciada do espaço interna e externamente. Para esse autor, as
“regiões” não são encaradas nem homogeneizadamente, esvaziado o seu conteúdo de relações
de classes, nem isoladamente, esvaziadas nas relações com as outras regiões.
O espaço onde se imbrica dialeticamente uma forma especial de reprodução
do capital, e por consequência uma forma espacial da luta de classes, onde o
econômico e o político se fusionam e animam uma forma especial de
aparecer no produto social e nos pressupostos de reposição (OLIVEIRA,
1977, p. 29).
Entretanto, sobre a obra de Francisco de Oliveira Lencioni (Op. cit.) afirma que:
[...] Trouxe uma perspectiva teórica de análise regional ao relacionar a
91
discussão do processo de valorização do capital com sua mobilidade
espacial. Entretanto, ao conduzir à ideia de desaparecimento da região, vista
apenas como um espaço socioeconômico, não só desnaturaliza a região
como pode conduzir à anulação de seu conteúdo cultural (LENCIONI, op.
cit., p. 172).
Entre historiadores paraibanos também há controvérsias sobre a formação da Região
Nordeste. Albuquerque, historiador campinense, afirma, em sua obra A Invenção do Nordeste
e outras artes, que:
O Nordeste é uma produção imagético-discursiva formada a partir de uma
sensibilidade cada vez mais específica, gestada historicamente, em relação a
uma dada área do país. E é tal a consciência desta formulação discursiva e
imagética que dificulta, até hoje uma nova configuração de ‘verdades’ sobre
este espaço (2001, p. 49).
Já o historiador Vieira (2001), em seu artigo intitulado A Teia Inescapável do discurso
Regionalista Nordestino: “A invenção do Nordeste e outra artes”, chama atenção para o fato
de Albuquerque (2001) negar que a reorganização espacial no Brasil é obra do nascente
capitalismo industrial e de suas relações cada vez mais dinâmicas com o mercado externo, da
complexidade pelo nascente mercado de trabalho, isto tudo argumentado a partir de duas
posições rígidas: tempo x espaço, modernismo x regionalismo.
É neste sentido que Vlach (2004) questiona se no suposto alheamento do político/da
política, na aceitação da Geografia política francesa, na rejeição da Geografia política de
Ratzel e da Geopolitik, na rejeição da geopolítica brasileira (mas aceitando o princípio de um
“grande destino” nacional! - um complexo de contradições!) -, não estaria a explicação para a
liderança isolada de Aroldo de Azevedo durante duas ou três décadas, quanto à venda de
livro. Não é pretensão minha responder esta indagação, pois seria muita ousadia, mas sim
aumentar o debate.
Passaremos, a partir de agora, ao terceiro capítulo, onde será analisada a concepção
que Vesentini e Vlach apresentam sobre o ensino da Geografia e nela a Região Nordeste por
nós destacada.
92
CAPITULO 3 - VESENTINI, VLACH E A REGIÃO NORDESTE NO LIVRO
DIDÁTICO
3.1 A Geografia pós-ditadura militar brasileira
A realização do Simpósio sobre os problemas ambientais, pela Unesco, em Paris, no
ano de 1968, que prenuncia a Conferência de Estocolmo, em 1972; a crise do petróleo em
1973; a implantação do Ato Institucional nº 5 em 1968 e a atuação, a partir de 1973, do
Projeto Radam Brasil, anunciam uma nova crise mundial. Vejamos o que diz Hobsbawm
(2009) sobre este período:
Os jornalistas e ensaístas filosóficos que detectaram o “fim da história” na
queda do império soviético estavam errados. O argumento é melhor quando
se afirma que no terceiro quartel do século assinalou o fim dos sete ou oito
milênios de história humana iniciados com a revolução da agricultura na
Idade da Pedra, quando mais não fosse porque ele encerrou a longa era em
que a maioria esmagadora da raça humana vivia plantando alimentos e
pastoreando rebanhos (p. 18).
[...]
À medida que a década de 1980 passava para a de 1990, foi ficando evidente
que a crise mundial não era geral apenas no sentido econômico, mas também
político. O colapso dos regimes comunistas entre Istria e Vladivostok não
apenas produziu uma enorme zona de incerteza política, instabilidade, caos e
guerra civil, como também destruiu o sistema internacional que dera
estabilidade às relações internacionais durante cerca de quarenta anos. Além
disso, esse colapso revelou a precariedade dos sistemas políticos internos
apoiados essencialmente em tal estabilidade. As tensões das economias em
dificuldades minaram os sistemas políticos das democracias liberais,
parlamentares ou presidenciais, que desde a Segunda Guerra Mundial
vinham funcionando tão bem nos países capitalistas, assim como minaram
todos os sistemas políticos vigentes no Terceiro Mundo. As próprias
unidades básicas da política, os “Estados-nação” territoriais, soberanos e
independentes, inclusive os mais antigos e estáveis, viram-se esfacelados
pelas forças de uma economia supranacional ou transnacional e pelas forças
infranacionais de regiões e grupos étnicos secessionistas, alguns dos quais –
tal é a ironia da história – exigiram para si o status anacrônico e irreal de
“Estados-nação” em miniatura. O futuro da política era obscuro, mas sua
crise, no final do Breve Século, patente (p. 20).
Ainda sobre esse mesmo período, Santos (1980), acreditando que estamos penetrando
num período tecnológico em que cada nação parece só poder encontrar seu destino sob a
forma de um Estado, complementa:
Não é sem motivo que a mundialização da economia, começada desde o fim
do século XIX e atualmente generalizada, coincide com a criação do Estado
93
moderno e sua evolução até seu aspecto atual. Na verdade, todo projeto de
ação proveniente de um país e em direção a um outro, seja ele individual ou
venha de uma firma, só tem eficácia se se faz por intermédio do Estado.
O Estado exerce, pois um papel de intermediário entre as forças externas e
os espaços chamados a repercutir localmente essas forças externas. O Estado
não é, entretanto, um intermediário passivo; ao acolher os feixes de
influências externas ele os deforma, modificando sua importância, sua
direção e, mesmo, sua natureza. Isto significa que a reorganização de um
subespaço sob a influência de forças externas depende sempre do papel que
o Estado exerce ( p. 183).
No Brasil pode-se observar esse advento a partir do espetacular crescimento urbano
que abre espaço para um conjunto de fatores que decorrem do aumento da massa
populacional, da sua distribuição pelo território e que resulta na ocupação de áreas novas e na
crescente opção pelas cidades. “Estes fatores requalificam atores sociais tradicionais, fazem
surgir novos e ampliam a agenda de interesses e de conflitos” (CASTRO, 2009, p. 120).
O projeto nacional desenvolvimentista do período autoritário dos governos militares
deixou suas marcas. O território brasileiro tornou-se mais receptivo e competitivo, tanto para
o capital como para a população, o que propiciou a interiorização da expansão urbana e das
atividades econômicas a ela associadas, além da expansão da fronteira agrícola, que nas
últimas décadas vem sendo impulsionada pelos tratores do agrobusiness e não mais pelas
patas dos bois, com ocorreu até o início da década de 1960 (CASTRO, 2009, p. 121).
Todas essas mudanças fizeram surgir novos atores sociais, deram maior visibilidade ao
país, interna e externamente, e trouxeram consequências políticas importantes. A Constituição
de 1988, com sua essência descentralizadora, participativa e democrática, representa o efeito
mais visível e profundo do modo como a sociedade civil pode ser afetada por mudanças infraestruturais e influencia o aparato institucional do Estado para obter respostas às suas
demandas.
A Constituinte e o reordenamento institucional que a ela se seguiu culminam diversas
lutas que têm raízes na década de 1960, quando diversos atores sociais pleiteavam as
“Reformas de Base”. Assim, a luta pela Reforma Sanitária, aliando os profissionais da saúde
aos sanitaristas, aos emergentes movimentos populares e sindicais na área da saúde, consegue
aprovar o Sistema Único de Saúde (SUS), que institui um sistema de cogestão e controle
social tripartite (Estado, profissionais e usuários) das políticas da saúde, que se articula desde
os conselhos gestores de equipamentos básicos de saúde até o Conselho Nacional, regido pela
Conferência Nacional de Saúde.
A luta pela Reforma Urbana consagra a função social da propriedade e da cidade, num
capítulo inédito sobre a questão urbana que prevê o planejamento e a gestão participativa das
94
políticas urbanas e que, embora não tenha consolidado um sistema articulado de conselhos,
tem instituído diversos espaços de cogestão das políticas urbanas nas esferas estaduais e
municipais (CARVALHO, 1998).
Merecem também destaque, pela participação da sociedade organizada, pressionando e
construindo espaços de cogestão, as áreas que envolvem políticas de defesa da criança e do
adolescente e de assistência social. Através das novas leis como o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), estas políticas, marcadas
tradicionalmente pelo paternalismo e pelo clientelismo, são redefinidas de modo mais
universal e democrático e submetidas ao controle social exercido por movimentos sociais e
entidades profissionais.
Além dos conselhos setoriais, é preciso salientar os “Orçamentos Participativos”,
experiências que resgatam processos de debate do orçamento municipal provocados por
movimentos sociais nos municípios de Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, já na primeira
metade dos anos de 1980, e que passaram a ser implementados por governos municipais
comprometidos com programas democráticos e populares.
O Orçamento Participativo constitui-se em um processo de consultas e debates sobre o
orçamento público municipal, que tem se ampliado a cada ano, à medida que, na relação entre
população participante e o governo, vão-se gerando aprendizados, vai-se redefinindo a
metodologia e o alcance dessa participação. Através deste processo a população de algumas
cidades brasileiras – especialmente os setores mais pobres – passa a discutir os problemas
urbanos que afetam suas vidas, as prioridades de investimento do governo municipal e a
decidir o que deve ser feito, onde e quando. Depois se organizam grupos de acompanhamento
da execução orçamentária e das obras realizadas com esses recursos. Esse procedimento se
repete a cada ano: realizam-se assembleias nos bairros, nas regiões e no município, elegem-se
as prioridades e os delegados que representarão cada região. Um “Conselho Municipal de
Orçamento” discute a que prioridades deverão ser destinados os recursos disponíveis para o
investimento e os delegados de cada bairro ou região acompanham e fiscalizam a realização
das obras aprovadas.
Essas experiências têm encontrado grande repercussão, como forma inovadora de
gestão pública, pelo seu caráter modernizador e democratizador, com grande capacidade de
aumentar a eficácia e a legitimidade do governo. Têm sido premiadas por escolas de gestão
pública e aplaudidas por organicismos internacionais como a Conferência da ONU sobre o
habitat, o que tem gerado certa generalização das iniciativas.
Por outro lado, entretanto, se os componentes acima citados refletem na constituição e
95
na generalização de um discurso participativo e de uma multiplicidade de experiências e
espaços participativos, é preciso ainda apontar outro uso deste discurso, que tem sido feito
pelos governos neoliberais, em todo o mundo: desobrigando-se de encargos sociais estes
governos transferem responsabilidades às instâncias locais, ao mercado e à sociedade.
Este é um tipo de reforma do Estado fundado em concepções e ações que não
privilegiam o fortalecimento da cidadania, que ao invés de direitos retorna aos favores e à
caridade, que não produz políticas universais, mas políticas compensatórias, verdadeiras
“cestas básicas” de saúde, educação, previdência, etc., para os mais pobres, privatizando tudo
o mais.
A reforma do Estado neoliberal tem provocado uma “zona cinzenta”, uma disputa
velada de significados que provoca perplexidade mesmo nos movimentos sociais e em outros
setores da sociedade organizada comprometidos com a ampliação da cidadania e da inclusão
social. Exemplo disso são as políticas de descentralização. Embora seja um princípio sempre
defendido pelos setores democrático-populares, pois favorece o controle social nos espaços
locais, temos assistido a processos de “descentralização” que representam esforços de
“economia” de recursos, pela transferência de responsabilidades federais aos estados e
municípios e que produzem o “encolhimento” das políticas sociais, reduzindo-as a políticas
compensatórias voltadas apenas àqueles que não têm acesso aos serviços privados. Este tipo
de descentralização, que não é acompanhado de descentralização de recursos, tem sido
chamado, no Brasil, de “prefeiturização”, ao invés de uma verdadeira descentralização de
poder, acompanhada de controle social (CARVALHO, 1998).
Os conselhos têm sido largamente usados para respaldar esses processos, ratificando
políticas municipais supostamente democráticas e possibilitando repasses de recursos
supostamente submetidos a um controle social. Certa “moralização” da política, a eliminação
de mecanismos fisiológicos e corruptos, têm sido mesmo exigências dos bancos multilaterais
de desenvolvimento, como garantia de “eficácia” e da eliminação de mecanismos de “fuga de
recursos” ligados a critérios da velha política clientelista, substituindo-os por uma
racionalidade capitalista moderna. Essa nova racionalidade, se por um lado, recusa razões
clientelistas, não incorpora como critério a participação cidadã, não inclui a participação dos
setores social e cidadania, reduzidos às finalidades dessa “modernização”.
Emerge, dessa forma, um significado neoliberal de cidadania, que a entende como a
inclusão das pessoas ao conjunto dos consumidores, esvaziando-a do seu significado
instituinte, que garante e alarga continuamente o escopo dos direitos, que afirma, acima de
tudo, o direito a participar da definição e da gestão de novos direitos. Ao contrário, assistimos
96
a uma progressiva destituição de direitos, principalmente dos direitos trabalhistas, do direito
ao trabalho e dos direitos sociais, a uma deslegitimação das formas de organização e
participação social, acusadas de “corporativas”, de “representantes de atraso” e promotoras de
“baderna”, ao esvaziamento dos conselhos, câmaras setoriais e outros canais de gestão
participativa construídos com a forte participação democrática da sociedade. Assistimos ao
alastrar, como se fosse uma unanimidade avassaladora, de uma concepção de “modernidade”
que pretende reduzir o Estado, desqualificando-o enquanto promotor de políticas sociais
redistribuídoras de renda, reduzindo drasticamente os orçamentos dessas políticas e eximindo-o dessas responsabilidades (CARVALHO, 1998).
O significado neoliberal de cidadania, democracia, descentralização, participação ou
parceria conferido a inúmeros projetos governamentais não define, no entanto, de forma
mecânica e absoluta o seu alcance. A disputa de significado e de espaço é permanente e
consegue, em muitos casos, uma reapropriação desses espaços na perspectiva de uma
participação mais substantiva, inclusa, instituinte.
Quanto ao sistema escolar, este nunca foi tão importante como nos dias de hoje. Existe
uma vasta bibliografia que explicita o papel estratégico que o sistema escolar moderno
desempenhou no desenvolvimento do capitalismo na sua fase industrial. Mas durante a
primeira, e mesmo com a segunda Revolução Industrial, esta já no século XX, havia tão
somente a necessidade de uma pequena escolarização, que atendesse às demandas do
patriotismo, da vida moderna, e algumas vezes de um serviço mais “técnico” (VESENTINI,
2004).
O avançar da Terceira Revolução Industrial necessita de uma força de trabalho cada
vez mais qualificada e, mais ainda, a flexibilidade, a reciclagem contínua; o “aprender a
aprender” torna-se mais importantes de que uma formação técnica ou profissionalizante.
Tanto o desenvolvimento social como o econômico depende hoje muito mais dos “recursos
humanos”, do “poder cerebral”, do que dos recursos naturais ou mesmo dos financeiros. As
medidas que vêm sendo tomadas para confirmar o referido desenvolvimento é destacada por
Vesentini da seguinte maneira:
Desde no mínimo 1990 que o banco Mundial só concede novos empréstimos
aos países “em desenvolvimento” com a condição de existirem
investimentos na educação e na melhor qualificação da mão de obra. E o
programa do PNUD das Nações Unidas, que desde 1990 estipula o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 174 países, já passou a incorporar como
elementos básicos para calcular esse índice as taxas de escolaridade
(masculina e feminina), o acesso da população em geral ao ensino elementar,
97
ao ensino secundário, etc. (VESENTINI, 2004). Um prêmio Nobel de
economia, num estudo com intensa repercussão nos meios acadêmicos e nas
organizações internacionais, evidenciou que o desenvolvimento deve ser
entendido como expansão das capacidades do ser humano, como
participação nas decisões, com oportunidades de ser instruído enfim. Isso
sem contar aquele famoso estudo patrocinado pela Unesco, que contou com
a colaboração de dezenas de educadores de inúmeras partes do mundo e
exerceu enorme influência em várias novas propostas de reformulação
curricular em países da América Latina, da África e da Ásia (inclusive os
PCNs do Brasil), no qual os conteúdos das disciplinas escolares são
valorizados e o fundamental passa a ser o “aprender a aprender, a ser, a
conviver com os outros, a fazer” (2004, p. 9).
Quanto à Geografia escolar brasileira, questões que no início da década de 1960
estavam presentes como: o elitismo da escola, o desprezo do cotidiano no processo de ensino-aprendizagem, a deterioração das condições de vida da maioria da população, o
analfabetismo, a situação de dependência do Estado brasileiro na cena internacional, a
valorização do planejamento e da atuação do geógrafo a serviço do Estado e das empresas
privadas, entre outros, levaram alguns professores de Geografia da escola pública a procurar
alternativas que levassem em conta essas questões (VLACH, 2004).
A busca se intensificou no período da ditadura militar (1964-1985), quando a
Geografia e a História foram descaracterizadas pela lei nº 5.692/71 e diluídas nos chamados
Estudos Sociais. O regime militar conduziu a luta pela redemocratização do Estado brasileiro,
por uma cidadania plena, pela defesa da escola e pela defesa do ensino de Geografia nos então
primeiro (5ª a 8ª séries) e segundo graus, o que, por si só, exigia uma Geografia
comprometida com a realidade brasileira, indissociável da arena política mundial e de seus
desafios, que também se manifestavam em escala nacional, tais como a necessidade de
construção de uma sociedade que pudesse vivenciar a experiência de “ter direito a ter
direitos”, também do ponto de vista da questão ambiental (VLACH, 2004).
Diante do exposto, os paradigmas tradicionais são submetidos à severa crítica por
parte de uma Geografia nascida de novas circunstâncias que passam a caracterizar o
capitalismo. As origens desta Geografia Crítica, que não só contestasse o pensamento
dominante, mas tivesse também a intenção de participar de um processo de transformação da
sociedade, situam-se internacionalmente, porém, na opinião de Corrêa (2007), no final do
século XIX com as propostas dos anarquistas Élisée Reclus e Piotr Kropotkin. O porquê do
ressurgimento desta Geografia a partir da segunda metade da década de 1960 é explicado por
Corrêa (2007) da seguinte maneira:
Verifica-se nos países de capitalismo avançado o agravamento de tensões
98
sociais, originado por crise de desemprego, habitação, envolvendo ainda
questões raciais. Simultaneamente, em vários países do Terceiro Mundo,
surgem movimentos nacionalistas e de libertação. O que se pensava até
então em termos de geografia não satisfaz, isto é, não mascara mais a
dramática realidade. Os modelos normativos e as teorias de desenvolvimento
foram reduzidos ao que efetivamente são: discursos ideológicos, no melhor
dos casos empregados por pesquisadores ingênuos e bem intencionados (p.
20).
Para entender a década de 1970 e as transformações teóricas e práticas pelas quais a
Geografia passou naquele momento, é necessário retomar as discussões que já aconteciam nos
Estados Unidos desde os anos de 1950 e 1960, período efervescente da Geografia Radical
americana, e também, na Europa, onde a Geografia era questionada enquanto função social,
enquanto estratégia de caráter militar/econômico, e, paralelamente, sendo ensinada na escola
de forma maçante, compartimentada em conteúdos burocratizados pelos programas escolares
(VLACH et al., 2006).
Tais inquietações no campo teórico da Geografia tomaram corpo por meio de reivindicações dos professores por mais “espaços de diálogo” sobre a educação, a questão da formação docente e a pesquisa voltada para o ensino de Geografia.
A apreensão de professores com a situação de inércia da escola, especificamente, com
a Geografia brasileira, remota à década de 1960 (OLIVEIRA, 1999). No período anterior ao
golpe militar (1964), havia discussões sobre o papel do ensino na universidade, e a preocupação, cada vez maior, de abordar, nas aulas de Geografia, assuntos cotidianos e de fazer delas
momentos de reflexão da própria vida e do mundo (VESENTINI, 1989).
De forma geral, havia muitas possibilidades de participação cívica, que, entretanto, foram autoritariamente rompidas pelo golpe de 1964. Muitos professores que discutiam a importância de um ensino mais crítico, mais reflexivo e sem memorização, tiveram sua atuação
prejudicada. A partir da década de 1970, as frentes de discussão sobre ensino de Geografia e
sobre esta ciência de forma ampla, convergiram para as mesmas questões: ‘para que serve a
Geografia’ (?) quem a usa e para quê (?), gerando debates que se preocupavam cada vez mais
em colocar, primeiro, o interesse pela realidade e, por isso, não mais submissão e
desvinculação de críticas, e segundo, uma ênfase à Geografia ensinada, merecedora de várias
dissertações e teses a partir da década de 1980, evidenciando uma revalorização da Geografia
escolar pelo meio universitário.
Aumenta, pois, o debate teórico-metodológico em torno da Geografia ensinada e
“surge” a preocupação de explicar as origens de cada corrente teórica que influencia a prática
desta matéria que, de certa forma, continua influenciando o conteúdo escolar.
99
Para alguns autores, este passado da Geografia está atrelado ao positivismo como linha
teórica:
O que é nosso passado senão uma tradição teórica embasada, quase que exclusivamente, numa concepção positivista de mundo? O que foi nossa prática senão uma tecnologia de compreensão e intervenção no espaço terrestre,
a serviço das classes dominantes e dos Estados? (MORAES, 1985. p. 75).
Ligados ao positivismo também estão seus procedimentos, como o uso da técnica em
favor do reconhecimento do território para uma classe social específica:
O século XIX, do ponto de vista da epistemologia, é o século do positivismo,
da sua emergência e da sua consolidação (...), a situação histórica mostra
uma classe social – a burguesia industrial - consolidando sua conquista do
mundo (VLACH, 1992. p. 41).
O ensino de Geografia Moderna traz consigo uma concepção tradicional, de base teórica positivista, evidencia uma Geografia compartimentada, que privilegia o quadro natural,
“suprime o sujeito” e se considera neutra (neutralidade com fins próprios: dominação): “Ao
privilegiar a terra, o ensino de Geografia caminhou ao encontro da metodologia positivista, na
medida em que trabalhou as contradições sociais” (VLACH, 1992, p. 43).
Como exemplo desta metodologia positivista no sistema escolar pode-se destacar a hierarquia e a autoridade, a crença nos “fatos objetivos”, a avaliação e promoção, os diversos
gêneros de escola, a divisão acadêmica dos conhecimentos, os trabalhos pedagógicos, o saber
transformado em conhecimento instituído e fechado enquanto sistema, etc.
Entretanto, a Geografia dita tradicional não foi somente positivista:
Foi a Geografia Tradicional como um todo realmente positivista nessa acepção de escola de pensamento inaugurada por Comte? Temos que convir que
não: foram escassos na Geografia os discípulos do fundador do Positivismo
(Humboldt e Ritter, por exemplo, nunca fizeram referência a esse pensador
francês; suas fontes teóricas estão mais para Kant e Herder, além do romantismo alemão de Novalis, Schelling, De Maistre e Fichte) (...) tendo existido
casos de geógrafos (raros é verdade – dois exemplos são R. Hartshorne e
Paul Claval) idealistas ou racionalistas, que foram, portanto, antípodas em
relação ao empirismo (VESENTINI, 1987, p. 63).
Concordamos com Vesentini e relembramos aqui a concepção de Pesavento (2006),
para quem “todo conhecimento se constrói como um polimpsento, em cruzamento, superposições e reapropriações, que produzem novos significados” (PESAVENTO, 2006, p. 8).
100
Numa perspectiva internacional, a Geografia Crítica teria surgido em meados das décadas de 1970, inicialmente nos Estados Unidos (com a Geografia Radical) e na França e,
posteriormente, na Espanha, Itália, Alemanha, Suíça e em muitos outros países, tendo sido, na
sua origem, expressa ou pelo menos identificada com os periódicos Antípode: a Radical Journal of Geography (criada em 1969 nos Estados Unidos) e Hérodote (criada em 1976 na
França) além da enorme importância, como uma espécie de livro manifesto, da obra A
geografia: Isso serve, em primeiro lugar para fazer a guerra, de Ives Lacoste (1976).
Todavia, como a Geografia escolar, isto é, aquela praticada no ensino fundamental e
médio, possui e sempre possuiu uma dinâmica própria e relativamente independente da sua
vertente acadêmica, momentos antes do advento da Geografia Crítica acadêmica já existiam
professores de Geografia no ensino médio ou até no fundamental que inovavam as suas lições
– inclusive buscando subsídios na Economia, na Sociologia, na História e em aportes teóricos
como o marxismo e, principalmente, nas lutas sociais de suas épocas/lugares.
Assim sendo, a Geografia Crítica no Brasil, iniciou-se como um esforço por parte de
alguns docentes de superar (o que não significa abandonar totalmente) a sua tradição, a sua
formação universitária, aquilo que as universidades diziam que “deveria ser ensinado”. Esses
professores procuraram suscitar nos seus alunos a compreensão do subdesenvolvimento,
ligando esse tema com o sistema capitalista mundial e as suas áreas centrais e periféricas. Eles
procuraram também enfatizar a questão agrária do Brasil, a questão da distribuição social da
renda, a questão da pobreza e da violência policial. Na opinião de Bittencourt (1998), este
período foi marcado também
Por uma proposta de uma orientação curricular tendo como pressuposto a
interdisciplinaridade e era preciso, com urgência, repensar um conhecimento
solidificado pela cultura escolar. As Humanidades, Ciências da Natureza e
Matemática e Artes haviam servido como suporte para a organização das
disciplinas, mas haviam constituído, ao longo da escolarização, saberes
organizados de forma fragmentada e com finalidades diversas, a serviço de
uma outra escola. E havia ainda o debate a ser enfrentado quanto ao papel
político do conhecimento político (p. 17).
Fazendo uma análise sobre as perspectivas do ensino de Geografia no século XXI,
Vesentini (2004), após fazer comentários relevantes sobre os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) quanto à reafirmação dos ensinamentos oriundos da Unesco e ênfase à
interdisciplinaridade e aos temas transversais (ética, meio ambiente, pluralidade cultural,
orientação sexual, saúde, trabalho e consumo), afirma que este se constitui em um elemento
de centralização dos procedimentos e decisões no sistema escolar.
101
Em relação ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Vesentini (2004) acredita
que o mesmo pode, dentro de algum tempo, abolir os vestibulares, “verdadeira aberração
educacional” (p. 241). Entretanto, por ser um exame homogeneizador, choca-se com o
federalismo e com a necessidade democrática de deixar a cada comunidade local o direito de
estabelecer o currículo adequado à realidade de seus educandos.
As discussões atuais em Geografia escolar também passam pelas consequências
deixadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que veio ditar
novas reformulações nas licenciaturas, ampliando a carga horária da formação do professor; e
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, que indicam o Programa Oficial de Ensino a ser
seguido no país.
Existem hoje no Brasil cursos modulados ou parcelados, realizados nos finais de
semana e nas férias para formar em licenciatura plena aqueles professores de licenciatura
curta ou simplesmente leigos que já estavam em sala de aula. Estes cursos de formação
aligeirada são financiados pelo banco Mundial e buscam atender às exigências da LDB.
Além dos cursos parcelados/modulares, existem na atualidade os cursos de
licenciatura plena, de caráter regular e que certificam o professor em três anos. Este novo
cenário pode levantar questões sobre a nova/velha concepção de formação em massa de
professores, tal como já aconteceu na década de 1970, quando existia a licenciatura curta de
dois anos.
Concordamos com Vlach (2006) quando diz que “nada mais justo e oportuno do que
continuar a discutir a Geografia escolar a partir da formação de seus profissionais” (p. 92).
Nesse sentido, novos questionamentos abrem-se para isso, assim como para a formação à
distância, cuja implementação também é permitida pela lei vigente.
É neste contexto, portanto, que o livro didático Geografia Crítica, o espaço social e o
espaço brasileiro, elaborado pelo professor José William Vesentini e pela professora Vânia
Vlach, publicado pela editora Ática no ano de 2006 e destinado aos alunos do sétimo ano do
ensino fundamental (em período bem recente, denominado 6ª série do ensino fundamental)
será analisado.
3.2 A Geografia Crítica de Vesentini e Vlach - 2006
Apresentando o formato de um retângulo, a obra é produzida com papel de excelente
qualidade, ou seja, as folhas parecem um cetim, apresenta uma capa maleável e de cor azul,
como podemos observar na figura abaixo:
102
Figura 11: Foto da capa do livro Geografia Crítica o
espaço social e o espaço brasileiro – 2006 de José
W. Vesentini e Vânia Vlach
Fonte: Registrada por Lucineide Fábia Rodrigues Lopes – 2009
Logo na apresentação os autores vêm com uma proposta de renovação da abordagem da
Geografia tradicional, resultado de anos de experiências educacionais. Mas afirmam,
sobretudo, que a referida proposta não é abandonar uma visão da Geografia em detrimento de
outra. Ela (a proposta) visa à manutenção, com atualizações, de conceitos clássicos, ao mesmo
tempo em que propõe outros pertinentes a um momento histórico que exige novas formas de
inquirir e entender o mundo.
Preocupados em fazer com que os alunos compreendam as relações sociedade-espaço,
relatam que o papel da Geografia no sistema escolar atual é o de integrar o educando ao meio,
ajudando-o a conhecer o mundo em que vive. Portanto, trata-se de um ensino voltado para o
desenvolvimento da cidadania.
Depois dos conflitos que culminaram com a Segunda Grande Guerra, a evolução do
Estado e da cidadania recebeu, na opinião de Gomes (2002), uma síntese muito apreciada por
intermédio da obra de Thomas H. Marshall (1998). Para este autor, três campos de exercício
103
da cidadania são identificados e complementares, apesar de terem sido impostos em
momentos diferentes da história.
O primeiro conquistado no século XVIII, corresponde aos direitos civis, garantia da
liberdade, propriedade e justiça. O segundo teria se desenvolvido no século XIX, e diz
respeito aos direitos políticos: o sufrágio universal, a irrestrita elegibilidade e a garantia de
informação. Já o terceiro se caracteriza pela afirmação não só dos direitos sociais, mas
também da proteção social: saúde, trabalho e educação. Embora este último tenha tido a sua
luta iniciada no século XIX, ele se afirmou realmente como um direito a partir da primeira
metade do século XX.
Castro (2009) também tenta explicar as dimensões objetivas da cidadania tomando
como recurso analítico os direitos civis, políticos e sociais propostos por Marshal. E neste
contexto revela:
Não é possível negar esses três direitos como pilares daquilo que a cultura
política ocidental contemporânea considera ser cidadão: os direitos civis
como aqueles fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade
perante a lei, garantindo a vida em sociedade; os direitos políticos que
definem as normas, os limites da ação coletiva e individual e que asseguram
a participação no governo da sociedade; e os direitos sociais como
salvaguarda ao acesso à riqueza produzida coletivamente, através do direito
à educação, à saúde, à aposentadoria, ao trabalho e ao salário justo. Esses
direitos compõem um conjunto de ações que configuram o que as
democracias modernas consideram como justiça social. Se para os dois
primeiros direitos a lei é a instância que possibilita a isonomia, sendo
exigidos apenas os recursos institucionais que protegem a sua aplicação a
todos os residentes em todo território, no caso do último é a inserção
territorial das instituições, corporificadas nas organizações, que confere as
condições de acesso aos direitos sociais (p. 203).
No entender de Castro (2009), a cidadania tem sido ao longo da história das sociedades,
uma conquista, aliás, ampliada com os recursos institucionais que no território favorecem ou
constrangem a participação nesse sentido. E sobre a prática da cidadania no Brasil afirma:
O espaço brasileiro é marcado por fortes disparidades: de povoamento, de
atividades produtivas, de distribuição de renda, de educação, de
equipamentos sociais, etc., além de ser recortado em unidades federativas –
estados e municípios – de tamanhos muito variados. Esta diferenciação
existe também em relação à disponibilidade de equipamentos e às
características dos espaços políticos que reúnem as condições essenciais para
que a cidadania seja exercida. Esta relação entre a existência formal de um
direito a e as possibilidades de exercê-lo em um território concreto propõe a
geografia refletir sobre a mediação do espaço que se impõe ao conceito de
cidadania, uma vez que mesmo sob bases legais da isonomia na escala
nacional a lei não é capaz de, por si só, garantir igualdade de acesso aos
direitos na escala do cotidiano dos cidadãos.
104
Como tem sido abordada, através do estudo das formas de organização da vida em
sociedade, nas mais diversas manifestações dos movimentos sociais, a cidadania se
transformou num conceito de grande interesse para o ensino de Geografia. Muito mais do que
o exercício dos direitos e deveres previstos nas leis, a cidadania tem sido considerada como a
esfera da prática política, onde se conquista e se constrói, no dia a dia, mais participação na
vida social.
Para Vesentini (2004), o papel da escola na sociedade e suas relações com a cidadania
se redefinem com a criação e expansão de novos direitos como: os direitos das mulheres, das
crianças e dos idosos, os direitos de minorias étnicas ou de orientação sexual, como também o
direito a um ambiente sadio, entre outros.
O livro Geografia Crítica o espaço social e o espaço brasileiro, de Vesentini e Vlach
(2006) possui ao todo cento e noventa e duas páginas, em que são organizados doze capítulos
assim denominados: O Espaço Geográfico, Sociedade Moderna e Estado, Sociedade Moderna
e Economia, A Atividade Industrial, O Espaço Urbano, o Espaço Rural, Comércio,
Transportes e Comunicações, População, O Brasil e suas Regiões, O Nordeste, O Centro-Sul
e A Amazônia. No final podemos encontrar o glossário, a bibliografia e indicações de leituras
complementares.
Neste livro didático os autores, primeiramente, apresentam o espaço geográfico no
geral, aí incluindo elementos naturais e humanos de forma integrada, para, em seguida,
apresentarem a sociedade moderna, e nela o Estado. Nas sugestões de atividades recorre-se a
exercícios variados em que é sugerido o uso de vários recursos didáticos, tais como revistas
em quadrinhos, música, recortes de jornais, mapas, sites diversificados, etc.
Constatamos no referido livro uma expressiva quantidade de imagens (fotos, mapas)
coloridas, recurso não encontrado com a mesma frequência nos dois livros anteriormente
analisados, o que podemos deduzir que o texto não se define em si mesmo como expressão da
vontade do autor e da autora, mas, pelo contraste com os outros elementos dos quais se
diferencia. Nesse sentido, Chartier enfatiza:
Os dispositivos tipográficos têm, portanto, tanta importância ou até mais, do
que “sinais” textuais, pois são eles que dão suportes móveis às possíveis
atualizações do texto. Permitem um comércio perpétuo entre textos imóveis
e leitores que mudam, traduzindo no impresso as mutações de horizonte de
expectativa do público e propondo novas significações além daquelas que o
autor pretendia impor a seus leitores (CHARTIER, 1996, p. 98).
Temos consciência que este livro foi elaborado e publicado em um período em que tais
105
recursos estão muito mais disponíveis para autores e editoras do que quando os outros dois
livros analisados foram elaborados. Salientamos tal fato exatamente para ressaltar a diferença
e as transformações que ocorrem nas publicações didáticas historicamente. Porém, este é
apenas um destaque a que recorreremos em um ou outro tópico deste texto, pois não temos
como objetivo analisar os livros do ponto de vista imagético e nem discutir as questões
relativas à quantidade e qualidade das imagens utilizadas pelos autores em tela. Porém as
imagens se destacam nessas obras e serão chamadas quando acreditarmos necessário.
As regiões estudadas uma a uma somente são apresentadas a partir do capítulo nove: O
Brasil e suas regiões, após terem sido abordados os conteúdos sobre o Brasil, de forma
integrada. No item: A formação histórico-econômica do Brasil os autores relatam:
As diversidades regionais de um país sempre resultam de sua formação
histórica. É certo que algumas diferenças têm origem na própria natureza,
mas os grandes contrastes são de ordem econômica, cultural e política, isto é,
são determinados pela história de cada país.
Os contrastes regionais no interior do território brasileiro originaram-se da
formação histórico-econômica do nosso país. Ou seja, devem-se ao modo
pelo qual o Brasil se desenvolveu, desde sua colonização por Portugal até a
independência e posterior industrialização e urbanização, ocorridas
principalmente no século XX (VESENTINI/ VLACH, 2006, p. 139).
Podemos perceber, a partir desta citação, uma articulação do conceito de região e do
tema regional, como entende Corrêa (2007), com o modo de produção
como faz Lipietz; através das conexões entre classes sociais e acumulação
capitalista, conforme é o caso de Villeneuvé; por meio das relações entre
Estado e a sociedade local, mostrada por Dulong; ou ainda, introduzindo a
dimensão política, conexão de Chico Oliveira ao fazer a elegia do Nordeste
brasileiro (p. 41).
Vejamos como este último autor identifica uma região:
Para ele (Oliveira) a região é o espaço onde se imbricam dialeticamente uma
forma especial de reprodução do capital, e por consequência uma forma
espacial da luta de classe, onde o econômico e o político se fusionam e
animam uma forma especial de aparecer no produto social e nos
pressupostos de reposição (SILVEIRA, 1980, p. 29).
Entendemos que a abordagem de Oliveira não recorre a uma fundamentação regional
geográfica. Este evidencia em sua regionalização as questões econômicas. Entretanto, no livro
que ora analisamos também observamos uma análise da região muito apoiada na análise
106
econômica, porém sem deixar de recorrer às questões históricas e às análises sobre a natureza.
Segundo Ferreira (1993), quando a educação se volta para a cidadania, objetiva-se
“[...] ajudar o aluno a não ter medo do poder do Estado, a aprender a exigir dele as condições
de trocas livres de propriedade, e finalmente a não ambicionar o poder como a forma de
subordinar seus semelhantes” (p. 229). Especificamente, na discussão sobre o ensino de
Geografia, a cidadania frequentemente, tem sido colocada, a exemplo de Damiani, que a
sintetiza nos seguintes termos:
A noção de cidadania envolve o ensino que se tem do lugar e do espaço, já
que se trata da materialização das relações de todas as ordens, próximas ou
distantes. Conhecer o espaço é reconhecer a rede de relações a que se está
sujeito, da qual se é sujeito. Alienação do espaço e cidadania configura um
antagonismo a considerar (2003, p. 50).
No contexto epistemológico da geografia, o ensino tradicional da Geografia também
foi problematizado. O debate sobre cidadania vem ao encontro de inquietações críticas
colocadas à epistemologia geográfica a partir da década de 1970, dentre as quais a retomada
das relações de poder na constituição do espaço.
A proposta crítica de ensino geográfico insere-se no contexto da consolidação do
processo democrático, o que, em teoria, demanda pela compreensão da sociedade nas várias
instâncias de suas relações, capacitando os educandos a reelaborar constantemente a própria
experiência, atribuindo-se à Geografia escolar, por conseguinte, uma importante participação
na tarefa de preparar esse perfil de sujeito.
A produção do livro didático de Geografia, em tese, endossa este pressuposto. É assim
que, ainda na década de 1970, encontram-se algumas sinalizações de mudanças, em sua
maioria, muito restritas, mas que seriam ampliadas e aprofundadas a partir da década de 1980
(VLACH, 2003). A partir dos anos 1990, os debates acerca da educação geográfica
intensificaram-se, inclusive com a participação efetiva de professores (em eventos científicos,
encontros de professores, congressos, etc.), sublinhando questões importantes como
[...] a ineficácia do ensino da Geografia na formação do estudante; o livro
didático de Geografia como única fonte de estudo, detendo orientações
didático-pedagógicas, vulgarizadas de acordo com os interesses de lucro das
editoras, levando os alunos a formar conceitos não compatíveis com as
transformações que se davam na ciência geográfica (PONTUSCHKA, 2002,
p. 128).
107
Nessa busca de um ensino reformulado do saber geográfico crítico, não restrito a uma
única perspectiva ou a temas selecionados de modo elitista, a década de 1980 encerra-se com
um início de produção didática inovadora para o ensino de Geografia, ou seja, diversas
tentativas de elaborar livros críticos (VESENTINI, 2001), fato atestado também por
Pontuschka: “a década de 80 destacou-se pela produção de livros de melhor qualidade,
principalmente para o 2º grau [...]” (2002, p. 127).
Ao mesmo tempo em que o corpo docente do ensino básico passou a creditar sua
escolha do livro didático de acordo com os novos paradigmas da produção universitária das
geografias críticas, em suas diferentes tendências, o governo passou a estruturar o processo
avaliativo do Plano Nacional do Livro Didático: são ações que consolidam a chegada de
manuais didáticos com novas perspectivas científico-educacionais e maiores cuidados em sua
produção.
Pressupondo-se um tempo de mudanças de paradigmas, um espaço dinâmico e
determinante para a compreensão das relações de poder, o que é Geografia, qual o seu
método, qual a contribuição com que está capacitada para auxiliar na compreensão da
realidade, são questões muito importantes, discutidas igualmente em diversas instâncias da
sociedade, não só na academia. Devido a estes vínculos, o ensino de Geografia, incluindo sua
escrita didática, é chamado para desmistificar a neutralidade política da vivência cotidiana,
para reconhecer que o espaço geográfico é um âmbito propício à reprodução da dominação,
requerendo, portanto, o reconhecimento dessa prática para fundamentar a luta por direitos e
melhoria da qualidade de vida.
O contorno entre os séculos XX e XXI apresenta uma situação muito interessante para
a educação brasileira. A despeito das causas que impulsionaram o debate educacional, seja
pelo amadurecimento da redemocratização política, seja pela orientação neoliberal políticoeconômica, o fato é que o sistema educacional tem sido objeto de leis e políticas que devem,
não só ser questionadas, mas avaliadas.
Nesse sentido, o que a sociedade e suas instituições exigem da Geografia é uma apresentação moderna do mundo atual, pois a Geografia tem por meta apresentar uma visão global
e coerente do mundo, em que a dinâmica dos fenômenos naturais e as relações homem-natureza ou sociedade-território são articuladas à luz de uma perspectiva que nos é contemporânea. “Essa visão, longe das dualidades ou das dicotomias limitadoras, deve observar, enfim, o
sujeito e o mundo, não o mundo para o sujeito, mas o sujeito no mundo” (GOMES, 2000, p.
10). É, pois, nesta perspectiva que procuraremos identificar na abordagem sobre a Região
Nordeste, elaborada pelos autores acima citados, esses pressupostos.
108
3.3 A Região Nordeste e a Geografia Crítica
Os autores apresentam o mapa da última divisão oficial do Brasil feita pelo IBGE no
capítulo intitulado O Brasil e suas regiões, em que a Região Nordeste é composta pelos
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahia:
Mapa 05 - Brasil: divisão regional segundo o IBGE
Fonte: VESENTINI, J. W. & VLACH, V. Geografia Crítica: O Espaço
social e o espaço brasileiro. 6ª série. São Paulo: Ática, 2006, p. 142
Esta regionalização foi incorporada aos livros didáticos da época e ainda hoje é
apresentada neste tipo de publicação como forma de mostrar o processo de construção da
atual regionalização. Vejamos o que os referidos autores dizem a respeito dessa
regionalização:
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dividiu o Brasil em
cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa já é uma
divisão antiga, realizada há cerca de trinta anos. Inúmeras mudanças
ocorridas no país nas últimas décadas tornaram essa divisão problemática.
Contudo, ainda é uma regionalização bastante utilizada em alguns livros,
jornais e revistas, razão pela qual devemos conhecê-la (p. 142).
Ainda em 1938 o Conselho Nacional de Estatística introduziu a divisão regional do
país, em número de cinco, onde aparece o Nordeste formado pelos estados que vão do Ceará a
Alagoas. Posteriormente, em 1942, o IBGE redefiniu outro Nordeste formado pelos estados
109
que vão do Maranhão a Alagoas que, por sua vez, no final dos anos 60, tornar-se-á maior,
incorporando, desta vez, nove estados que vão do Maranhão à Bahia e que ainda se reconhece
como tal até hoje.
Na visão e paradigma tanto do Conselho Nacional de Estatística quanto do IBGE,
caracteristicamente político-espaciais, houve uma impregnação naturalista que pouco
convidava à discussão, na medida em que a natureza – e, como decorrência, a região – eram
tomadas como racionalidade discursiva dada, portanto como algo suposto, posto que natural e
antecipatório. “A região mesmo se localizando espacialmente, ela congrega uma outra
dimensão de espaço. Aquele eminentemente histórico, porque é construído pelos autores
sociais nas relações produzidas e reproduzidas socialmente” ( SIQUEIRA, 2000, p. 3).
O mapa dos três complexos regionais, em que a Região Nordeste inclui a parte leste do
Maranhão até o norte de Minas Gerais, incluindo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, também é apresentado por Vesentini e Vlach:
Mapa 06: Os três complexos regionais
Fonte: VESENTINI, J. W. & VLACH, V. Geografia Crítica:
O Espaço social e o espaço brasileiro. 6ª Série. São Paulo: Ática, 2006. p. 144
Sobre este mapa os autores relatam:
As três regiões geoeconômicas do Brasil - Nordeste, Centro-Oeste e
Amazônia - dependem umas das outras. Elas participam de uma única
economia e de uma única vida cultural e política, embora o Brasil apresente
diversidades sociais (entre pessoas) e espaciais (entre áreas e regiões).
110
Veja, por exemplo, a decadência econômica do Nordeste e o
desenvolvimento do Centro-Sul, que ocorreram especialmente a partir do
final do século XIX. Não foram fatos isolados; pelo contrário, um está
intimamente ligado com o outro (p. 144).
A incorporação deste debate aos livros didáticos está relacionada com as preocupações
regionais que levaram geógrafos e administradores a formular conceitos e estabelecer
delimitações de regiões urbanas, de regiões agrárias, de regiões homogêneas, de regiões
funcionais urbanas, de regiões econômicas, de regiões polarizadas, etc.
Com o mesmo objetivo de apresentar outras formas de regionalização, além daquela
proposta pelo IBGE, os autores de livros didáticos têm se esforçado em trazer regionalizações
elaboradas por intelectuais que não estão ligados ao universo do planejamento, mas que trazem análises significativas sobre o Brasil. Como se pode verificar na figura a seguir que apresenta a divisão das regiões brasileiras do meio técnico-informacional proposta por Milton
Santos:
Mapa 07: Meio técnico-científico-informacional e
as regiões brasileiras
Fonte: BIGOTO et al. Geografia sociedade e cotidiano.
6ª Serie. 1. ed. São Paulo: Escala Educacional, 2006, p. 31
As regionalizações brasileiras apontam nos livros didáticos desde o início do século
XX, portanto, em período anterior à elaboração de regionalizações com objetivos específicos
de planejamento pelo IBGE. Isto demonstra a importância do livro didático para
compreendermos a história das disciplinas escolares e a relação dela com a produção
111
acadêmica. Pois, como afirma Chervel (1990), a disciplina não é apenas a reprodução do
conhecimento elaborado fora da escola, ou, mais especificamente, pela academia e institutos,
como querem alguns.
O estudo das regionalizações do Brasil mostra que a relação entre essas instituições é
de cooperação, de relação, de mão dupla. Desse modo, naquele momento a escola, via livro
didático, produziu um determinado conhecimento que se antecipou à produção acadêmica ou
técnica. No período atual se assiste a um movimento contrário às propostas de regionalização,
sejam elas elaboradas por técnicos em instituições como o IBGE ou em Academias, as quais
foram incorporadas aos conhecimentos escolares.
Na opinião de Lencioni, o procedimento de regionalizar teve referências variadas.
Inicialmente, as regionalizações se identificavam com a administração territorial e política.
Depois, foi o critério natural o mais relevante para a elaboração de regionalizações; buscavase, assim, um critério considerado mais científico de regionalização. Com a percepção de que
a natureza não seria única determinante na conformação regional, foram concebidas propostas
baseadas no critério econômico e em outros critérios (LENCIONI, op. cit., p. 201).
Vainer, ao estudar os regionalismos no Brasil, aponta outra perspectiva nos estudos
regionais, pois questiona o uso do termo “interesses regionais”, e apresenta uma série de
indagações a respeito desta expressão, defendendo a tese de que esses “interesses regionais”
se relacionam a sujeitos ou grupos sociais específicos que têm o poder de promover
regionalizações, afirma:
Nosso primeiro ponto de partida está no entendimento de que as regiões –
das quais se fala, em nome das quais se fala – são o resultado de um
complexo processo histórico de construção social em que intervêm,
sincrônica e diacronicamente, relações econômicas, políticas e simbólicas.
Daí decorre a necessidade de recusar ab initio a sugestão imanentista que,
intencionalmente ou não, está contida na expressão, “interesses regionais”.
Nem a região tem existência em si, nem é geradora, em si e por si, de
interesses (VAINER, 1995, p. 2).
A análise das atuais manifestações regionais, de características tradicionais, no que
concerne às relações e manifestações do poder político regional, não permite avaliar com
clareza os novos discursos e movimentos que focalizam o território como elementos
estratégicos da efetivação de identidades sociais e de projetos políticos.
Vainer (1995)
enfatiza que as formas contemporâneas de manifestação dos interesses regionais, tanto quanto
os grupos e coalizões que as sustentam, não respondem a um único padrão.
Zaidam Filho, estudioso da realidade regional nordestina, enfatiza que é necessário
estar atento ao papel desenvolvido por alguns atores sociais na construção simbólico-cultural
112
da região ou de uma “identidade regional”. Para ele, a regionalização que cria o Nordeste
brasileiro é fruto da obra de publicistas, artistas, poetas, compositores, pensadores, produtores
culturais, lideranças políticas. “É assim que nasce uma ‘região’, ou seja, a partir da
disparidade econômico-social (na dinâmica do desenvolvimento capitalista) e da produção
discursiva de uma ‘identidade social’” (ZAIDAM FILHO, 2001). Como se verifica, ele
aponta para algumas questões também postas por Albuquerque Junior (2006), quando discute,
sem muita aproximação com a geografia, a invenção do Nordeste.
Podemos concluir que a teoria da regionalização tem por objetivo identificar grandes
áreas do planeta com características próprias, no que diz respeito à população e à economia,
ou ainda, semelhanças na formação socioeconômico-espacial. Também podemos encontrar o
termo regionalização empregado com o sentido de planificação, de delimitação de regiões, do
estabelecimento de limites espaciais, com fins os mais diversos. Por exemplo, dentro da
administração de João Pessoa-PB, é possível constatar uma regionalização promovida pela
área da saúde, outra pela segurança pública, educação, etc. Na escala nacional temos a
regionalização do país adotada pelo IBGE na Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e
Norte. Dessa maneira, a regionalização é uma tentativa de captar a diferenciação regional.
Quando no capítulo dez do livro ora analisado, Vesentini e Vlach apresentam
cartograficamente o Nordeste brasileiro, o mapa que apresentam é o seguinte:
Mapa 08: As sub-regiões do Nordeste
Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica, 2006, p. 152
113
Os autores que afirmam que o Nordeste não é uma região homogênea assim explicam:
“Existem nessa região áreas mais industrializadas, outras com agricultura moderna e outras
ainda com agropecuária tradicional e pouquíssimo desenvolvimento” (p. 151).
Outros mapas são apresentados pelos autores para identificar a Região Nordeste.
Vejamos:
Mapa 09: Nordeste: Polígono das secas
Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica,
2006, p. 155
114
Mapa 10: Área de abrangência da seca (1979-1984)
Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica, 2006, p. 156
Com estes mapas Vesentini e Vlach mostram que a divisão regional não é tomada
como uma “realidade” pronta e estabelecida, ela está ligada não apenas ao seu caráter
histórico como também às diferenças internas da própria região.
Iniciando o estudo das regiões justamente pela Região Nordeste, berço da nossa
formação histórico-econômica, e não como vários livros didáticos contemporâneos, que
optam por iniciar o referido estudo pela Região Sudeste, devido ser, no nosso entender, a mais
economicamente desenvolvida, os autores caracterizam a Região Nordeste da seguinte
maneira:
O Nordeste é algumas vezes considerado a “região problema” do Brasil.
Quando se fala em miséria, em pobreza absoluta, em insuficiência alimentar,
pensa-se logo nessa região. É fato que esses problemas sociais são
encontrados em todas as regiões brasileiras, mas no Nordeste eles são mais
acentuados (VESENTINI/, VLACH 2006, p. 151).
Tais problemas são mais acentuados, na visão de Andrade (1993), devido ao Nordeste
ser uma região de “povoamento antigo, de estruturas consolidadas, com uma economia em
115
processo de estagnação e que foi transformada, desde o século XVIII, em fornecedora de mão
de obra ao Sudeste” (p. 10). Neste sentido, Andrade (Idem) conclui:
A pobreza do Nordeste deriva, sobretudo da má distribuição da renda – há
um forte contraste entre o nível da vida das classes dominantes e o do povo –
da grande concentração da propriedade fundiária, do sistema econômico
nacional que transformou a região em fornecedora de matérias-primas e de
mão de obra pouco qualificada para as regiões economicamente mais
dinâmicas, e da apropriação das riquezas regionais por grupos econômicos
internacionais e de outras áreas do país (p. 18).
Atualmente falar de Nordeste remete a uma expressão regional constituída ao longo de
muitos anos. Na literatura escolar e para grande parte da população brasileira, Nordeste é uma
região que compõe a regionalização elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Nessa perspectiva, o Nordeste seria constituído por nove estados, sendo
eles; Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Bahia. Porém, queremos abordar neste texto como foi sendo gestada a ideia de Nordeste e o
debate acerca dessa temática.
Para Oliveira (1977), formular um conceito de Região “Nordeste” do Brasil é
praticamente impossível sem ter que levar em conta a economia e a política nos limites das
divisões territoriais político-administrativas dos estados que a compõem. “A própria
consciência ou reconhecimento da “região” Nordeste tem sofrido mutações importantes no
curso da história econômica e social nacional“ (p. 32).
O Nordeste somente é reconhecível a partir de meados do século XIX, e, sobretudo, no
século XX. “Há, pois, na história regional e nacional, vários ‘nordestes’” (Idem, p. 32). No
Brasil Colônia os estados hoje reconhecidos como Pernambuco, Paraíba, Rio grande do Norte
e Alagoas formavam o que hoje é o Nordeste, reconhecível como o locus da produção
açucareira.
Os espaços, que hoje correspondem ao Ceará e Piauí, eram relativamente
indiferenciados, desenvolvendo atividades econômicas de pouca expressão na economia
colonial. O Maranhão era um caso à parte, pois se ligou ao capitalismo mercantil através de
formas diversas daquelas que regulam a produção da riqueza dos espaços mais ao leste
(OLIVEIRA, 1977).
Quanto ao espaço, que hoje corresponde aos Estados da Bahia e Sergipe, não era
considerado “Nordeste”, embora ali, sobretudo na Bahia, predominasse também a atividade
de produção do açúcar determinada, como nos outros estados mais ao norte pelas suas
116
relações com o capitalismo mercantil europeu (Idem).
As primeiras décadas do século XX e quase todo o século XIX, vão configurar, na
opinião de Oliveira (Idem), outro Nordeste. Essas configurações estão marcadas, sobretudo,
pela emergência, consolidação e hegemonia de outros espaços, ou seja, pela constituição de
outras “regiões”, no contexto da nação que se independentizava. Essa outra “região” é a do
café, determinada também pelas suas relações com as potências imperialistas.
Mas o andamento das leis de reprodução do capital e das relações de reprodução toma
rumos diversos na “região” do café. Emerge então a industrialização. A “região” do café
passa a ser a “região” da indústria. Essa conversão começa a redefinir a própria divisão
regional do trabalho em todo o conjunto nacional. O papel do Nordeste passa a ser
sistematicamente do exército industrial de reserva. O conflito entre uma região em
crescimento e outra em estagnação começa a aparecer e nesse contexto é criada a Sudene, que
para Oliveira (1977)
Foi um embate de raras proporções na história nacional, travada pelo tipo de
forças sociais que o travaram, a Sudene foi um empreendimento de uma
audácia inédita na história nacional. Ela anunciava um dos dois novos: se os
vencedores tivessem sido as forças populares, o Nordeste e o Brasil de hoje
seriam muito diferentes; tendo sido vencedores as forças do capitalismo
monopolista, chamadas a socorrer combalidos latifundiários e barões do
açúcar, essa vitória também mudou o curso da história. A Sudene, na sua
ambiguidade, anunciava as duas possibilidades (p. 18).
A política desenvolvimentista do Governo Kubitscheck (1955-1961), procurando
objetivar o crescimento econômico do país, de forma acelerada, e, com a integração das áreas
consideradas periféricas ao núcleo mais dinâmico, elabora um Grupo de Estudos para analisar
os problemas nordestinos que resultam na Operação Nordeste (Openo) e, posteriormente, na
Comissão de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno), que seria mais tarde (1959)
transformada em Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Sobre a
Sudene, Andrade informa:
A Sudene se propunha a trazer impactos à organização agrícola,
modernizando-a e fazendo-a atender às aspirações sociais.
Os grandes proprietários, temerosos de uma Reforma Agrária, se opuseram à
realização deste projeto (social) e ele não chegou praticamente a ser
executado.
Vivia-se na ocasião, início da década de sessenta, um momento de luta
aberta no campo, na qual os pequenos produtores, organizados em Ligas
Camponesas, pleiteavam uma Reforma Agrária, enquanto os assalariados
rurais organizavam-se em sindicatos, pleiteando que a legislação social
aplicada nas cidades fosse estendida ao meio rural (p. 40).
117
E a Sudene, apesar do dinamismo que apresentou em alguns poucos
períodos, dando uma contribuição para o crescimento econômico regional,
não teve condições de atenuar os desníveis existentes entre as várias regiões
do país. O Nordeste, embora mais rico e maior, em termos absolutos, fica,
em termo relativo, cada vez mais pobre, mais distante do Sul e do Sudeste do
Brasil (p. 47).
Em trabalho recente, Vieira (2004), ao discorrer sobre a Sudene, agora sobre a sua
extinção, afirma: “A Sudene foi extinta porque não tinha papel mais a cumprir, não fazia parte
do retrato institucional do Estado brasileiro” (p. 275). Para este autor, quando a dinâmica
regional deixa de depender dos movimentos impulsionados intrarregionalmente para
acompanhar os ritmos de crescimento econômico nacional e internacional, o Estado se ajusta
às transformações operadas no capitalismo global evidenciando a “desregionalização” do
planejamento. Parte desse debate passa a compor a caracterização do Nordeste nos livros
didáticos, como podemos ver no livro ora analisado, em que seus autores continuam
caracterizando a Região Nordeste, anunciando o seguinte:
Em geral, o nível de vida da população nordestina é muito baixo. Além
disso, existe uma classe dominante – uma pequena minoria da população –
que concentra em suas mãos parte considerável das riquezas regionais. Isso
explica por que, durante muito tempo, milhões de nordestinos emigraram
para as demais regiões brasileiras, em busca de melhores condições de vida.
Esse importante movimento migratório caracterizou o Nordeste como o
grande fornecedor de mão de obra barata para o Centro-Sul e a Amazônia até
a década de 1980.
O desempenho da economia do Nordeste melhorou muito a partir da década
de 1990. No período de 1994 a 1997, a taxa de crescimento da economia
nordestina foi de 3,9%, enquanto a taxa média de crescimento da economia
brasileira foi de 2,7%. Em 1997, quando o PIB regional representou cerca de
15,6% do PIB nacional, sete de seus nove estados apresentaram uma taxa de
crescimento maior que a do Brasil (3%).
Confirmando essa tendência de crescimento, em 1980 o PIB do Nordeste foi
de 144,9 bilhões de reais; naquele ano o PIB brasileiro foi de 901 bilhões de
reais. O Nordeste atingiu esse montante graças à continuidade de
crescimento e diversidade dos setores secundários e terciários: entre 1997 e
1998, a atividade industrial cresceu 7,9% e a prestação de serviços, 2,4%
(VESENTINI e VLACH, 2006, p. 151).
Esta evolução na economia da Região Nordeste está ligada, sobretudo, ao processo de
industrialização desenvolvido à sombra da Sudene que trouxe grandes benefícios à região,
com a produção de mercadorias de grande demanda na mesma, atenuando a importação, a
abertura de um mercado ponderável para a mão de obra qualificada, com repercussões no
crescimento das estruturas universitárias, o desenvolvimento de atividades nas áreas de
serviços, o estímulo ao desenvolvimento da rede rodoviária e o aumento da renda dos estados.
A industrialização, entretanto, permitiu no Nordeste uma transferência da população
118
do meio rural para o urbano, numa ocasião em que as cidades não tinham condições de
oferecer oportunidades de trabalho aos migrantes, ocasionando a queda da qualidade de vida.
Com o crescimento do número de favelas e de favelados, os problemas de saneamento, de
abastecimento e de segurança nas cidades se tornaram críticos. “Não houve também uma
preocupação de origem geográfica, espacial, com a implantação das indústrias e estas se
localizaram, naturalmente, nas áreas mais ricas, que dispunham de melhores estruturas de
apoio” (ANDRADE, 1993, p. 24).
Convém aqui lembrar que se durante o processo de produção não se pensa na sua
continuidade, sua própria reprodução, este cessará quando se finalizar a operação iniciada. É
necessário que se criem no próprio processo de produção as condições de sua reprodução.
“Um grupo social tem a mesma necessidade; caso contrário, teríamos o absurdo do mesmo
durar apenas o período de uma geração (CORRÊA, 2007, p. 55).
Não podemos esquecer, portanto, as observações de Haesbaert (1999) quando afirma
que apesar da unificação crescente dos mercados e da globalização da economia capitalista de
padrão neoliberal, a diferenciação espacial e, mais ainda, a reprodução das desigualdades é
um fenômeno crescente. Quando os autores da obra em análise tratam a questão da seca,
tomam o cuidado de evidenciar o papel que tem sido assumido pelos meios de comunicação,
mostrando-se, portanto, uma análise crítica. Ao abordarem este fenômeno, afirmam:
As secas constituem provavelmente o fenômeno que mais tem caracterizado
o Nordeste em filmes, romances, canções, noticiários de imprensa. As
imagens transmitidas por esses meios são às vezes exageradas, dando origem
a mitos ou explicações falsas e fantasiosas.
[...]
É comum, por exemplo, ouvirmos dizer que as secas constituem a principal
causa do subdesenvolvimento nordestino, ou ainda a grande razão da ida de
migrantes dessa região para São Paulo ou Rio de Janeiro. Nada disso é
verdade; com e sem secas o Nordeste continuaria sendo a região mais pobre
do país, pois essa pobreza tem causas históricas, e não climáticas ou naturais.
Ela se deve à decadência das atividades tradicionais da região, como a
agroindústria açucareira e o cultivo de algodão, paralelamente à
industrialização do Centro-Sul do país.
[...]
Além disso, as secas ocorrem somente no Sertão, onde vive uma pequena
parcela da população nordestina. Na área mais povoada e onde se situam as
principais metrópoles – a Zona da Mata -, não ocorrem secas. Ao contrário,
em certas ocasiões, os índices de pluviosidade chegam a ser bastante
elevados, com enchentes periódicas em Recife, Maceió e outras importantes
cidades da região.
[...]
A maioria dos nordestinos que saem de sua região para as metrópoles do
Centro-Sul não vem do Sertão, e sim da Zona da Mata. Portanto, o
verdadeiro motivo dessa migração não é a seca, mas a estrutura fundiária
119
(distribuição das terras).
[...]
No entanto, sendo um fenômeno natural, a seca constitui uma justificativa
bem mais simples e cômoda para a pobreza nordestina do que as razões
sociais, como a existência de grandes propriedades ao lado de milhões de
agricultores sem-terra. A própria classe dominante local, que evita mostrar a
concentração da propriedade e da renda, culpa a seca pela precária condição
de vida da maioria dos nordestinos.
[...]
Através da intensa divulgação dos efeitos dramáticos da seca pelos meios de
comunicação, certos grupos dominantes no Nordeste – políticos, fazendeiros
e empresários – acabam conseguindo verbas e auxílio do governo. No
entanto, eles se utilizam desses recursos muito mais para servir a seus
interesses particulares do que à população pobre que sofre com a falta de
água, os chamados flagelados da seca (VESENTINI/VLACH, 2006, p. 154155).
Podemos fazer uma relação das ideias dos autores com Andrade (1993), que acredita
que o flagelo das secas beneficia os grupos dominantes da Região Nordeste que se opõem a
qualquer transformação estrutural que possa tocar nos seus interesses, e assim afirma:
A pobreza é útil ao grupo dominante para obter mais recursos e favores
oficiais, em uma federação em que as regiões mais ricas se beneficiam do
crescimento econômico das mais pobres. Estes grupos dominantes têm
interesses que coincidem com os das regiões hegemônicas do país, de vez
que atuam como intermediários e como prepostos dos grupos nacionais mais
fortes e dos transnacionais e que empregam os seus capitais nas áreas mais
ricas, onde obtêm um retorno do capital empregado, mais rápido e seguro.
Há, assim, no plano nacional, uma semelhança com o que ocorre no plano
internacional entre os grupos dominantes das áreas menos desenvolvidas
com os grupos dominantes das áreas dominantes, que se beneficiam da
exploração das áreas mais pobres (p. 49).
Castro (1994) também toca nessa questão ao lembrar que a região pode ser vista como
um “acumulador espacial de causalidades sucessivas, perenizadas numa porção do espaço
geográfico, verdadeira estrutura sujeita na relação histórica do homem com o seu território (p.
61). Já para Silveira (1980), os proprietários da região em crise, desprovidos de capitais,
deslocam o elemento explicativo, sob uma “capa maniqueísta de culpabilidade para a outra
região” (p. 277) que dispõe de recursos.
Outro tema de grande importância também é analisado pelos autores. Ao se referirem
ao problema da estrutura fundiária na Região Nordeste, os autores escrevem:
Há uma extrema concentração das propriedades agrárias no Nordeste, ou
seja, um pequeno número de grandes proprietários possui considerável
parcela dos solos bons para a agricultura. É por não terem terras para
trabalhar que os nordestinos deixam sua própria região (VESENTINI/
VLACH, 2002, p. 154).
120
Silveira (1980), ao analisar o espaço nordestino na sua dialética com o sistema
econômico, social e político, desmascara o caráter ideológico e caracteriza a perspectiva que a
classe dominante regional teve do processo como um todo e a opção político-social que
elaborou, diante de uma situação de crise de seu espaço, no sentido de, mesmo transitando
para uma situação de fração subordinada da classe dominante nacional, manter a dominação
no âmbito regional. E assim comenta:
Quanto mais se tenta escapar da armadilha do capitalismo, mais para ela
caminha, muito embora se acredite dela se afastar. Quanto mais seu espaço
regional se decompõe e se reorganiza pelas mãos capitalistas, mais brada sua
luta heroica, mas também mais reafirma sua fidelidade à unidade nacional,
que é o carro-chefe político daquela reorganização, como caminho de
conservar, a qualquer transe, a dominação (p. 294).
Podemos fazer aqui também uma associação com o trabalho de Breitbach (1987)
quando esta autora lembra uma das contribuições do trabalho de Walter Christaller (1933)
para a caracterização do fenômeno regional. Baseada na Teoria do Lugar Central, Christaller
(Idem) afirma que a um centro urbano corresponde uma região complementar, e que entre eles
existe uma relação de dependência, que revela a importância da dominação de um lugar sobre
outro de ordem inferior, fenômeno que pode ser verificado na prática, mesmo atualmente e
em diferentes partes do mundo.
Os autores utilizam-se também de imagens diferenciadas para caracterizar a Região
Nordeste. Vejamo-las:
Figura 12: Recife e Salvador, polos centralizadores da Região Nordeste
Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica. 2002, p. 153
121
Figura 13: Flagelados do Sertão pernambucano
numa frente de trabalho durante a seca.
Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia.
Geografia Crítica, 2002, p. 155.
Acreditamos que a utilização dessas imagens provoca no educando a consciência das
depreciações socioespaciais e faz com que cada um desses espaços seja também de
reivindicações, específicas ao grupo social que ali reside. Reivindicações que dizem respeito
às condições de reprodução de cada grupo social.
“A organização espacial não é somente um reflexo da sociedade; ao ser um reflexo
passa a ser simultaneamente uma condição para o futuro da sociedade, isto é, a reprodução
social” (CORRÊA, 2007, p. 72).
Como a formação social constitui o instrumento legítimo de explicação da sociedade e
do espaço respectivo, é pertinente aqui lembrar o que Santos (1980) informa sobre a
importância da formação social:
É através de cada Formação Social que se cria e recria, em permanência,
uma ordem espacial de objetos que é paralela à ordem econômica, à ordem
social, à ordem política, todas essas ordens atribuindo um valor próprio,
particular, às coisas, aos homens e às ações promanando dela (p. 192).
Para Choppin (2004), o livro didático pode assumir uma função documental, na
medida em este fornece um conjunto de documentos, textual ou icônico, cuja observação ou
confrontação podem vir a desenvolver o espírito crítico do aluno. Esta função, entretanto, só
122
pode ser exercida em ambientes pedagógicos que privilegiam a iniciativa pessoal da criança e
visam a favorecer sua autonomia: supõe, também, um nível de formação elevado dos
professores.
Vale salientar, ainda, que aqui as ideias dos autores coadunam com as interpretações
elaboradas por Santos (1994), onde está presente a preocupação em estudar uma região
levando em consideração um “mar de relações, formas, funções, organizações, estruturas, etc.,
com seus mais distintos níveis de integração e contradição” (p. 45-46).
Diante do exposto, podemos afirmar que a região para os autores desta obra pode ser
vista como um resultado da lei do desenvolvimento desigual e combinado, caracterizada pela
sua inserção na divisão nacional e internacional do trabalho e pela associação de relações de
produção distintas. Sobre estes dois aspectos Corrêa (2007) conclui:
Estes dois aspectos vão traduzir-se tanto em uma paisagem como em uma
problemática, ambas específicas de cada região, problemática que tem como
pano de fundo a natureza específica dos embates que se estabelecem entre as
elites regionais e o capital externo à região e dos conflitos entre as diferentes
classes que compõem a região. Os conflitos oriundos dos embates entre
interesses internos, bem como entre interesses internos e externos, podem
gerar uma desintegração da região, que se exprimirá na sua paisagem (p. 45).
No final do capítulo que trata especificamente da Região Nordeste, os autores sugerem
como atividade a utilização da arte na Geografia. No caso específico desta região, o destaque
vai para a arte do “Mestre Vitalino”, cujo aniversário de cem anos é comemorado por nós
nordestinos neste ano de dois mil e nove:
Vitalino Pereira dos Santos, o “Mestre Vitalino”, nasceu em 10 de julho de
1909. Mestre na arte de fazer figuras e cenas de barro do dia a dia do sertão
pernambucano, fez do Alto do Moura, a 7 km do centro de Caruaru (PE),
um dos patrimônios artísticos da humanidade. O local ganhou o título de
“maior centro de arte figurativa das Américas, concedido pela Unesco
(VESENTINI/VLACH, 2006, p. 161, adaptado da revista Kalunga, edição
XXVIII, dez., p. 119).
123
Figura 14: Boneca de cerâmica produzida por artesão
de Caruaru (PE) representando mãe a amamentar o
filho
Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia. Geografia
Crítica, 2002, p. 161
Como a Região Nordeste tem sido produzida a partir do século XVI, no início da
colonização, e tendo tido períodos de riqueza e esplendor, naturalmente dispõe dos
testemunhos desta fase que representam um patrimônio da maior importância, tanto para os
nordestinos, como para os brasileiros de um modo geral. Andrade (1993), enfatizando os
monumentos históricos, informa:
A preservação de monumentos históricos não é apenas um problema de
ordem cultural – o que já era suficiente para justificar uma política de
preservação dos mesmos – é também, um problema de ordem econômica na
ocasião em que o turismo se torna uma importante fonte de renda para o
Estado e uma atividade criadora de empregos numa região com alto índice
de desempregados (p. 57).
Por outro lado, figuras e cenas de barro como estas não servem apenas para descrever
as coisas. Elas podem interpretar e veicular ideias e valores. Percebe-se, assim, que há mais
coisas para “ler” numa imagem do que se vê à primeira vista. Ler é compreender as diversas
mensagens existentes no ambiente em que se vive.
Os autores também utilizam músicas para caracterizar a Região Nordeste como:
124
Na terra seca
Quando a safra não é boa
Sabiá não entoa
Não dá milho e feijão
Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas
Retirantes que passam
Vão cantando seu rojão
Mas São Pedro me ajude
Mande chuva, chuva boa
Chuvisqueiro, chuvisquinho
Nem que seja uma garoa
Uma vez choveu na terra seca
Sabiá então cantou
Houve lá tanta fartura
Que o retirante voltou
Oi, graças a Deus
Choveu, garoou.
Autores: Luiz Gonzaga e Hervê Cordovil – 1951
CD Gil e Milton. Warner Music, 2000
Citada por: VESENTINI; VLACH, 2006, p. 163
O porquê da colocação desta música talvez esteja relacionado com o que Heller (2004)
entende pela função do artista que, arrastado pela força da objetividade, extirpa da sua criação
tudo aquilo que, em seu projeto, pertencia ainda ao individual-particular. “O artista parece
guiado por uma mão ‘invisível’, de tal modo que produz em sua obra algo diverso daquilo que
se propunha produzir” (p. 29). E sobre o tema agora abordado pelos autores Heller (2004)
afirma:
Não devemos esquecer que o individualismo burguês já se “esgotara” nos
meados do século passado. Em outras palavras: aquela ingênua confiança de
que o indivíduo podia desenvolver-se livremente inclusive fora de qualquer
comunidade e de que o interesse individual é um bom fio condutor para a
liberdade individual foi-se tornando cada vez mais problemática. A partir do
“fin de siècle”, o desespero substituiu a segurança: o indivíduo experimenta
agora a falta de comunidade como solidão, como infelicidade. Isso reflete
subjetivamente o fato de que chegou o fim do desenvolvimento da
individualidade na sociedade burguesa, inclusive para os indivíduos
representativos. Paralelamente a isso desenvolvem-se - com crescente
intensidade - os movimentos operários; e os intelectuais que aderem a tais
movimentos, voltam a encontrar nas comunidades que eles formam o sentido
de suas vidas. Não se trata de um “medo da liberdade”, mas sim de uma
busca da mesma (p. 77).
Corroboramos com Santos (1995), para quem a globalização estimula um duplo
movimento: ao mesmo tempo em que integra os espaços, ela intensifica também as diferenças
entre eles. A homogeneização econômica ensejaria a afirmação das particularidades, das
125
identidades nacionais, e, portanto, das suas diferenças.
O pensamento dos autores também corrobora com o de Lencioni (1999) quando afirma
que ao interpretar o objeto da Geografia alguns autores entendem que esta estuda a relação
entre o homem e o meio, e nesta concepção a região existe em si mesma, ou seja, é
autoevidente e cabe ao pesquisador reconhecer a região por meio de estudo a priori.
Acreditamos estar diante do terceiro momento identificado por Silva (2006), o qual
está relacionado com a preocupação em formar estudantes com atitudes e responsabilidades
concordantes quanto às práticas e representações sociais, o que significa dizer que,
horizontalmente, põe-se em evidência a cidadania, orientando-se por esse debate,
profundamente enraizado no discurso educacional hodierno. Trata-se de uma categoria do
conhecimento humano extremamente complexo, que se reporta a muitos anos de experiências
e de reflexão. Atualmente, procura-se uma compreensão da cidadania e indica-se que um dos
seus lugares privilegiados é a escola, inclusive no ensino de Geografia.
126
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pretensão de contribuirmos para a história da disciplina escolar Geografia e das
práticas educativas ao lado de conteúdos reveladores de representações e valores
predominantes num certo período de uma sociedade que, simultaneamente à historiografia da
educação e à teoria da história, permitem rediscutir intenções e projetos de construção e de
formação social, constituiu-se o objetivo desta pesquisa.
Partindo da gênese do livro didático, de suas funções, de sua trajetória no Brasil até
chegar à história da Geografia escolar, percebemos que a presença desta disciplina nos
currículos escolares não se restringe a problemas epistemológicos ou didáticos, mas articulase também ao papel político que desempenhou e/ou desempenha. Como exemplo, podemos
salientar o nacionalismo. Além disso, pode-se perceber uma relação intrínseca entre a
produção escolar e outras elaboradas por intelectuais ligados a instituições como o IBGE e a
universidade.
As obras de Delgado de Carvalho e Aroldo de Azevedo, quando se referem aos “tipos”
físicos nordestinos, não fogem ao espírito da época, evidenciando ainda outras temáticas
corriqueiras sobre o Nordeste, tais como a seca, a migração e o papel do Estado na “correção”
desses problemas.
Outro exemplo pode ser observado na obra analisada de José William Vesentini e
Vânia Vlach, que procurando não mascarar a dramática realidade, busca um ensino crítico
voltado para o desenvolvimento da cidadania, cuja função é ajudar o aluno a conhecer o
mundo e a posicionar-se diante dele, do lugar em que vive até o planeta como um todo. O que
demonstra a introdução, na escola, de um debate que também ocorre paralelamente na
academia. Desse modo, a cidadania tem sido considerada como a esfera da prática política,
onde se conquista e se constrói, no dia a dia, mais participação na vida social.
Neste contexto, constatamos que a trajetória do livro didático de Geografia no Brasil
tem pelo menos três momentos histórico-ideológicos, consoantes com passagens importantes
da política e da história do país, concernentes ao nacionalismo patriótico, ao
desenvolvimentismo de base nacional e à redemocratização política da década de 1980.
Buscando compreender a progressão ao longo da rota em direção ao status acadêmico,
examinamos a história social da disciplina escolar Geografia no Brasil, e constatamos que esta
matéria, assim como outras, presentes nos currículos escolares, precedeu cronologicamente
sua disciplina-mãe, e, nessas circunstâncias, a matéria escolar Geografia causou a criação de
uma base universitária para a “disciplina” de forma que professores secundários desta matéria
127
pudessem ser treinados.
É, pois, neste sentido que concordamos com Vesentini (2004), quando afirma que os
professores devem ser considerados os sujeitos dos conteúdos curriculares; assim, estes
resultarão de um profundo conhecimento da realidade dos alunos - socioeconômica,
intelectual, psicogenética, de experiência de vida, etc.
Dessa forma, ocorre no Brasil algo próximo do que ocorreu com a Geografia inglesa,
que, segundo Goodson (1990), tem início como disciplina escolar e vai se constituir como
disciplina acadêmica em período posterior, a partir do trabalho desenvolvido por Mackinder.
Analisando o processo histórico do conceito da categoria geográfica região, pudemos
perceber que o olhar sobre o que hoje denominamos Nordeste, nos livros didáticos, vem se
modificando ao longo dos tempos. Isto também é consequência, entre outras coisas, de
mudanças ocorridas na própria escola. Daí, a hipótese, defendida até aqui, da não hierarquia
entre a produção do conhecimento escolar e acadêmico.
A apresentação do debate com vários autores, sobre o conceito de região e da
identificação da Região Nordeste, buscando sistematizar como é que esse se constituiu no
campo da Geografia e como ele perpassa também a Geografia escolar, foi fundamental para
entendermos este espaço, não como um espaço de reprodução dos debates que ocorrem na
academia, mas sim, como um dos palcos desse debate.
A introdução de uma regionalização do Brasil feita por Delgado de Carvalho, na obra
Geographia do Brasil – Tomo II (1927), este já inspirado em outra obra didática, publicada
por Manuel Said Ali Ida em anos anteriores, vem comprovar que a disciplina escolar
Geografia não é apenas uma reprodução da disciplina acadêmica, ela também está relacionada
com questões políticas, econômicas e sociais do espaço em um determinado período.
Como pudemos observar, as preocupações de Delgado de Carvalho na obra analisada
coadunam com a renovação cultural do país nas primeiras décadas do século XX, sinalizadora
de um aprofundamento do processo de regionalização pelas contradições do modo de
produção, que torna evidente a desigualdade política, econômica e social e faz com que os
atores sociais denunciem, protestando e reclamando os espaços em questão. Neste contexto
Gilberto Freyre passa a interpretar a realidade nordestina utilizando a categoria geográfica
região em contraposição à categoria político-administrativa: “Estado”.
O livro Nordeste de Gilberto Freyre (1925), que traz um perfil identitário,
comemorativo e saudosista, constituiu-se num fértil repertório de novos argumentos
portadores de uma enorme contribuição para a redefinição e reavaliação dos conceitos de
região e de nação.
128
Sendo assim, podemos concluir que as preocupações das elites políticas e intelectuais
do início do século XX em difundir os valores pátrios nas novas gerações e em amplos setores
da sociedade se afiam com o pensamento de Delgado de Carvalho, que define toda uma
estratégia de legitimação científica e didática traduzida em três desafios: assegurar a presença
e a continuidade da Geografia no sistema escolar, outorgar cientificidade ao conhecimento
geográfico e conferir a este conhecimento identidade e autonomia frente a outras disciplinas.
Constatamos que o livro didático e a educação formal não estão deslocados do
contexto político, cultural e das relações de dominação, sendo, muitas vezes, instrumentos
utilizados na legitimação de sistemas de poder, além de representativos de universos culturais
específicos. Atuam na verdade, como mediadores entre concepções e práticas políticas e
culturais, tornando-se parte importante na engrenagem de manutenção de determinadas visões
de mundo. O conhecimento, aqui, é aquele que se pauta em conhecimento de processos.
É neste contexto que, nos livros analisados, os autores vão mudando sua apresentação
sobre a Região Nordeste com base no que ocorre na própria região e nas análises de estudos
sobre esta. Apesar de algumas análises acadêmicas terem avançado no período, mesmo assim,
ainda há olhares sobre o Nordeste que evidenciam a seca como um fator natural determinante
para a região. Entretanto, já existem autores que começam a mostrar que a seca não é um
problema natural, como deixava transparecer Aroldo de Azevedo, em meados do século
passado.
Com a análise das obras didáticas dos três autores, compreendemos que em Delgado
de Carvalho o político aparece muito mais como um objetivo final do ensino de Geografia,
atribuindo-lhe um caráter funcional (representação patriótica, afirmação da unidade nacional,
legitimação de um discurso sobre o território, etc.). Em Aroldo de Azevedo, a região é
considerada um instrumento técnico-operacional, a partir do qual se procura organizar o
espaço, e que leva à constatação de “dois brasis”: um arcaico identificado no
subdesenvolvimento, localizado, sobretudo, no Nordeste agrário, outro moderno, identificado
com o progresso e desenvolvimento, localizado no Centro-Sul industrializado. Em José
William Vesentini e Vânia Vlach, a Região Nordeste aparece como uma entidade concreta
resultante de múltiplas determinações.
Com base nestas abordagens, constatamos que a escola integra um conjunto de
objetivos determinados pela sociedade e articula-se com eles, contribuindo para os diferentes
processos econômicos e políticos.
A partir da década de 1970, com o agravamento de tensões sociais, originado pela
crise de desemprego, habitação, envolvendo ainda questões raciais em países de capitalismo
129
avançado, e seguida do surgimento de movimentos nacionalistas e de libertação em países
subdesenvolvidos, “a geografia não mais mascara a dramática realidade” (CORRÊA, 2007, p.
20). Neste contexto, um ensino voltado para o desenvolvimento da cidadania começa a se
fazer premente e a Geografia escolar dará sua contribuição neste processo.
No Brasil, a obra organizada por José William Vesentini (2004), O Ensino de
Geografia no Século XXI, torna evidente que assim como acontece em outros países, o ensino
da Geografia no Brasil vive atualmente uma fase decisiva, um momento de redefinições
impostas tanto pela sociedade em geral – pelo avançar da Terceira Revolução Industrial e da
globalização, pela necessidade de (re) construir um sistema escolar que contribua para a
formação de cidadãos conscientes e ativos – como também pelas modificações que ocorrem
na ciência geográfica.
Com o sistema escolar passando uma fase de profundas reestruturações no seu bojo, o
ensino da Geografia sofre questionamentos, propostas de mudanças radicais, tentativas de
eliminação ou minimização por parte de alguns, e de maior valorização por parte de outros.
Quanto aos professores das escolas elementar e média, há uma situação paradoxal, meio
caótica e ao mesmo tempo bastante rica como a implementação de caminhos plurais, de
experiências diversificadas, de tentativas ora de renovar dentro do tradicional, ora de mudar
tudo desta ou daquela maneira. Isto tudo comprova que a Geografia escolar possui e sempre
possuiu uma dinâmica própria e relativamente independente da sua vertente acadêmica.
No terceiro livro analisado, Geografia Crítica, o espaço social e o espaço brasileiro,
de José William Vesentini e Vânia Vlach (2002), a cidadania tem sido considerada como a
esfera da prática política, em que se conquista e se constrói no dia a dia, mais participação na
vida social. Adotando uma metodologia crítica que ajuda o aluno a conhecer o mundo e a
posicionar-se diante dele, do lugar em que vive até o planeta como todo, percebe-se nesta obra
novas mudanças no ensino de Geografia.
É certo que o livro didático não responde pelo ensino, cujas relações se condicionam
em uma série complexa de fatores, porém, sua discussão acompanha as práticas educacionais
da escola. Este enfoque é relevante porque demonstra que a constituição discursiva do livro
didático não corresponde apenas à transposição e à re-criação do discurso científico,
constituindo-se heterogeneamente a partir dos sujeitos que constituem a escola e que são
responsáveis pela construção de um conhecimento que é essencialmente escolar.
Destacamos na obra de Vesentini e Vlach uma aproximação das suas ideias com as de
Corrêa (2007), quando afirma que a região é considerada uma entidade concreta, resultado de
múltiplas determinações, ou seja, da efetivação dos mecanismos de regionalização sobre um
130
quadro territorial já previamente ocupado, caracterizado por uma natureza já transformada,
heranças culturais e materiais e determinada estrutura social e seus conflitos.
O livro didático de Geografia, especificamente, é importante para a disciplina escolar
brasileira. A propósito, os textos didáticos de Geografia anteciparam a institucionalização
acadêmica da ciência, e muitos de seus debates, inclusive o de “orientação moderna” de
Delgado de Carvalho é um exemplo desse processo.
Novos trabalhos que analisem mudanças ou permanências importantes no ensino e nos
livros didáticos devem ser estimulados, pois só assim o cidadão conseguirá enxergar que a
convivência no mundo é uma questão política, e não uma mera questão técnica.
131
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A Invenção do Nordeste e outras artes. São
Paulo: Cortez, 2001.
ALBUQUERQUE, Maria Adailza Martins de. Livros Didáticos e Currículos de Geografia.
Pesquisas e Usos: Uma História a Ser Contada. 10º Encontro Nacional de Prática de Ensino
em Geografia. Porto Alegre: UFRGS, 2009.
ALI IDA, Manuel Said. Compêndio de Geografia Elementar. Rio de Janeiro: Typographia
Nacional, 1905.
ANDRADE, Manuel Correia de. Brasil: Globalização e Regionalização. Conferência
proferida pelo professor Manuel Correia de Andrade na sessão de abertura do Curso de
Mestrado em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro: março de 2001.
(Mimeo).
________. Espaço: Polarização e Desenvolvimento. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1987.
________. Geografia: Ciência da Sociedade. Uma introdução à análise do Pensamento
Geográfico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992.
________. O Nordeste e a Questão Regional. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e
documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002.
________. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das sessões de
um documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
________. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação.
Rio de Janeiro, 2002.
________. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação.
Rio de Janeiro, 2005.
________. NBR 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio
de Janeiro, 2005.
AZEVEDO, Aroldo de. Geografia do Brasil – bases físicas, vida humana e vida econômica.
8. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977.
________. Geografia do Brasil. 84. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958.
BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. Rio de Janeiro: Abril, 1974.
BIGOTTO, José Francisco; VITIELLO, Márcio Abondanza; ALBUQUERQUE, Maria
Adailza Martins de. Geografia: sociedade e cotidiano - espaço brasileiro. 6ª série. 1. ed. São
Paulo: Escala Educacional, 2006.
132
BITTENCOURT, Circe Maria. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo:
Cortez, 2004.
________. História das Disciplinas Escolares no Brasil: contribuições para o debate. In:
OLIVEIRA, Marcus A. T. de; RANZI, Serlei Maria F. (Org.). Estudos CDAPH – Série
Historiografia - Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, 1998.
________. Livros didáticos e conhecimento histórico: uma história do saber escolar. Tese
(Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo – USP, 1993.
BOISIER, Sérgio. Em busca do esquivo desenvolvimento regional: entre a caixa-preta e o
projeto político. Planejamento e Políticas Públicas nº 13, 13. ed. jun. 1996. p. 111-143.
BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
história e geografia. 3. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2001.
BREITBACH, Áurea C. de Miranda. Estudos sobre o conceito de região. Porto Alegre:
FEE/RS, 1988.
CAMARGO, Luiz. Projeto gráfico, ilustração e leitura da imagem no livro didático. In: Em
Aberto. Brasília: INEP, V. G. n. 35, 1987.
CARVALHO, Carlos Miguel Delgado de. Geographia do Brasil. Tomo I. Rio de Janeiro:
Impressões Artísticas, 1913.
________. Geographia do Brasil, Tomo II. Geographia Regional. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1927.
________. Introdução à Geografia Política. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1929.
________. Metodologia do Ensino Geográfico. Petrópolis: Tipografia das “Vozes de
Petrópolis”, 1925.
CARVALHO, Maria do Carmo A. A. Participação social no Brasil hoje. WWW.polis.org.br
Pesquisa em: 05/05/09.
CASTRO, Iná Elias de. O Mito da Necessidade – Discurso e Prática do Regionalismo
Nordestino. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.
________. Problemas e alternativas metodológicas para a região e para o lugar. In: SOUZA,
Maria Adélia A. de. Natureza e Sociedade de Hoje: uma leitura geográfica. 2. ed. São Paulo:
Hucitec, 1994. p. 56-68.
________. Visibilidade da região e do regionalismo. In: LAVINAS, Lena; CARLEIAL, Liana
Maria da F.; NABUCO, Maria Regina (Org.). Integração, região e regionalismo. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. p. 155-169.
________. Geografia e política: território, escalas de ação e instituições. 2. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
133
CAVALCANTI, Lana de Souza. Cotidiano, mediação pedagógica e formação de conceitos:
uma contribuição de Vygotsky ao ensino de geografia. Caderno do Cedes vol. 25, nº 66.
Campinas, maio/ago, 2005. p. 185-207.
CHARTIER, Roger (Org.) Práticas de leitura. São Paulo: Editora Liberdade, 1996.
CHAUI, Marilena. Brasil – Mito fundador e sociedade autoritária – História do povo
brasileiro. Editora Fundação Perseu Abramo, 2000.
________. Janela da Alma, espelho do mundo. In: NOVAES, Adauto et al. O olhar. São
Paulo: Companhia das Letras, 1988.
CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um campo de pesquisa.
2. ed. In: Revista Teoria & Educação. nº. 2, 1990. p. 177-229.
CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte. Revista
Educação e Pesquisa: v. 30, n. 3, set/dez. 2004. p. 549-566.
COLESANTI, Marlene T. de M. O ensino de Geografia através do livro didático no
período de 1980 a 1981. Rio Claro: Unesp, 1984.
CORRÊA, Roberto Lobato. Região e organização do espaço. 8. ed. São Paulo: Ática, 2007.
CORRÊA, Rosa L. Teixeira. O livro escolar como fonte de pesquisa em História da
Educação. Cadernos Cedes, ano XX, nº 52, Nov. 2000.
DAMIANI. A Geografia e a construção da cidadania. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri
(Org.). A Geografia na sala de aula. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2003.
DANTE, L. R. Livro didático e matemática: Uso ou Abuso? In: Em Aberto. Brasília: Inep,
V. G. n. 35, 1987. p. 52-58. Número especial sobre livro didático.
FÁBIO GUIMARÃES. Divisão Regional do Brasil. In: Revista Brasileira de Geografia.
abr-jun, 1941.
FERREIRA, Nilda Teves. Cidadania. Uma questão para a educação. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1993. 264 p.
FONSECA, T. de L. O livro didático de História: Lugar de memória e formador de
identidades. In: Anais do XX Simpósio Nacional da Associação Nacional de História. São
Paulo: Humanistas/FFLCH/ANPUH, 1999.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São
Paulo. Martins Fontes, 1990.
FRANCO, Maria Laura P. Barbosa. O Livro Didático de História do Brasil: algumas
questões. Cadernos de Pesquisa. São Paulo (41): 22-7, maio 1982.
134
FREITAG, B.; MOTTA, Valéria R.; COSTA, Wanderley F. O Estado da Arte do Livro
Didático no Brasil. Brasília: REDUC/INEP, 1987. In: Simpósio sobre o Livro Didático.
Memória. FUNBEC - Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências.
São Paulo, 1983.
FREYRE, Gilberto. Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do
Nordeste do Brasil. 7. ed. São Paulo: Global, 2004.
FURTADO, Celso. A Operação Nordeste. Rio de Janeiro: ISEB, 1959.
FERRACINI, R. Ensaios de Geografia Humana na Obra de Aroldo de Azevedo. 1º
SIMPOGEO/ SP, Rio Claro, 2008.
FERRAZ, Claudio Benito O. O discurso geográfico: a obra de Delgado de Carvalho no
contexto da geografia brasileira 1913 a 1945. Dissertação de Mestrado, FFLCH/ USP, 1994.
GOMES, Paulo Cezar da Costa. Geografia e Modernidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2000. 368 p.
________. O conceito de região e sua discussão. In: CASTRO, Iná E.; GOMES, Paulo C.;
CORRÊA, Roberto L. (Org.) Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1995. p. 49-76.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os (des)caminhos do meio ambiente. São Paulo:
Contexto, 1989.
GOODSON, Ivor F. Currículo: Teoria e História. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
________. Tornando-se uma matéria acadêmica: padrões de explicação e evolução. In:
Teoria & Educação, nº 02, 1990.
GUIMARÃES, Fábio M. S. Divisão Regional do Brasil. In. Revista Brasileira de Geografia.
Abr-jun, 1941. p. 318-371.
GUIMARÃES, Rua Borges. Tecendo redes e lançando-as ao mar: o livro didático de
Geografia e o processo de leitura e escrita. In. Em Aberto. Brasília: INEO, V. G., nº 35,
1987. p. 64-76.
HAESBAERT, Rogério C. Morte e vida da região: antigos paradigmas e novas perspectivas
da Geografia Regional. Anais do XXII Encontro Estadual de Geografia: As múltiplas
concepções da questão regional no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: AGB, FAPERGS e
FURG, 2003.
________. Região, Diversidade Territorial e Globalização. GEOgraphia, ano. 1, n. 1, 1999.
________. Região: Trajetos e Perspectivas. In. Anais da Primeira Jornada de Economia
Comparada. Porto Alegre: FEE-RS, 2005.
HARTSHORNE, Richard. Propósitos e natureza da Geografia. São Paulo: Hucitec, 1978.
135
HELLER Agnes. O Cotidiano e a História. São Paulo. 7. ed. Editora Paz e Terra, 2004.
HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914 – 1999. Tradução: Marcos
Santarrita. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
IDA, Said Ali. Compêndio de Geografia Elementar. São Paulo/Rio de Janeiro: Livreiros
Editora, 1905.
JUSTINO, Magalhães. O Manual Escolar no Quadro da História Cultural. Por uma
historiografia do manual escolar em Portugal. Sísifo. Revista de Ciências da Educação. I,
2006. p. 5-14.
KROPOTKIN, Piotr. O que a Geografia deve ser. In: Seleção de textos. São Paulo: AGB. n.
13, p. 1-9, mar. 1986.
LACOSTE, Ives. A Geografia: isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. 3. ed.
Campinas: Papirus, 1993.
LAJOLO, Marisa T. Livro didático: um (quase) manual de usuário. In: Em Aberto. Brasília:
Inep, V. G. n. 35, 1987, p. 2-7.
LAJOLO, M.; Zilberman, R. A formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1999.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução Bernardo Leitão et al. 3. ed. Campinas,
SP: Editora da Unicamp, 1994.
LENCIONI, Sandra. Região e Geografia. São Paulo: Edusp, 1999.
MACHADO, J. Nilson. Sobre Livros Didáticos: quatro pontos. In: Em Aberto. Brasília: Inep,
V. G. n. 35, 1987, 22-28.
MACHADO, Mônica S. A Implantação da Geografia Universitária no Rio de Janeiro. Scripta
Nova – Revista eletrônica de Geografía e Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN
1138-9788] nº 69 (5), 1 de agosto de 2000.
MAGALHÃES, Justino. O manual escolar no quadro da História Cultural: Para uma
historiografia do manual escolar em Portugal. Revista de Ciências da Educação. Nº 1.
2006. p. 5-14. Disponível em: HTTP://fpce.ul.pt. Acesso em: 25 de janeiro de 2008.
MARCUSCHI, L. Antônio. Exercício de compreensão ou copiação nos manuais de ensino de
língua? In: Em Aberto. Brasília: Inep, V. G. n. 35, 1987. Número especial sobre livro
didático.
MARTINS, Maria do Carmo. A história prescrita e disciplinada nos currículos escolares:
quem legitima esses saberes. Bragança Paulista: Edusf, 2002.
MOGILNIK, M. Como tornar pedagógico o livro didático de Ciências? In: Em Aberto.
Brasília: Inep, V.G. n. 35, 1987. p. 29-35.
MONTEIRO, C. A. de Figueiredo. William Morris Davis e a Teoria Geográfica. Revista
136
Brasileira de Geomorfologia. Vol. 2, nº 1, 2001. p. 1-20.
MORAES, Antônio Carlos R. Epistemologia e Geografia. Orientação. São Paulo. nº. 6,
1985. p. 85-87.
________. Geografia: Pequena História Crítica. São Paulo: Hucitec, 1986.
MOREIRA, Ruy. Teses para uma Geografia do Trabalho. Ciências Geográficas. Bauru. V. 1
ano II, 2002.
________. O círculo e a espiral: a crise paradigmática do mundo moderno. Rio de Janeiro:
Cooperativa do Autor, 1993.
MUNAKATA, Kazumi. Investigações acerca dos livros escolares no Brasil: das ideias à
materialidade. In: VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación
Latinoamericana. Historia de las ideas, actores e instituciones educativas - Memoria del VI
Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana. San Luis Potosí: El
Colegio de San Luis, 2003. v. 1. p. 1-15.
NEVES, Edna R. da Conceição. Uma trajetória pela história da atividade editorial
brasileira: Livro Didático de Matemática, autores e editores. Dissertação (Mestrado). São
Paulo: PUC/ SP, 2005.
NOSELLA, Maria de Lourdes Chagas Deiró. As belas mentiras: a ideologia subjacente aos
textos didáticos. 4. ed. São Paulo: Moraes, 1981.
OLIVEIRA, César A. C. de. Considerações sobre a História da Geografia Crítica e seu
ensino. In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO.
I. Anais... Rio Claro: Unesp, 1999. p. 200-206.
OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, Planejamento e
conflitos de classes. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
PAIVA, Vanilda Pereira. Paulo Freire e o nacionalismo-desenvolvimentista. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 208 p.
PEREIRA, Diamantino Alves Correia. Origens e consolidação didática na geografia
escolar brasileira. 1989. 151 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade de São
Paulo. São Paulo, 1989.
PESAVENTO, Sandra. Um encontro marcado - e imaginário – entre Gilberto Freyre e Albert
Eckhout. Fênix. Revista de História e Estudos Culturais. abr/mai/jun 2006. vol. 3. Ano III
nº 2. Disponível em: WWW.revistafenix.pro.br. Pesquisado em: 10/05/09.
PONTUSCHKA, Nídia Nacibe. A Geografia: ensino e pesquisa. In: CARLOS, Ana Fani
Alessandri (Org.). Novos Caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 2002. p. 111-142.
ROCHA, Genylton. O. R. da. A Trajetória da disciplina Geografia no currículo escolar –
1838-1942. Dissertação (Mestrado) - São Paulo: Pontifica Universidade Católica – PUC. São
Paulo, 1996.
137
________. Por uma geografia moderna nas salas de aula: Rui Barbosa e Delgado de Carvalho
e a renovação do ensino de geografia no Brasil. Mercator - Revista de Geografia da UFC,
ano 08, número 15, 2009.
REGO, José Lins do. O Moleque Ricardo; estudo de Antônio Carlos Villaça. 27. ed. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2008.
________. Usina; estudo de Antônio Carlos Villaça. 18. ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
2008.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 2. ed. São Paulo: Cortez,
2004.
SANTOS, Milton. O País distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo:
Publifolha, 2002.
________. Relações Espaço-Temporais no Mundo Subdesenvolvido. In: Seleção de Textos.
São Paulo. p. 17-23, dez. 1976.
________. Por uma Geografia Nova: da crítica da geografia a uma Geografia Crítica. São
Paulo: Hucitec, 1978.
________. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: Hucitec, 1995.
________. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: Hucitec, 1997.
SILVA, E. Theodoro. Livro didático: do ritual de passagem à ultrapassagem. In: Em Aberto.
Brasília: Inep, nº. 35, 1987, p. 8-11 .
SILVA, Jeane M. A constituição de sentidos políticos em livros didáticos de Geografia na
ótica da análise do discurso. Dissertação (Mestrado) – Uberlândia/MG: Universidade
Federal de Uberlândia, 2006.
SILVEIRA, Rosa M. G. Regionalismo, Ideologia do Espaço; a gênese da Região Nordeste.
Tese (Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 1980.
SIQUEIRA, Antônio J. Nação e Região: os discursos fundadores. Texto escrito para o Ciclo
de Conferências Brasil 500 anos realizado pela Fundação Nacional de Artes – Funarte. 4. ed.
Rio de Janeiro, 2000.
SOJA, E. Geografias Pós-Modernas: A Reafirmação do Espaço na Teoria Social Crítica.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
SOUZA, Geraldo S. de; SOUZA, Armando J. S. de. Geografia do Brasil. 4ª série ginasial.
10. ed. Editora do Brasil, 1958.
TEIXEIRA, Anísio. A revolução dos nossos tempos. Discurso pronunciado na solenidade da
instalação do XII Congresso Nacional de Estudantes, na Faculdade de Medicina da Bahia, em
17 de jul. 1949. Salvador: Imprensa Oficial da Bahia, 1949.
138
________. Romper com a simulação e a ineficiência do nosso ensino. Formação. Rio de
Janeiro, v. 16, n. 176, 1953. p. 11-16.
VAINER, C. B. Região e interesses regionais: subsídios para uma discussão dos
regionalismos contemporâneos no Brasil. São Paulo: Fundap, 1995.
VESENTINI, José William. A Capital da Geopolítica – ensaios 124 – 4. ed. São Paulo,
1996.
VESENTINI, José W. A questão do livro didático no ensino da Geografia. In:
VESENTINI, José W. (Org.). Geografia e Ensino: textos críticos. Campinas - SP: Papirus:
1989. p. 161-179.
________. A questão do livro didático no ensino da Geografia. In: VESENTINI, José W.
(Org.). Geografia e Ensino: textos críticos. 5. ed. Campinas: Papirus, 2001. p. 161-179
________. O ensino de geografia no século XXI. Campinas - SP: Papirus, 2004.
________. O método e a Práxis (notas polêmicas sobre Geografia). In: Terra Livre. São
Paulo. Nº 2. 1987. p. 59-90.
VESENTINI, José W.; VLACH, Vânia. Geografia Crítica. São Paulo: Ática, 2006.
VLACH, Vânia. A propósito do ensino de Geografia: em questão o nacionalismo patriótico.
Mestrado em Geografia (Dissertação). São Paulo: USP, 1988.
________. Carlos Miguel Delgado de Carvalho e a “Orientação Moderna” em Geografia. In.
VESENTINI, José William (Org.). Geografia e ensino: textos críticos. Campinas, SP:
Papirus, 1989.
________. Da ideologia do ensino da Geografia de 1º e 2º graus. Orientação. São Paulo, nº 9,
1992. p. 27-32.
________. Ensino de Geografia no início do século XXI: desafios e perspectivas. In:
ENCUENTRO DE GEOGRÁFOS DE AMÉRICA LATINA, 9, Mérida, México. Anais...
Mérida; UNAM, 2003. 15 p. Disponível em: HTTP://www.ig.ufu.br/legeo/ensinovania.htm>.
Acesso em: 20 de março de 2009.
________. Geografia em construção. Belo Horizonte: Lê, 1991.
________. Metodologia do Ensino de Geografia. Caderno de Geografia. Belo Horizonte,
vol. 2. nº. 2, p. 41-52. jul. 1992a.
________. O ensino de Geografia no Brasil: uma perspectiva histórica. In. VESENTINI, José
W. (Org.). O ensino de geografia no século XXI. Campinas - SP: Papirus: 2004. p. 187-218.
________. O Ensino de Geografia Política e Geopolítica nas escolas de Ensino Fundamental e
Médio dos distritos de Uberlândia (Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, Tapuirama e
Miraporanga). Horizonte Científico, v. 1, 2007. p. 1-22.
139
________. Papel do ensino de geografia na compreensão de problemas do mundo atual.
Los problemas del mundo actual, soluciones y alternativas desde la Geografía y las Ciências
Sociales. IX Coloquio Internacional de Geografia. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 28 de mayo-1 de junio de 2007.
VLACH, Vânia; MELO, Adriany de A.; SAMPAIO, Antônio C. F. Percursos e Desafios da
Pesquisa e do Ensino de História da Educação. Anais do VI Congresso Luso-Brasileiro de
História da Educação – 17 a 20 de abril de 2006. Uberlândia/Minas Gerais.
VIEIRA, Flávio Lúcio R. A teia inescapável do regionalismo nordestino: a invenção do
Nordeste e outras artes. Conceito: v. 4, n. 5, p. 53-64, 2001.
________. Sudene e desenvolvimento sustentável: planejamento regional durante a década
neoliberal. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2004.
ZAIDAN FILHO, M. O fim do Nordeste & outros mitos. São Paulo: Cortez, 2001.
ZILBERMAN, Regina. No começo, A Leitura. In: Em Aberto. Brasília: Inep, V. G. nº 35,
1987. p. 12-21.
ZUSMAN, Perla B. & PEREIRA, S. N. Entre a Ciência e a Política: um olhar sobre a
Geografia de Delgado de Carvalho. Terra Brasílis – Revista de História do Pensamento
Geográfico no Brasil. Ano I. nº. 1 – Geografia: disciplina escolar. jan/jun. Rio de Janeiro:
Editora Sal da Terra, 2000. p. 52-82.