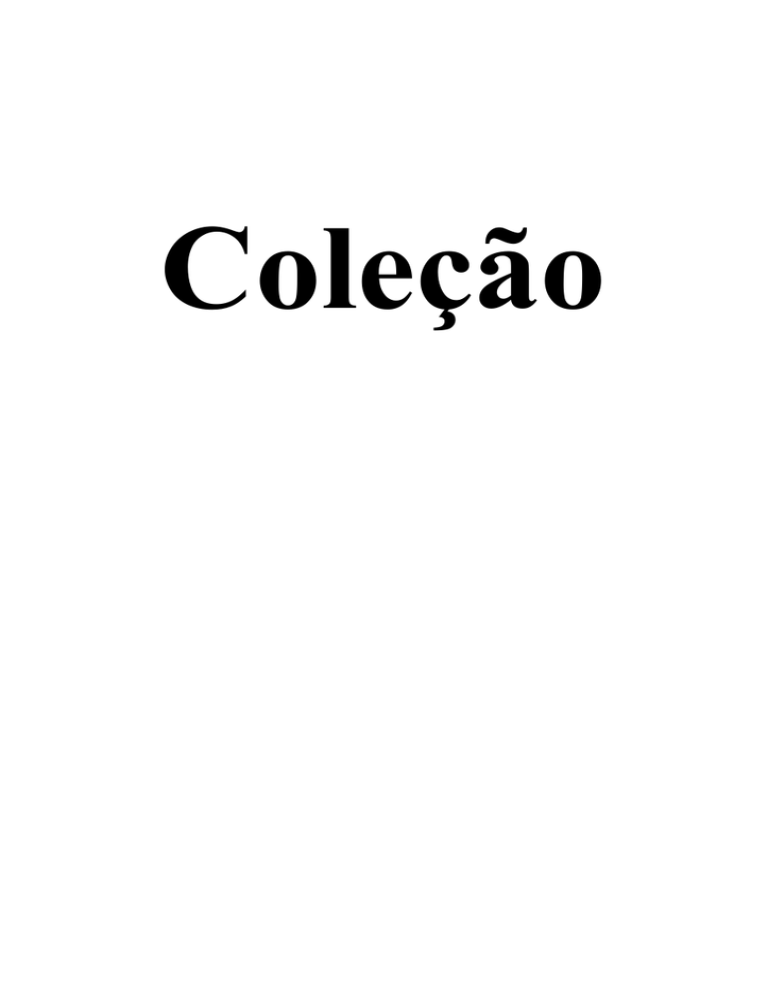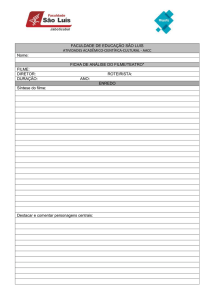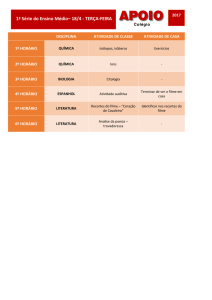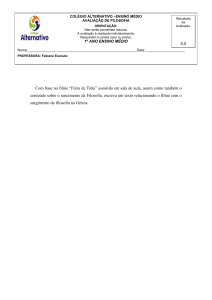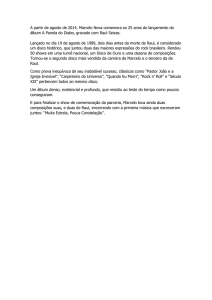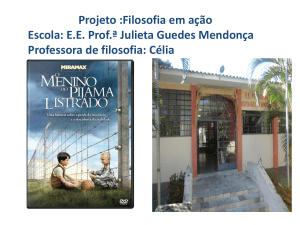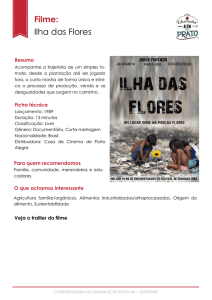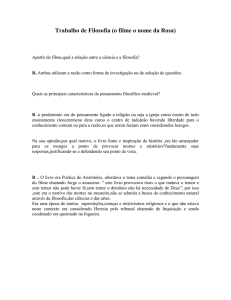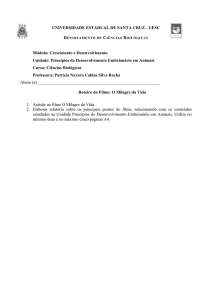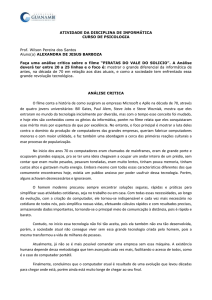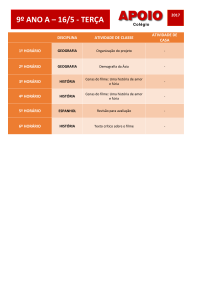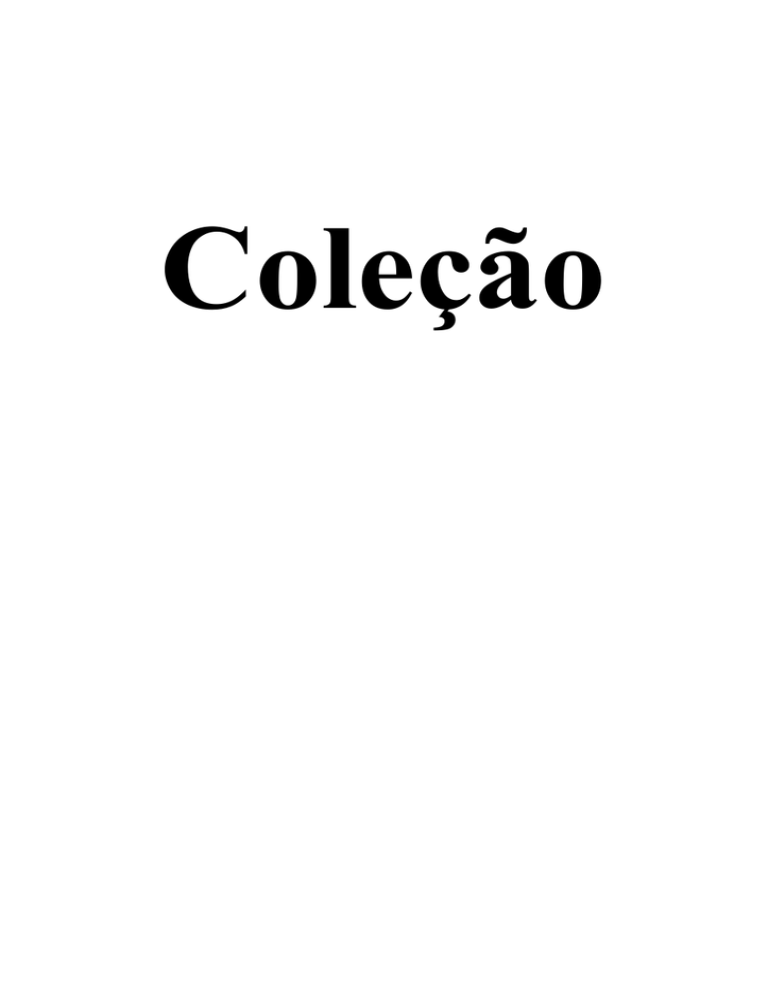
Coleção
2
Coleção
(textos publicados no site
Crônicas Cariocas
entre janeiro de 2007 e
janeiro de 2010)
Luciano Fortunato
3
4
Para Mary
5
6
“...como é bom poder tocar um
instrumento”.
(“Tigresa”, Caetano Veloso)
7
8
Apresentação
Luciano Fortunato é um questionador. Na
coleção, que agora é publicada em livro (de textos
escritos para o portal Crônicas Cariocas entre janeiro
de 2007 e janeiro de 2010), o leitor vai perceber que o
autor fala de suas grandes paixões, como a música, o
cinema e as crônicas, todas na condição tripla de estilo,
simplicidade e irreverência.
O texto de Luciano é pujante no que se refere
às músicas e aos filmes imortalizados pelo público.
Porém, um lado erótico e melancólico possa ser
revelado quando o assunto é o registro do cotidiano.
Para quem já entrou na fase dos quarenta e está
empenhado a só dizer a verdade, viver talvez seja um
tanto perigoso... Assim sendo, sedução e emoção são
promessas que o leitor pode esperar nos textos a seguir.
Francci Lunguinho
Editor do portal Crônicas Cariocas
9
10
1. De
música ligeira
11
12
O concreto titã
A necessária influência de Arnaldo Antunes
Eu poderia falar de umas coisas que eu tenho ouvido e
gostado, como Arctic Monkeys, Kings of Leon, o
simpático Keane, Wilco, Air. Em português só me vem à
cabeça agora a cantora Céu, que eu recomendo. Mas
como eu não sou daquelas pessoas que ouvem de tudo –
pelo menos não assim que é lançado. Fui ouvir só agora
o álbum Qualquer, do Arnaldo Antunes. E o disco é
bom.
O mestre da poesia concreta Haroldo de Campos disse
certa vez que “uma letra do Arnaldo Antunes vale mais
que vários livros de poesia”. Mas, é claro, era o mestre
elogiando o discípulo. Não que Arnaldo tenha sido um
discípulo formal, obviamente. Contudo me parece que
Campos estava certo. Também... logo eu dizer isso –
eu que ouvi mais músicas dos Titãs e do Arnaldo do que
li livros de poesia...
Esse negócio começou com a canção “O Que”, do
álbum Cabeça Dinossauro, que dispensa apresentações
e pede sempre mil comentários, merecidamente
positivos. Ali ele já demonstrava suas intenções. A
influência concretista viria se manifestar em toda a obra
13
do titã – embora a poesia e a música dele sejam muito
mais que isso. É claro que “O Que” não estava sozinha.
Todas as faixas do Cabaça Dinossauro são boas. E todos
os compositores dos Titãs estavam, provavelmente, no
seu melhor momento.
O próximo grande marco na história dos Titãs e na
história do rock brasileiro, e – eu me arrisco, sem medo,
a dizer – na história das letras, seria a canção “Comida”
(uma das faixas do álbum conseguinte: Jesus Não Tem
Dentes no País dos Banguelas). Vamos combinar:
poucos versos na história da música brasileira foram tão
felizes quanto “você tem fome de que?”. Mas, por
motivos a serem estudados, Arnaldo distanciou-se do
grande público ao abandonar o anárquico octeto. É
engraçado, pois os Titãs eram ultra populares e ainda
são. Entretanto, na carreira solo de Arnaldo não há
sequer um grande sucesso radiofônico ou (muito menos)
televisivo. Porque, veja bem, sofisticada a música dele
sempre foi – já era ainda dentro do grupo. Então o que
houve? Não sei bem. Mas sabemos que hoje a música
dele é ouvida, quase que exclusivamente, pelas classes
mais intelectualizadas da população.
E há os paradoxos acerca do cara. Arnaldo é um sujeito
muito bacana e muito esquisito. Compõe músicas
lindas, que lembram canções de roda, e, no entanto, as
crianças não conhecem tais canções (estou me referindo
à maioria das crianças) – quem ouvir a canção “Num
Dia”, do seu último disco Qualquer, que começa assim:
“sujar o pé de areia pra depois lavar na água / lavar o pé
na água pra depois sujar na areia...” vai se pegar
14
cantando e com vontade de brincar de roda. A gente vira
criança ouvindo isso. Uma batidinha delicada no violão
meio suingado, uma guitarrinha não menos delicada
com efeito “wah-wah”, a ausência de percussão – que é
uma característica de todo esse álbum – , e aquele cantar
de gente boa que ele tem. Digo uma coisa: comprem
esse disco. É um investimento. Mas se não tiver grana,
fazer o que? Baixe, pô.
Ainda sobre crianças. Quem ouvir o primeiro trabalho
solo do Arnaldo – o belíssimo Nome – vai ter na canção
“Cultura” uma primorosa peça infantil. Trata-se de um
reggae minimalista que começa com o singelo verso: “o
girino é o peixinho do sapo...” e vai por aí, falando de
vários bichos e utilizando-se de uma didática da
fantasia, quase que como um Monteiro Lobato, uma
Sylvia Orthof, ou algumas coisas infantis da Clarisse
Lispector. A maioria das crianças não conhece o
Arnaldo. A única exceção nisso é “Velha Infância”, com
os Tribalistas. Por conta de uma inclusão desta canção
em uma novela das oito, o público infantil ouviu e
cantou nos coros em festinhas escolares: “você é assim,
um sonho pra mim...”. Mesmo assim, o trio formado
com Marisa Monte e Carlinhos Brown, apesar de muito
ouvido, não foi tão visto. Mas as crianças conhecem
muito bem o Calipso, cujas letras não são nem um
pouco infantis. Por outro lado, Arnaldo Antunes já foi
muito fundo no erotismo como o fez, por exemplo, no
álbum Paradeiro , com a música “Essa Mulher”, onde
canta: “ela goza com o sabonete, não precisa de você /
ela goza com a mão, não precisa do seu pau...”. Só que
tem o seguinte: nem cantando sacanagem ele soa
15
sensual. Está dizendo palavrões, mas parece um
sociólogo, um analista ou quase um padre, quando faz
isso. E acaba também não mexendo com a libido
feminina – o que é quase um pré-requisito para um pop
star. Ele não tem fama de mulherengo como o público
feminino adora. Arnaldo não atiça o tesão da maioria
das mulheres. Isso é coisa de gente boa. Puxa vida,
Arnaldo Antunes só pode ser gente boa. E gente boa
geralmente não soa sensual. E, logo, não vende. Se soa
filosófico não vende. Se soa intelectual ou erudito, não
vende. Pra juntar a isso, ele não é um grande cantor, e
sim um intérprete pras suas próprias composições. E
não é um intérprete versátil, e tem uma voz esquisita.
Bem. Acho que depois de tantos anos de carreira, o
pessoal já deveria ter se acostumado com a voz dele.
Não foi difícil se acostumar com as vozes nasais de
Chico Buarque e Belchior. E, na minha opinião, tem
gente com voz muito desagradável fazendo sucesso
comercial por aí. E a dele, sinceramente, eu acho muito
interessante e agradável, apesar de esquisita. Mas ele
vende pouco – não tem jeito. Ele vende pras classes A e
(olhe lá) B. Isso pode ser positivo, no fim das contas.
Se as pessoas formadoras de opinião são as que ouvem
o Arnaldo, o bom gosto e a sabedoria (isso mesmo) dele
pode influenciá-las, a ponto de tal influência ser
“repassada” às classes “receptoras de opinião”. Puta
merda, que idéia estranha essa minha agora. Tomara que
faça sentido, e, fazendo sentido, aconteça de fato, pois a
música popular desse país necessita da influência de
Arnaldo Antunes.
16
Eis o “filé” de Arnaldo Antunes: “Saiba” (do álbum
Saiba); “Num Dia” (de Qualquer); “Nossa Bagdá” (do
álbum Qualquer, e autoria de Péricles Cavalcanti ); “As
Árvores” (de Um Som); “Dinheiro” (de Um Som); “O
Seu Olhar” (de Ninguém, e da trilha de Bicho de Sete
Cabeças); “Cultura” (do álbum de estréia solo, Nome);
“Alta Noite” (também de Nome); “Alegria” (de
Ninguém); “E Estamos Conversados” (de O Silêncio);
“Essa Mulher” (de Paradeiro). Cantado por outros:
“Volte Para o Seu lar” e “Eu Não sou da Sua Rua” (por
Marisa Monte, no álbum Mais); “As Coisas” (por
Gilberto Gil, em Tropicália 2, o álbum comemorativo
dos 25 anos de Tropicália). Com os Titãs: “O Que”
(Cabeça Dinossauro); “Comida” (Jesus Não Tem
Dentes No País dos Banguelas); “Miséria” (Õ Blesq
Blom); “Medo” (Õ Blesq Blom); "Saia de Mim" (Tudo
ao mesmo tempo agora).
17
O Fim da Poesia?
Vinho tinto e boa música de artistas vivos e mortos
podem quebrar um galho
Isso aqui é para todos que me amam, todos que estão
curiosos por me conhecer um pouco melhor, todos que
gostam de ouvir o que um poeta louco diz. Ou seja, pra
bem pouca gente.
Vou te falar. Escrevo poesia. Livros de poesia. E-books,
na verdade. E cada poesia que escrevo é um grito
desesperado: “venham me conhecer!”; “venham
compartilhar a vida comigo!”. Sempre pretendo somar
coisas e pessoas. Quero sempre mais gente com quem
eu possa falar e a quem eu possa ouvir, aprender e
ensinar. Porém, a dura matemática da vida parece ser
um empecilho para que isso se dê plenamente.
Minha poesia está no fundo do copo deste vinho tinto
barato – não do mais barato, mas um vinho razoável.
Minha poesia, acho que não me faz bem: me dá ressaca.
Ela faz-me sentir, não raro, um imbecil.
Fui chamado de narcisista outro dia na Internet. E é
verdade, sou mesmo. Me acho belo e inteligente. Um
conhecido meu, músico e pessoa razoavelmente bem
sucedida, diz que eu sou um cara que só sabe reclamar,
18
e ele, que pouco me conhece, está certo também.
Narcisista e chorão. Que coisa mais esquisita. Sou belo,
mas não o suficiente para que todos achem o mesmo.
Sou inteligente, mas não o suficiente para sair da casta
de onde nasci. Pertinentes e adequados a mim são os
versos “eu sei de quase tudo um pouco, e quase tudo
mal”, de uma música dos anos oitenta. Toco violão, mas
não bem. Canto razoavelmente, mas a voz é um tanto
fraca, instável e um tanto anazalada. Dirijo meu carro,
mas me apavora a idéia de dirigir o carro dos outros.
Sou ateu, mas não possuo as bases científicas para me
justificar. E se eu for por esse caminho aqui eu não
termino mais de escrever. Auto-piedade. Auto-piedade.
A mais pura auto-piedade. Lamentável isso.
No meu som agora está tocando Joy Division. Essa foi
uma grande banda. Pra quem não sabe, o vocalista se
matou. Jovem, muito, muito jovem. Ian Curtis se
enforcou quando tinha vinte e três anos, antes de
conhecer um sucesso que seria inexorável. Mas ouvir
vozes como as de Cazuza, Raul Seixas, Renato Russo,
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, e, até
mesmo, Curt Cobain, jamais me incitaram qualquer
desejo auto-destrutivo. Tenho facilidade em admirá-los
sem querer imitá-los – e muito menos a Curt e Ian, que
foram suicidas de fato. Também não fico triste em ouvir
vozes de mortos. E nunca pensei em me matar, não.
Mas quando eu era novo e ficava perto de um trem
passando, eu apenas tomava o cuidado de me afastar o
suficiente – tinha medo de mudar de idéia de repente e
pular embaixo das rodas de ferro. Todas são de ferro. O
trem bala tem rodas?
19
Tive pensando na música do Cazuza, “Ideologia”.
“Meus heróis morreram de overdose...”. É verdade,
que música boa, que letra... “Meu partido é um coração
partido, e as ilusões estão todas perdidas...”. Tenho um
coração sofredor como de qualquer poeta desse mundo e
de todas as épocas da humanidade. É bem verdade que
alguns artistas sofredores viajam para os Estados
Unidos, comem ostras e tomam do melhor uísque doze
anos todo santo dia. Até pão e água é difícil pra mim:
pão não é tão barato assim. Mas tudo bem. Prossigo
com minha dor e assisto ao fim da minha poesia. Porque
viver poeticamente é o que me parece, às vezes, ser uma
insanidade. Pondero, contudo, questionando o que vem
a ser sanidade. Como discutir o que é necessidade e o
que é trivialidade com seres estranhos como os poetas e
artistas em geral?
Não, não. Espere. Que nada. O fim da poesia seria o fim
de tudo. Puxa vida! Não é que esse vinho está me
fazendo bem...
Então, adeus faturas vencidas, intempéries gerais e,
vamos à arte. “Então vamos pra vida...“.
Pinturas rupestres. Novos estudos revelam que elas não
eram simplesmente figuras funcionais e descritivas de
caçadas. Elas eram de fato artísticas. O homem das
cavernas tinha poesia. Não se preocupava apenas com
sua sobrevivência. Ele buscava ver o mundo além dos
seus olhos, ou, ao menos, retratá-lo além. Já vi essa
nova teoria em dois documentários da TV. Só idiotas
20
não conseguem ver a arte funcionar. O homem préhistórico já sabia disso.
Quer saber? É a poesia o que nos torna humanos. Que
mudança... dos parágrafos iniciais até aqui... É a minha
teia cultural particular me fazendo recapitular e refletir,
e repensar. A cultura é a única fábrica de gente que há.
E a cultura é saturada de poesia, música, arte.. Homem e
mulher e barriga são ferramentas de moldar bichinhos.
Cultura e poesia fazem mais: moldam gente.
“...Eu não preciso de muito dinheiro, graças a
Deus...”. Engraçado como, ainda hoje, passada a onda
hippie, este verso ainda consegue ser tão forte e belo,
em pleno turbilhão capitalista. Nesse furacão vivo onde
o dinheiro é o principal deus. Mas quem vive a poesia
não precisa de deuses. Só precisa do sonho. Não se pede
esmola a um sonho. Não se ajoelha diante de um sonho.
Um sonho é uma impressão aumentada. É como o
poema – é um superlativo mas não é um deus. É a
codificação de um desejo. É a flor silvestre enfeitando o
cabelo da moça. É o violão feito de madeira cheirosa.
São os acordes desse violão. “Quem tem um sonho não
dança”...
Vê só? Esse texto, em princípio, era pra ser um tiro de
misericórdia na pobre poesia. Mas me bastaram um
pouco de vinho tinto, boa música nas minhas grandes e
queridas caixas de som, meu violão... E minha vocação
para a felicidade se mostrou umas poucas linhas depois
21
do que parecia ser o fim da estrada – não o fim da vida,
fique claro. E estou eu aqui, bem melhor. Mas sei que
como “a vida vem em ondas”, assim é com a felicidade.
Ondas perfeitas e ressacas. Não se segura uma onda
com as mãos.
E, pensando em onda, me ocorreu o verso cantado por
Lulu Santos na música “Assaltaram a gramática”, que
ele canta com os Paralamas do Sucesso: “...o poeta é a
pimenta do planeta.” A pimenta é uma planta única.
Ela causa ondas de calor capazes de temperar a vida.
Lulu Santos foi o cara que abriu as portas para a geração
de rock da década de oitenta. Um desbravador. Também
como Lobão e outros. E se até músicas tristes, como as
do Joy Division, estão me fazendo feliz agora, o que
dizer então da lembrança oportuna dessa alegre canção
dos Paralamas... E na tentativa tosca de incrementar um
verso irretocável como o cantado por Lulu, eu diria
ainda “o poeta é o vinho do planeta”, ou “o poeta é a
maconha do planeta” (?!?).
*
“Eu sei de quase tudo um pouco, e quase tudo mal” é
um verso da canção “Nada Tanto Assim”, do disco Seu
Espião, de Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, um
dos mais criativos grupos da história da música
brasileira.
Joy Division foi uma das mais originais e incisivas
bandas de rock que já existiram. Influenciando
diretamente vários nomes do rock, como o nosso
22
Legião Urbana, por exemplo. Um ótimo registro do
simples e poderoso som deles está no Cd que contém
apresentação ao vivo na rádio BBC de Londres.
O álbum Ideologia, de Cazuza traz, na faixa título, os
versos “meus heróis morreram de overdose, meus
inimigos estão no poder / ideologia: eu quero uma pra
viver.” Ideologia é , sem dúvida, o disco mais
consistente do cantor e compositor. O disco traz ouro
puro, como “Faz Parte do Meu Show” e “Boas
Novas”(“...então vamos pra vida / senhoras e
senhores, trago boas novas / eu vi a cara da morte e
ela estava viva”), entre várias outras grandes canções.
Gal Costa cantava no começo da década de setenta,
com um acompanhamento de violão ultra-simples “eu
não preciso de muito dinheiro, graças a Deus / e não
me importa honey / oh minha honey baby...” . Esta
bela manifestação da inocência hippie, consegue, ainda
hoje, ter força e ser impactante. E não é pra menos. Ela
é recheada de versos de grande efeito psicológico.
“Vapor Barato” foi, muito mais tarde usada como trilha
sonora para o filme Terra Estrangeira, de Walter Salles.
Foi também regravada pelo O Rappa e teve grande
parte dos versos inseridos em uma música de Zeca
Baleiro, o que finalmente consolidou sua tardia mas
merecida popularização e consagração como canção
pop.
Na voz de Lulu Santos o país ouviu versos
inesquecíveis. A música “Como Uma Onda” é quase um
hino para a juventude dos anos oitenta, em busca de
23
consciência. “Nada do que foi será de novo do jeito
que já foi um dia / tudo passa, tudo sempre passará / a
vida vem em ondas como o mar / num indo e vindo
infinito”. A letra é um convite à filosofia.
“O poeta é a pimenta do planeta: malagueta!”. A
música se chama “Assaltaram a Gramática”, e está no
disco O Passo do Lui, dos Paralamas do Sucesso, do
qual Lulu participa.
*
Passados dois dias da minha desilusão poética e
angústia criativa – de onde saiu essa pequena crônica –,
amanheci com graves, graves mesmo, problemas
intestinais. Muita dor e mal estar. O motivo? Vinho. O
meu antídoto é também o meu veneno. É terrível
constatar, tendo que relembrar de vez em quando, sob
horríveis dores, que a minha bebida preferida me faz tão
mal. Amo vinho. Gosto de pimenta. Será que existe
alguma coisa boa nesse mundo que não me cause tantos
efeitos colaterais?
*
O vinho que estou degustando no momento se chama
“Sky Blue Sky”, o novo disco do Wilco. Delicioso, e,
até agora, sem reações adversas. (LF)
24
Tem que reciclar
Bebel Gilberto cuida da imagem do Brasil – e nem
deve saber o quanto
A supercarioca e também nova-iorquina Bebel Gilberto
é hoje – quase sem querer – uma conveniente
embaixadora da cultura musical brasileira. Nos últimos
dez anos ela é o nome mais conhecido da música
brasileira no exterior, tendo vendido bem mais de um
milhão de CDs. Uma pergunta inevitável é: por que por
aqui Bebel vende pouco? É muito esquisito o que nosso
mercado interno faz com artistas desse tipo. As forças
estranhas que o regem parecem fazer desdém daqueles
que atingem sucesso internacional, como se isto fosse
um tipo de fraude do mundo artístico. Pouco se diz da
importância desses que ultrapassam fronteiras, e com
talento e obstinação vão levando nossa cultura ao
mundo. Quase como se os nossos artistas
“internacionais” fossem “de araque”, sem jamais
representar, verdadeiramente, o que temos de melhor. É
claro que isso acontece às vezes. Mas, por favor,
separemos o joio do trigo.
A portuguesa Carmem Miranda usou aquele “falso”
estereótipo do povo brasileiro, que todos conhecemos.
As Bananas na cabeça: que figura pode ser mais
25
patética? Os “sambistas” brancos com camisas
listradas... A coisa do Zé Carioca... Enfim. Aquilo tudo
que não era Brasil, fora até bem aceito pelos brasileiros
sem muita reclamação. Carmem Miranda e, vejam só, o
“implantado” Zé Carioca foram os nossos embaixadores
culturais na época da Segunda Guerra. Engolimos
aquilo por falta de alternativa. Aquele Brasil inventado
pelos norte- americanos os nossos compatriotas
acataram com gratidão de mendigos.
Com a Bossa Nova o diálogo inter-cultural se
estabeleceu de forma bem mais aceitável, autêntica e,
porque não dizer, digna. Se a música de Tom Jobim de
João Gilberto não era exatamente “tradicional”, era boa.
Melhor inovar com classe do que com frutas na cabeça.
Bom ainda lembrar que há muitas vezes uma inocência
com o uso da palavra “tradicional” – o processo de
influências culturais, inter-relacionando culturas e
criando novas formas, se dá há milênios. Uma
simplificação grosseira bastante usada, mas não irreal,
explica que o “gênero” bossa nova foi uma fusão do
nosso samba com o jazz americano. E se foi? Que seja.
Tom e João não foram tradutores do Brasil. Foram
reinventores. Na receita de sua nova música eles usaram
o bom da nossa terra, numa forma o menos estereotípica
possível. A Bossa Nova é, até hoje, o nosso produto
cultural de maior sucesso no quesito exportação. Depois
da turma de Tom Jobim, um ou outro se aventura vez
em quando em levar nossa música ao exterior. E um ou
outro com certo êxito. Êxito que é fracasso se
comparado com o que fizeram Tom e João.
26
No segundo país em exportação musical (é claro que,
embora vices, perdemos de cem a zero pros primeiros,
os estadunidenses) a “embaixadora” da vez é mesmo
Bebel Gilberto. Seu novo disco Momento – na verdade
lançado em agosto do ano passado – é uma boa síntese
da qualidade e das potencialidades da música brasileira.
O velho e o novo estão em Momento. O “bom” velho e
o “bom” novo, diga-se. Esse poder de síntese da cantora
e compositora pode ser comprovado nas econômicas 11
faixas do disco. Em poucas canções o que se mostra é
uma grande variedade de ritmos e sonoridades. Tem
violões executados ao estilo do pai, João Gilberto. Tem
“ambient music”. Tem eletrônico. Tem influência
cubana. Tem samba, obviamente. Tem, enfim, tudo que
um disco precisaria para ficar insuportavelmente
heterogêneo e perdido. Mas em Momento Bebel
Gilberto conseguiu o quase inatingível paradoxo de
estabelecer a unidade dentro da diversidade. O disco soa
inexplicavelmente coeso.
Filha de João e da Cantora Miucha. Sobrinha de Chico
Buarque. Parece ser mesmo uma marca da família a
inovação musical, vertente que a moça explora
naturalmente. Se a “exportação” de Bebel Gilberto
poderá surtir efeitos tão positivos quanto a de seu pai, só
o futuro responderá. Se ela será uma nova Carmem
Miranda – não falo aqui da admirável mulher Carmem
Miranda, mas sim do fenômeno Carmem Miranda, que
distorceu, graças a Hollywood, a imagem da mulher e
da cultura brasileira –, espero que não: é preferível uma
discreta e autêntica elegância a uma extravagância
“industrial” cheia de terceiras intenções.
27
Como é bom saber que o Rio gerou Bebel Gilberto; que
o Brasil tem nela e em algumas outras boas cantoras a
possibilidade da eterna redenção de nossa grande
música; que Nova York tão bem tenha acolhido nossa
cantora morena, “repassando-a” para o mundo – ainda
que sob signos suspeitos de word music ou new bossa.
De toda forma, sua boa música faz bem para o Brasil,
assim como para os ouvidos globalizados e curiosos
mundo afora. E Bebel vai tranqüila e com seu estilo
autoral e único, reciclando sentimentos, conceitos e sons
com sua música calma e sofisticada.
28
Benito di Paula e A-ha
Talento e bom gosto não superaram o preconceito
Raramente – mas muito raramente mesmo – leio a
revista Bizz. Mas li muito nos anos oitenta. Às vezes,
hoje, leio os cadernos culturais dos melhores jornais,
mas leio pouco. Nunca li a Rolling Stone ou a Billboard,
pois meu inglês de ginasial não permite. A anunciada
edição brasileira da primeira eu ainda não vi. Às vezes
leio resenhas musicais na Internet. Meu negócio é
mesmo pegar e ouvir. Vou dizer. Em todos esses anos
vivi sempre uma sensação de estranheza pelo fato de
nunca ninguém, nenhum crítico musical desses veículos,
ter falado bem do grupo norueguês A-ha. Naquela
época (me refiro aos anos oitenta) era Echo and The
Bunnymen pra cá, The Smiths pra lá, New Order pra
cá, The Cure pra lá, Jesus and Mary Chain pra cá,
R.E.M. pra lá. Todos incensados pela crítica – esse
pequeníssimo grupo de pessoas que lêem as publicações
internacionais e ditam o que é bom e o que é ruim, a
quem eu sempre respeitei, com desconfiança, mas
respeitei . Depois, nos anos noventa era Rage Against
the Machine, Nirvana, Belle and Sebastian, The
Smashing Punpkins, Radiohead – todos muito bons,
admito, cada um a seu estilo. Estes também muito
29
elogiados Mas ninguém se dedicou a falar bem do A-ha,
que gravou excelentes discos nas duas décadas em
questão. Em 1986, irrepreensível álbum Scoundrel
Days mostrava o potencial artístico do grupo. Em 1993,
fez Memorial Beach, extraordinariamente bem gravado.
E fechou a década, lançando em 2000 o magnífico
Minor Earth Major Sky – sendo estes dois últimos
trabalhos,
inovadores,
porém
retumbantemente
ignorados. São discos surpreendentes pra quem imagina
que as músicas do grupo são todas iguais. E, apesar de
uma separação e de uma volta, no que eu saiba – eu, que
não participo de fã clube de ninguém – o grupo não
acabou não, ta legal?
Vou então falar mais do A-ha. Nas minhas contas, o
grupo gravou, de 1985 pra cá, oito “álbuns de carreira”.
Seus grandes êxitos comerciais foram o álbum de estréia
Hunting High And Low, de 1985, o já citado
Scoundrel Days, de 1986, onde o grupo abandona a
bateria eletrônica, e Stay on These Roads, de 1988.
Sucessos radiofônicos e televisivos, uma penca. Com
destaques para o primeiro sucesso “Take on Me” – onde
a banda mostrou-se ao mundo, e ao que veio – e para as
belíssimas baladas “Hunting High and Low” e “Say on
These Roads”. Mas há vários outros sucessos, que vira e
mexe ouvimos nas salas de espera da vida. E, com
certeza, ouvimos com prazer. E qualquer alma pura
ouve com prazer. Só que o mainstream e sua a crítica
especializada não são almas puras. E ai do crítico que
elogiar o grupo nórdico! E ainda: qual crítico de
caderno cultural, da alta classe média, vai admitir que
gosta da mesma música que a sua empregada. Hoje eu
30
já não tenho mais certeza, mas nos anos oitenta as
empregadas domésticas adoravam as baladas do A-ha.
Entretanto, quem pensa que eles só sabem fazer baladas
melancólicas ou “tecnopop” está redondamente
enganado – não parou pra ouvi-los.
E vou dizer: Morten Harket, vocalista do grupo, é a
mais bela voz de toda a música pop, e fim de papo. E o
engraçado é que compartilho dessa idéia com dois
amigos meus. O caso é que os noruegueses foram tão
massacrados que às vezes eu tenho que fazer uma autocrítica pra ver se eu não estou maluco ou não sou o
único a admitir isso – que Morten é o grande vocalista
vivo. Sua voz é doce, seu agudo é incomparável, seus
graves são sussurrados com cuidado, ninguém se
compara a ele.
Outro dia vi que Chris Martin, vocalista do Coldplay
disse ter o A-ha como sua principal influência. Aleluia.
Viva Chris Martin! E viva o Coldplay!
Mudando radicalmente de estilo – mas não de assunto.
Andei ouvindo Benito di Paula, que pra quem não sabe
ou nunca ouviu falar, é um cara que fez muito sucesso
nos anos setenta cantando sambas considerados bregas
pela elite ditadora da MPB. A palavra brega não existia.
Eu nem sei que palavra era usada. Só sei que era o cara
que as empregadas domésticas ouviam – além do
Robertão, é claro. Benito se apresentava – como ainda
se apresenta – sempre ao piano, com seu fraque,
normalmente colorido e com brilhos. Exímio pianista,
grande compositor, grande cantor, grande sambista.
31
Rompeu o estereótipo do sambista maltrapilho do
morro. Criou um repertório de canções eternas e de
indiscutível qualidade como, “Charlie Brown”,
“Retalhos de Cetim”, “Ah! como eu amei”, “Sanfona
Branca” – esta uma doce homenagem a Luiz Gonzaga
– , dentre inúmeras outras de uma vasta lista de
sucessos. Ouvia isso no toca discos Sonata portátil do
meu irmão e ficava maravilhado. Vou contar um
segredo. Choro quase toda vez em que canto “Ah! como
eu amei”. É a beleza musical pura. Ou, se não pura,
lapidada com maestria, ainda que o arranjo registrado
soe datado. Certamente a canção não deve nada aos
sambas-canção de Cartola ou Nelson Cavaquinho, que
foram homens verdadeiramente inspirados e talentosos.
Mas é triste ver que existe uma MPB e um samba que
vive de passado – e isso não é ruim ou pecado – onde
está incluído, por exemplo, Paulinho da Viola, que é
merecidamente respeitado pelo que fez nos anos setenta,
e um pouquinho nas décadas seguintes. Paulinho é
gênio indiscutível, embora não seja um bom cantor –
como todos sabem, mas têm vergonha de dizer.
Paulinho nem precisa gravar muitos discos. Está
decretato que ele é “o” grande sambista. O “triste” que
menciono é a injusta indiferença para com alguns
grandes sambistas do passado.
Chico Buarque, diferentemente de Paulinho da Viola,
não cessou de criar uma variedade de legítimas obrasprimas mesmo após os férteis anos setenta. Muito
embora saibamos que ninguém cantarola pelas ruas as
canções novas do Chico. Quando alguém pensa em
Chico Buarque, pensa em suas canções antigas, não tem
32
jeito. Canções como “Construção”, “Cotidiano” ou
“Apesar de você” – esta gravada também por Benito di
Paula, que ajudou a popularizá-la.
Pôxa. Se Paulinho da Viola e Chico Buarque (perdão,
meu inigualável e idolatrado Chico, o grande construtor
da música brasileira contemporânea) podem viver de
passado, por que Benito di Paula não pode? Qual o
problema? Mas é assim que está: Paulinho, com seu
casamento de samba com choro, não pára de andar nas
bocas. Os grupos de samba-choro espalhados por aí
tocam todo o repertório dele. Mas ele não passa no teste
da empregada. Não tem voz pra isso. E antes que
queiram me matar, já vou avisando: tenho dois CDs e
dois vinis dele e ouço de vez em quando, com muito
prazer.
Correndo por fora, no tocante a “status”, vêm grandes
artistas como Alcione, Beth Carvalho, Arlindo Cruz,
Jorge Aragão – este de obra respeitável, embora não
consiga cantar afinado nos shows – e o grande vendedor
de discos Zeca Pagodinho, entre outros. Estou falando
apenas de Samba. Como sou também preconceituoso,
não vou falar aqui “daquele” tipo de samba. Não que
falte talento a seus representantes. O meu desinteresse
vem pela repetição incessante de uma fórmula. Se bem
que o Raça Negra merece um parênteses (eles não
mereciam o desprezo que tiveram por parte da crítica
nos anos noventa, como se fossem culpados por vender
muito. Vejo no Raça Negra não um pastiche
empobrecido de samba com música romântica apelativa,
mas sim uma perfeita transposição do tipo de letra
33
simples, direta e compreensível que se fazia na Jovem
Guarda para o ritmo de samba. Foram espertos,
deslizaram no vácuo de outros artistas, mas foram
inovadores. Só hoje percebo isso). E os críticos sempre
às voltas com a “síndrome da empregada”.
Quem sou eu pra pedir que os cadernos culturais,
detentores do mais puro bom gosto e senso estético,
escrevam sobre Benito di Paula? Agora, o que não vale
é colocá-lo em evidência como o “sambista brega”, que
ele nunca foi. Benito foi uma figura ímpar no cenário
musical setentista, trazendo inovações à nossa música.
Ser eclético é praticamente uma necessidade do ouvinte
contemporâneo. Há muitas opções disponíveis no
mercado musical. Muito que se ouvir. E eu, tenho essa
dica. É para os ecléticos e saudosistas amantes de boa
música pop e de samba: ouçam os discos do norueguês
A-ha – não apenas os hits radiofônicos e os primeiros
discos, que é normal que já tenham enjoado, assim
como as deficientes coletâneas disponíveis no mercado:
se bem que não pode existir coletânea ruim deles – e
vão ver o que estavam perdendo. E, no caso do samba,
em vez de seguir a atual ditadura e o culto em torno do
batido e suspeito – ainda que bonito e respeitável –
“samba de raiz”, dêem uma chance ao enorme talento de
Benito di Paula, cantor e compositor nascido em Nova
Friburgo, longe dos morros e da periferia da capital,
ambientes tidos como “berços do samba”. Um cantor e
compositor “carioca”.
34
Bandinhas: ouçam “Cê”
Caetano nos faz voltar ao tempo em que um novo
disco de rock era sinônimo de frescor musical.
Dizem que a aldeia global preconizada pr McLuhan é
hoje um fato. Uma aldeia ou tribo tem seu líder. Hoje
parecemos carecer disso no campo artístico. E isso é
muito bom – já basta a besta protestante lá de
Washington com seu pretenso poder político. Em
termos culturais e artísticos, e, sobretudo em se tratando
de música, me parece que os caciques da música
cantada em língua inglesa começam a perder sua
hegemonia, e aldeões de diversos cantos dessa imensa
babel cantam o que bem entendem em suas diversas
línguas. Muitas vezes eles cantam rock. E o rock não
mais pertence, mesmo, aos fodões do norte – embora
eles o saibam ainda fazer, em alguns casos, muito bem.
Mas com a perda dessa exclusividade estilística deles,
os reis vão ficando cada vez mais pelados, e já é
possível vê-los com raio-X. Todo mundo já sabe
também que a música norte-americana – que já foi a
35
mais rica do planeta – e a inglesa há muito tempo não
são exatamente uma referência de qualidade.
Quanto à música que se produz no Brasil, já teve
períodos mais férteis, com certeza, mas não está
estagnada, e se mostra (não nas rádios e na TV aberta)
muito criativa e atraente e se propaga cada vez mais ao
resto do mundo – vide hoje Seu Jorge e Lenine. A
música de regiões fora do eixo Rio-São Paulo também
ganhou gás há pouco mais de uma década com Chico
Science, que abriu as portas ao regionalismo e sua
miscelânea, fazendo uma mini reedição da Tropicália.
Chico Buarque – que não pensa mais em música em
termos de inovação - nos brindou recentemente com o
lindo, lindo, lindo cd Carioca, e provou que vai bem das
pernas e da língua.
Mas e quanto aos novos? Cadê aquele novo cantor e
compositor que poderá salvar a música brasileira da
mesmice comercial em que se encontra. Aquele messias
capaz de vencer as barreiras da Globo e se mostrar aos
pobres e carentes ouvintes brasileiros sem ser
considerado brega e sem ser brega?
Os
“undergrounds”, os “alternativos” estão vivos, e sempre
estiveram, bem sabemos. E como seria legal se a boa
música, a boa, elegante e inovadora música pudesse
chegar a um número maior de ouvidos...
E o nosso “propriamente dito” rock? Fique claro: não
vou falar de bandas do nosso vasto e rico (e
impenetrável) underground. Bem. Tem Los Hermanos
com o seu 4, que é belo e inovador, embora melancólico
36
demais – o que não é um defeito. Skank mostra
“frescor” – o citado no subtítulo deste texto – em seu
Carrossel, que está extremamente bem gravado. Um
tanto retrô, na linha do anterior Cosmotrom, mas, como
este, bem bonito. Minha mãe adorou. Outros nomes do
nosso rock ostentam considerável qualidade técnica,
mas, infelizmente não parecem ter muita novidade a
mostrar. Pelo menos novidades que nos encantem.
E eis que nos chega ele. O consagrado músico
brasileiro, senhor de cabelos grisalhos, chamado
Caetano Veloso e lança Cê. Não há dúvidas: Cê é um
disco de rock. Com direção musical de Pedro Sá e
Moreno Veloso, o disco surpreende do início ao fim. Já
se usou a palavra “minimalista” para defini-lo, e pode
ser um pouco por aí, mas dizer-se isso é muito pouco.
Cê é praticamente um modelo para quem quer fazer
rock de qualidade, fora da prisão do virtuosismo técnico
que tem parecido ser um tipo de dogma para os jovens
músicos que compram as pedaleiras mais caras para
extrair delas, com suas guitarras não menos caras solos
mirabolantes “satrianescos” ou efeitos à la Korn – a
banda rap-metal (ou algo do tipo) de rapazes tatuados
até a alma, que os meninos adoram.
Caetano é o compositor surpreendente de sempre. Só
que agora rodeado de garotos que querem e buscam, em
consonância com o seu mestre, o diferente, o atípico.
Mas não se pense que Cê é só estranheza, ou que seja
um disco difícil. Os arranjos são “sofisticadamente
simples” e há músicas, de certa forma, previsíveis
também. A música “Rocks”, por exemplo, é um rock
37
comum e despretensioso. “Não me arrependo” é uma
lindíssima canção de amor que agrada a qualquer
ouvinte e cabe em qualquer coletânea ou rádio FM. Em
“Porquê” Caetano canta com sotaque português – coisa
que já fez em, pelo menos, duas outras ocasiões. Se bem
que aqui o buraco é mais embaixo: a frase “estou a vir’’
é repedida, inúmeras vezes, como em um poema
concretista, com o cantar lusitano – isso sobre uma base
jazística de extrema elegância.
O tratamento instrumental, com basicamente guitarra,
baixo e bateria é uma dos aspectos que mais nos
surpreende e chamam a atenção. E como isso é feito
lindamente... Não é som de garagem – está muito
longe disso –, apesar de cru. Mas digo que as bandas de
garagem precisam ouvir urgentemente este disco, e,
assim, terem uma aula sobre o que se pode fazer com
poucos instrumentos. “Tá ligado”? E, quem sabe,
entendamos todos que não precisamos mais nos
considerar órfãos dos nossos grandes roqueiros. Órfãos
de Raul, de Cazuza, de Renato Russo. Ou melhor, que
não precisamos de roqueiros, mas sim de músicos
versáteis que saibam, inclusive, fazer um bom rock.
Caetano carrega ainda o peso de ser ético e inovador –
coisas que ele é e sabe ser. Talvez isso até lhe doa,
como a dor cantada por ele no rap “O herói” (última
faixa do CD, e talvez a mais pungente) onde canta: “eu
sou herói, só Deus e eu sabemos como dói”. Essa é a
dor do personagem mulato pobre da letra, mas ali pode
estar subliminarmente exposta a dor desse compositor
que sempre conseguiu transformar o seu sofrimento na
38
mais instigante arte. Que é exatamente o que os grandes
artistas fazem. No final de um disco repleto de erotismo,
como é Cê, novamente pra nossa surpresa, fechando a
tampa desta caixa de jóias, podemos ouvir o músico
preocupado em questões sociais se manifestando poética
e plenamente.
Mr. Veloso agora bem que poderia, se quisesse, ser um
“godfather” do rock tupiniquim. O rock é nosso
(desculpem a paráfrase de “o petróleo é nosso”).
Ah. Dizem que Caetano anda ouvindo muito algumas
novas bandas de rock. E, a propósito: ainda não li
nenhuma declaração dele dizendo claramente que seu
disco é de rock. Pra mim é. E dos bons.
39
Que saudade da capa grande de
papelão
Internet reduz música a “apenas” música
É um contra-senso: usar a Internet – que tanto tem
ajudado na difusão musical de novos e velhos artistas –
para tecer críticas negativas. O título deste artigo
poderia ser também “A capa sumiu”. Explico. Após a
era de ouro dos singles surgiu o LP, e não tardou para
este se transformar em arte, mais do que apenas um
disco grande de vinil com uma capa mostrando o rosto
do cantor. O álbum – esta palavra começou a ser usada,
em inglês, obviamente sem acento, em meados dos anos
60 – “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band”, dos
Beatles, é tido como um divisor de águas para uma nova
fase da música pop, onde um disco não seria mais
apenas um disco. Ele deveria ter uma capa instigante
envolvendo arte visual. Deveria conter um encarte com
as letras. Deveria ser algo bom de pegar, bom de olhar,
bom de guardar, bom de mostrar com orgulho aos
amigos aquele objeto enorme que não cabia nas mãos.
Aí então veio o CD. Legal. Bonitinho. Bom de pegar.
Bom de olhar. Bom de guardar. Bom de mostrar aos
40
amigos. E o melhor: som límpido – na maioria das
vezes, mas nem sempre – e praticidade na hora de
selecionar as faixas que se quer ouvir. Mas com o
advento do CD a música pop, como arte pop, sofreu seu
primeiro golpe. Adeus capa do “Sargent Peppers...” (e
há inúmeras outras capas “intransponíveis” para o
formato pequeno, como “Phisical Graffiti”, do Led
Zeppelin). Como apreciar aquele belo mosaico, que já
causava confusão visual no tamanho original, agora
numa capinha de 12 centímetros?
É claro que vários artistas da era digital fizeram de tudo
para trazer arte para as capas dos CDs – às vezes com
bastante sucesso. Mas nunca se conseguiu reproduzir o
impacto de se pegar pela primeira vez numa loja a
enorme capa de papelão.
Entretanto, o golpe derradeiro na arte visual da música
viria com a Internet. Aí fudeu: adeus capa; adeus arte
visual. É ligar o E-mule – ou outro site/programa de
compartilhamento de arquivos –, baixar o que você
quiser e gravar num CD-R de um real. Pra mim é uma
pena – apesar de eu também me beneficiar disso. Mas
como fica aquela relação afetiva com as capas? Alguns
artistas da era do CD usaram bastante o papelão ao
invés do acrílico, como o Pearl Jam – que fez capas que
são pura arte. A capa das primeiras edições do
“Equilíbrio Distante” do Renato Russo (papelão
amarelo, com desenhos de Giuliano, filho do cantor):
como essa capa foi tocante pra mim... Renato estava
prestes a se despedir. E, depois, tocar naquela capa, logo
após a ida dele, fez-me sentir como se tocasse, de certa
41
forma, nele, o maior ídolo da minha adolescência. E
àquela altura eu nem era mais adolescente. Aquele disco
– com sua capa – ainda está, é claro, na minha estante. E
aqueles desenhos infantis ainda impressionam. Juliette –
minha filha, de quem já falei aqui no Crônicas Cariocas,
que ama música e capas de discos – tem a capa em
questão como a sua predileta. Mas, e agora, com essa
mania de baixar música da Internet, que capas eu vou
mostrar pra ela?
Algumas capas “intransponíveis” que (infelizmente)
diminuíram, e, agora (hiper-infelizmente) sumiram:
“Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” (Beatles);
“Physical Graffiti” (Led Zeppelin); “Houses of the
Holly” (Led Zeppelin); “Õ Blesq Blom” (Titãs); “Litle
Creatures”
(Talking
Heads);
“Encontros
e
Despedidas” (Milton Nascimento); “White Album”
(Beatles). Por quê? Não é só uma capa branca – o
álbum tem fotos excelentes e um encarte bem elaborad;.
“Led Zeppelin III” (Led Zeppelin); “Dangerous”
(Michael Jackson). Este, um vinil já da era do CD.
42
A sorte de um amor tranqüilo
Cazuza cantou o amor, o Rio, Deus,
e nos fez pensar e voar
É claro que vale a pena conferir o recente lançamento
do Dvd do Barão Vermelho, com Cazuza no vocal, no
memorável show de 1985, no Rock in Rio. O Rio,
grande palco do samba e da Bossa Nova – crias suas – ,
foi, naquele ano, o grande anfitrião do mais influente
ritmo musical do mundo, o rock. Além dos poderosos
gringos, os roqueiros tupiniquins estavam à toda. E
ninguém representava melhor o estilo, aqui no Brasil,
que a banda carioca Barão Vermelho. E isso se devia,
incontestavelmente, à hipnótica personalidade e talento
do seu líder, com sua beleza, seu tesão e com o frescor
inovador de suas letras. Este show do Rock in Rio é um
marco na história de música brasileira. Além da música
e do desbunde de nossa liberdade sexual tardia, havia o
calor e de uma sociedade brasileira ávida pelo direito de
ter eleições diretas para presidente. Quando o Barão
Vermelho tocou “Pro dia nascer feliz”, Cazuza fecha a
música com frases de otimismo sobre o futuro da nação
– foi algo arrepiante. Quem não viu, pode conferir
43
agora.Vinte e dois anos se passaram de lá pra cá, e a
marca daquilo parece indelével. Cazuza rendeu teses,
livros e, como todos sabem, um filme.
Às vezes penso que a cineasta Sandra Werneck, sem
querer, prestou um desserviço à imagem de Cazuza.
Muita gente gostou do filme – alguns muitos não –, que
mostra a trajetória do cantor, do final de sua
adolescência até a sua morte, com a doença. Dentre as
pessoas que aplaudiram o filme, podemos destacar a
própria Lucinha Araújo, sua mãe, a quem ele – como
vemos em uma das cenas do filme – mandou “tomar no
cu”. Sem moralismos: nada de mais um palavrão em um
filme – ainda mais em se tratando de um filme baseado
em biografia escrita pela mãe da pessoa retratada. Eu
mesmo me lembro de já ter dito “nomes feios” à minha
mãe. Discussão de valor à parte, pude observar um
fenômeno: conheço pessoas que eram “fãs” e perderam
a admiração pelo cantor-compositor-poeta após terem
visto o filme. A produção, tão bem cuidada, a direção de
fotografia, e a belíssima atuação do ator Daniel de
Oliveira não deixam dúvidas de que é um bom produto
cinematográfico. Entretanto, é natural que o público não
familiarizado com a biografia de Cazuza tenha se
espantado. Não é ainda considerado normal e
apropriado – mesmo nos dias de hoje, e mesmo numa
cidade cosmopolita – um jovem fazer tantas coisas
consideradas “imorais” ou inadequadas ao mesmo
tempo, como viver embriagado, usar drogas ilícitas em
quantidades cavalais, arriscar a vida numa ponte, trocar
dia por noite, transar com pessoas de “todos os sexos”, e
xingar a mãe. É muita coisa pra cabeça do cristão
44
médio. E há a agravante capital: as pessoas
normalmente dão tanto valor à vida dos artistas quanto à
sua arte, quando não mais à primeira. O fato de “Caju”
ter sido um dos maiores letristas da música brasileira de
todos os tempos, não faz com que ele seja amado como
um outro roqueiro de sua geração, Renato Russo.
Também bissexual, também usuário de drogas, também
temperamental e difícil, também vítima da Aids,
Renato, ao expor menos sua vida privada, acabou tento
melhor aceitação popular, facilmente comprovada em
números. É claro que o fato de algumas letras de Renato
Russo conterem uma sutil temática de “auto-ajuda”
(sem querer ser pejorativo, por favor) conferiu a ele,
muitas vezes, o status de “messias”. E quantos jovens
não passaram a ler a Bíblia, inspirados em letras como a
de “Monte Castelo”, “Quando o sol bater na janela do
teu quarto” e “Se fiquei esperando meu amor passar”,
todas do disco As Quatro Estações, de 1989? Bíblia,
Camões,
filosofias
orientais...
Algo
desconcertantemente novo e desbravador, e inspirador
de busca por literatura. A juventude brasileira, cristã e
não-leitora, parecia clamar por aquilo, o que recebeu
agradecida. Grande Renato Russo! Um dia após a morte
de Cazuza, no show da Legião no Jóquei Clube do Rio,
ele homenageia o “barão” cantando trechos de suas
canções e o chamando de “poeta” – naquela época, não
sei por que motivo, poeta era um adjetivo. Um elogio.
Quase um título de nobreza. Não era uma palavra
comumente usada para designar compositores e letristas
– com a exceção dos veteranos, como Caetano, e
antigos, como Vinícius. Neste mesmo dia, eu estava no
Canecão, com minha perna quebrada, assistindo ao
45
show de Oswaldo Montenegro. Eu, na verdade, preferia
estar no Jóquei, mas minhas condições físicas não
permitiram. Oswaldo também homenageou Cazuza
cantando e tocando, sozinho, “Bete Balanço” ao piano.
Foi bem lindo aquilo.
Cazuza e o Rio – Uma das
abordagens poéticas e críticas
sobre o Rio de Janeiro que mais
me impressionaram na vida foi
a letra de “Um trem para as
estrelas”. O filme homônimo do
Cacá Digues também me passou
isso. Adoro o filme. Mas a
canção é ainda melhor. A
imagem
de
um
Rio
pluricultural, “uma cidade de
cidades camufladas”, como na
música “Rio 40 graus” de Fausto Fawcet, cantada por
Fernanda Abreu. Tanto o filme como a canção “Um
trem...” são ricos e tristes. A letra diz: “estranho o teu
Cristo, Rio, que olha tão longe além, com os braços
sempre abertos, mas sem proteger ninguém/ eu vou
forrar as paredes do meu quarto de miséria com
manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério/ eu
vou dar o meu desprezo a você que me ensinou que a
tristeza é uma maneira da gente se salvar depois/ um
trem pras estrelas/ depois dos navios negreiros, outras
correntezas”. A crítica mordaz ao cristianismo
capitalista, aborda a pobreza, o racismo histórico e
outras mazelas das quais as metrópoles não puderam se
desvencilhar. É o Rio ruim. O mais carioca dos poetas-
46
cantores de sua geração não poderia deixar de cantar a
face cruel de um país, refletida no cotidiano de sua
cidade. Cazuza fez canções com crítica social como
poucos. O bom do Rio ele quase não precisava cantar:
suas músicas e, de certa forma, sua vida, foram outdoors de bela carioquice, estampando a cidade para o
Brasil. A carioquice boa, da malandragem charmosa,
elegante, de bem com a vida. Da modernidade.
Cazuza e o amor – O modo torto de viver o amor
encontrado pelo poeta está presente em vários pontos de
sua obra. É claro que suas canções de amor não são
predominantemente “tortas”. Mas vou aqui destacar
uma canção romântica revolucionária, e “torta”. Quando
Caetano Veloso gravou em seu disco ao vivo
Totalmente Demais a música “Todo amor que houver
nesta vida”, registrada originalmente pelo Barão
Vermelho, a indústria fonográfica e a crítica
especializada começaram a ver Cazuza com novos
olhos. A regravação de Caetano era um selo de
qualidade. É claro que o mainstream tem seus
“pauzinhos”. João Araújo, então presidente da Som
Livre e pai de Cazuza, fora um dos responsáveis pela
contratação de Caetano na época do “LP/movimento”
Tropicália, quando era executivo da Phillips. Teria sido
a gravação do cantor baiano uma retribuição? Bem. O
fato é que, tráfico de influência cultural ou não, “Todo
amor que houver nesta vida” é uma música e tanto. É
recheada de imagens poéticas inesperadas: “eu quero a
sorte de um amor tranqüilo...” (verso que remete a um
desejo de um relacionamento emocionalmente estável),
“...com sabor de fruta mordida/ nós na batida/ no
47
embalo da rede/ matando a sede na saliva” (aqui a mais
pura sensualidade), “ser teu pão, tua comida, todo amor
que houver nesta vida/ e algum trocado pra dar
garantia” (uma novidade na abordagem poética: uma
pessoa desejando amor e ao mesmo tempo dinheiro do
ente amado, numa sinceridade quase desorientadora
para os habituados a canções românticas convencionais.
O verso “algum trocado pra dar garantia”, é claro, nos
pegou de surpresa). Como ele consegui unir tão bem
cinismo e sinceridade em poesia... Esta canção é uma
das mais cultuadas de Cazuza. A bela expressão
“veneno anti-monotonia”, cantada também nela, virou,
muito mais tarde, título de um excelente Cd de Cássia
Eller, no qual a cantora regravou músicas do autor de
“Faz parte do meu show”.
Cazuza e o ocaso – O último trabalho de Agenor
Miranda de Araújo (nome de Cazuza) foi Burguesia,
que é, juntamente com A Tempestade, “do” (eu e
muitos preferem “da”) Legião Urbana, um dos mais
angustiantes e fortes “discos de despedida” – se é que
existe esta categoria musical – que já se gravou. No
disco, Cazuza grita por socorro, sensibilizando e
fazendo tremer o mais impávido e frio ouvinte. Se em A
Tempestade Renato Russo entrega seu corpo e sua
alma, no álbum duplo Burguesia, o que se vê é uma
pessoa lutando com todas as suas forças contra a morte.
Nesse aspecto do emocionante disco, que não é o
melhor de Cazuza, destaca-se a canção “Cobaias de
Deus”: “se você quer saber como eu me sinto, vá a um
laboratório, ou um labirinto/ e seja atropelado por esse
trem da morte (...) me sinto uma cobaia/ um rato
48
enorme/ nas mãos de um Deus mulher/ um deus de saia/
cagando e andando vou ver o E.T. (...) traga uma corda
irmão/ irmão acorda/ nós as cobaias vivemos muito sós/
por isso Deus tem pena e nos põe na cadeia/ e nos faz
voar dentro de uma cadeia/ nós, as cobaias de Deus/
nos somos as cobaias de Deus”.
É. Cazuza voou alto – ele quis assim. E, para isso, teve
que também fazer voar.
Certo dia, quando eu tinha 17 anos, na casa de um
amigo roqueiro, eu o perguntei se ele gostava de
músicas românticas, pois eu gostava, e nós
conversávamos basicamente sobre rock, sendo a palavra
“romântico” algo que soava brega naquela época. Era
quase uma heresia se declarar amante de canções de
amor. Desta forma, a minha pergunta foi tímida – eu,
um fã enrustido de Roberto Carlos, sendo vocalista de
uma banda rock, onde ele, o meu amigo, era o
guitarrista. Então ele falou que gostava. Idiotamente eu
estranhei, pois eu o via como um fã de rock, além de um
guitarrista de rock. Então ele tirou da sua estante o
primeiro LP solo do Cazuza e disse “– Eu gosto de
música romântica assim”. Aquele “assim” fez eu
entender melhor a música. Cazuza foi romântico até os
ossos, e o rótulo “roqueiro” era mesmo pouco pra ele.
Sua forma de descrever o amor, influenciou
profundamente toda a minha geração. De burguês
mimado a corajoso poeta romântico e social, é bem
provável que ele tenha morrido sem ter tido um “amor
tranqüilo”. Mas, cá entre nós: que poeta vai querer, de
49
fato, algo assim? Cazuza foi um anjo torto sobre a
Terra.
*
As 15 canções mais urgentes, viajantes e “voadoras” de
Cazuza (se não conhece algumas, procure): “Só as mães
são felizes”; “Um trem pras estrelas”; “O assassinato
da flor”; “Cobaias de Deus”; “Blues da piedade”;
“Todo amor que houver nesta vida”; “Bruma”;
“Filho único”;
“Boas novas”;
“A orelha de
Eurídice”; “Quarta-feira”; “Azul e Amarelo”;
“Como já dizia Djavan”; “Obrigado”; e “Ideologia”,
é claro.
50
Amantes do futuro
Da série “Canções incompreendidas”: Chico
Buarque canta os amores impossíveis.
"Não se afobe, não, que nada é pra já / O amor não tem
pressa, ele pode esperar em silêncio / Num fundo de
armário; na posta-restante / Milênios, milênios, no ar /
E quem sabe, então, o Rio será / Alguma cidade
submersa / Os escafandristas virão explorar sua casa /
Seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos / Sábios em
vão tentarão decifrar / O eco de antigas palavras /
Fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos /
Vestígios de estranha civilização / Não se afobe, não,
que nada é pra já / Amores serão sempre amáveis /
Futuros amantes, quiçá se amarão sem saber / Com o
amor que um dia deixei pra você.
Futuros Amantes (Chico Buarque
– “Paratodos”)
A primeira impressão que normalmente se tem desta
linda canção de Chico Buarque, é que se trata uma
canção de amor otimista em relação a amores difíceis. O
primeiro verso é o mais popular: "Não se afobe, não,
que nada é pra já...". Este verso, isoladamente, sugere a
51
possibilidade de um encontro futuro entre duas pessoas
apaixonadas. Estaria então o cantador pedindo, em tom
esperançoso, para que haja paciência. Mas logo depois
vê-se que o que está sendo relatado na canção não é um
caso de amor resolvido, ou que se possa resolver. Dizerse que um amor pode esperar em um fundo de armário,
materializado em foto, carta ou poema, não é
propriamente pessimista. O pessimismo esmagador
vem, sim, quando se fala do tal futuro onde poderá ser
finalmente encontrado este amor guardado: para nossa
surpresa, um futuro geológico. Um futuro onde o Rio de
Janeiro poderá estar submerso em águas. Um lugar
visitado por exploradores submarinos, que poderão,
casualmente, encontrar os registros do referido amor e
transformá-los em objetos de estudo arqueológico de
uma civilização extinta: a "civilização carioca". Mas
fica a expectativa, metafísica, de que ainda assim o
amor sobreviva e seja usado por amantes do futuro –
como se o amor fosse algum tipo de ferramenta
(material, energética ou cultural).
A canção é, portanto, a última canção que deve ser
usada por amantes que queiram, um dia, realizarem-se
em seu amor. É de fazer lágrimas irromperem. Mesmo.
Lembro com alegria de como amantes reais que um dia
conheci "viajavam" ao fazer suas análises sobre livros,
poemas, filmes, canções. A arte ganhava, entre eles
dois, uma ternura que a acrescentava poder. Este mesmo
poder que nutria a arte, lhes voltava também em forma
de energia. Eles alimentavam a arte e a arte os
alimentava.
52
Seu primeiro encontro relevante foi no colégio, durante
o intervalo entre aulas. Eles conversavam sobre
literatura – em especial o romance "A Insustentável
Leveza do Ser" de Milan Kundera. Ali nascia um
relacionamento bastante profundo. Tão profundo que
eles chorariam se pensassem na hipótese de um dia tudo
o que viveram – que foi pouco, mas enorme para
amantes – tivesse de ficar confinado no fundo de uma
gaveta, ou em outros ambientes de difícil exploração:
como à margem de casamentos bem sucedidos com
outras
pessoas.
Certo dia, quando seus pés tocavam as areias à beiramar, a moça pensou: "isto parece um sonho bom. Sintome mulher neste momento. Estou passeando ao lado do
primeiro homem que amei. E esta cidade é uma moldura
para nosso amor". Isto foi, mais provavelmente, em
l993. Era o ano em que Chico lançava o seu disco
"Paratodos". Uma das faixas do disco era justamente
"Futuros Amantes" e a moça ainda não conhecia a
canção, pois apenas a faixa-título tocava no rádio. Ele
também não conhecia. Mas um fato é certo: se
pudessem ouvir a música enquanto andavam descalços
na praia – como num vídeo-clip em tempo real – eles
iriam chorar.
Depois de Paratodos e da canção Futuros Amantes,
Chico Buarque continuou a compor obras primas de
poesia cantada, tendo como “fundo-paisagem” o nosso
querido Rio. É claro que o espantoso volume de grandes
canções compostas por ele nos anos 70, e a penetração
53
na mídia que elas tiveram, acabam por ofuscar sua obra
mais recente, o que é uma pena. Seu último trabalho –
“Carioca” – é mais um exemplo de um cd com grandes
canções cariocas, universais e de amor que, apesar de
bem recebido pela crítica e pelo seu público cativo, deve
mesmo passar depercebido pelo grande público.
Lamento demais por isso, pois penso que música de
elite não pode ficar restrita à “elite”.
54
Um Navio Chamado Djavan
Quanto querer cabe em nossos corações?
É uma coisa muito brega – o clichê dos clichês –
colocar nomes de artistas em filhos. Sempre achei. E
acabei colocando em minha filha o nome Juliette, por
causa da atriz Juliette Binoche, a quem adorei desde que
a vi pela primeira vez. Cafona por opção calculada. O
cantor Lenine, se chama Lenine por conta do pai
comunista, em homenagem ao grande líder da revolução
russa. Melhor ter o nome lembrado por referência a
Lênin do que por Stalin. O caso de Djavan é bem
especial. Eu acho. Sua mãe sonhara com um navio
chamado Djavan. E ponto. Ficou.
Eu tinha doze ou treze anos e cantava no banheiro a
música “Meu bem querer”. E chorava, sem saber muito
bem por que motivo. Deve ser porque sou um tremendo
chorão. Mas posso dizer que aquilo era algo
completamente novo pra mim. E parece que o novo me
emociona. Sempre foi assim. Esta canção foi gravada no
LP Luz. O vinil está agora, exatamente agora, nas
minhas mãos. É um dos discos preferidos da minha, não
muito pequena, coleção de vinis. É o primeiro disco de
Djavan a receber uma superprodução. A gravadora CBS
o levou para Los Angeles, onde o disco foi gravado e
55
mixado. Há aqui, pra quem não sabe, a “divina”
participação do “deus” Stevie Wonder, que dá uma
“canja” na faixa “Samurai” (“ah, quanto querer cabe em
meu coração...”), fazendo um solo de gaita – talvez o
mais lindo de sua carreira. Estou vendo a foto dele com
Stevie e as várias fotos do encarte. É muito engraçado:
Djavan não envelheceu. O disco é de 1982.
Lobão (meu amigo) disse outro dia que Lulu Santos é o
“penúltimo romântico”. Cada um é romântico à sua
maneira. É claro que estou tratando de romantismo de
fato. Romantismo sem-vergonha, de mercado, que nem
o desses caipiras que tem por aí, isso não conta. Eu não
conto. Me perdoem. Não é preconceito. É, sim, um
respeito ao verdadeiro “conceito” de romantismo. Eu
não gosto. Acho fake demais. Talvez algo pessoal.
Romantismo pra mim nunca foi isso. Em nossa música,
posso dizer que Renato Russo foi um exemplo de
grande romântico. Um romântico de verdade. Mas,
dentre os cantores-poetas vivos, o destaque é mesmo o
Djavan. Sua música, sua obra inteira transpira
romantismo. O cara é romântico até a medula.
Fuçando nas coisas que ele cantou é possível descobrir
pérolas. Outro dia conversando com um amigo
flamenguista, o Elano Ribeiro, lembrei da música “Boa
noite” – originalmente gravada no excelente álbum
Coisa de acender, que traz ainda “Se” e “Linha do
Equador”. Mas foi em seu álbum duplo Ao vivo que
tive maior contato auditivo com a canção. E o verso
“ainda bem que eu sou flamengo” foi o que mais
chamou minha atenção quando a ouvi pela primeira vez.
56
O tratamento funk dado a ela, disfarça seu poderoso
lirismo. Até o flamengo está ali de forma romântica.
Afinal, ainda mais hoje, ser flamengo é de um
romantismo considerável. Como é uma canção menos
conhecida, eu recomendo aos que não possuem a
gravação ou não deram a devida atenção, ou não a
conhecem. Não gaste dinheiro se não tiver: vá lá na rede
e baixe. Djavan, “Boa noite”.
Versos fortes – a canção em questão é pontuada de
versos poderosos como “nada que brilha cega mais que
o seu nome”, ou “por toda a selva do meu ser, nada
ficou intacto”, “não existe amor sem medo”, “vida foi
feita pra estar em dia com a fome”, e o derradeiro
“minha vida por inteiro lhe dou”. É um mosaico de
palavras belas. Quem estiver a fim de alguma garota,
pode usar a letra como cantada. Se a moça for
romântica, a chance de colar é grande. Mas tem que
estar a fim de verdade – não vá usar esses poderes para
o mal.
Djavan é poderoso. E oferece uma viagem como poucos
na nossa grande música podem oferecer. Isso por que
ele é muito grande. É isso. Amar e viajar no navio
Djavan.
Engraçado. Eu não conheço ninguém chamado Djavan.
Isso é surpreendente. Como os pais não pensaram
nisso... Alguém tem que tomar a iniciativa. Porra,
conheci dois caras chamados Elton John...
57
Recapitulando os baianos
DVD Outros (doces) Bárbaros foi além do
saudosismo
Certo dia, faz algumas décadas, Jorge Mautner disse a
Caetano Veloso: “Jesus Cristo foi o verdadeiro bárbaro,
pois com sua paz destruiu o império romano, como um
doce bárbaro”. Caetano gostou da explanação e,
inspirado nas palavras de Mautner, batizou o grupo
reunido em 1976, com Gilberto Gil, Gal Costa, e Maria
Bethânia – que foi quem havia feito o convite aos
amigos – de Doces Bárbaros.
Na ocasião, boa parte da imprensa comparava a
penetração de artistas baianos na capital carioca às
invasões bárbaras ao império romano do ocidente. É por
isso que há na canção “Os mais doces bárbaros”,
composta por Caetano, o verso “doce bárbaro Jesus”. O
motivo da presença de tal verso na letra só chegou ao
conhecimento dos companheiros baianos 30 anos depois
da sacada de Caetano e Mautner. Com esta revelação do
compositor, foi unânime o coro dos amigos: “eu não
sabia disso”, ao ouvirem Caetano a explicar como o
nome Jesus foi parar naquela letra. E, como um mentor,
58
que todos sabemos que, de fato, é, ele acrescentou,
dizendo a eles: “as coisas são profundas”.
Haja licença poética. É claro que não foi Jesus quem
destruiu o império romano. Assim como o termo
“invasões bárbaras”, para se referir à entrada gradual
dos povos germânicos nos domínios romanos já começa
a ser substituída pela expressão “migrações
germânicas”.
História universal à parte, é de se lamentar que o grande
DVD Outros (doces) Bárbaros – na verdade um filme
rodado em dezembro de 2002 com direção do cineasta
Andrucha Waddington – tenha tido tão pequena
repercussão. Ali está um dos mais belos reencontros já
registrados na musicografia brasileira. O filme mescla
ensaios, bastidores, entrevistas e apresentações ao vivo
realizadas no Parque do Ibirapuera e na Praia de
Copacabana.
Apesar do clima saudosista, os baianos (bárbaros)
estavam durante as gravações, sem dúvida, vivendo um
momento especialíssimo de suas carreiras naquele
começo de século 21. Difícil destacar um momento
especial de um filme tão grandioso. Gil encantou a
todos com sua composição inédita “Outros bárbaros”,
que fica mesmo sendo a canção central do projeto, pelo
fato de ser ela uma síntese da celebração do encontro de
1976, época em que os quatro jovens artistas gravaram o
disco em que fingiram ser um novo grupo – mais ou
menos como fizeram os Tribalistas recentemente.
“Outros bárbaros” é um dos mais belos sambas da
59
carreira de Gil e é carregada de referências importantes
para o quarteto. Uma pena não ter conseguido alcançar
popularidade – nesses tempos as grandes canções não
têm mesmo muita vez, ainda mais em se tratando de um
“samba-marcha”.
Estão ainda no DVD “Fé cega, faca amolada”, de
Milton Nascimento e Ronaldo Bastos; “Um índio” e
“Eu te amo”, de Caetano; e a maravilhosa, porém pouco
conhecida, “O seu amor”, de Gil.
Hoje, em 2008, o DVD vale, com certeza, muito mais
do que custa, pois sei que se pode encontrá-lo em
bancas de promoção de grandes lojas a preço de banana.
Se ele passou despercebido por você, e se, como eu,
gosta dos baianos, vá logo fazer essa reparação. Mas,
por favor, não vá comprar, por engano, um dos “Novos
Baianos” – que, claro, também é algo muito bom.
60
Os bons morrem jovens?
Da série “Entrevistas mediúnicas”, Renato Russo
fala sobre os dias passados, presentes e futuros
Na vizinhança de Cobain,
Lennon, Morrison, Presley e
Cia., Renato Russo, um dos
ícones máximos do rock
brasileiro – chegando a ser
comparado com Raul Seixas –,
o líder do (a) Legião Urbana
me falou, numa pequena
entrevista exclusiva via MSN
– e não me perguntem como
consegui isso –, sobre como tem visto o mundo, neste,
ainda, alvorecer do terceiro milênio. Ele, que não deu
muitas entrevistas na vida, nos brinda agora com
observações sobre comportamento, geopolítica, Barak
Obama e, claro, música.
Luciano – Começando por um assunto difícil, que foi
tema de diversas canções suas, quero citar um verso de
um dos heterônimos de Fernando Pessoa, o Ricardo
Reis, que escreveu: “morreste jovem, como os deuses
61
querem quando amam”. Como você cantou em Love in
The Afternoon, os bons se vão mesmo antes?
Renato – Todos os assuntos são difíceis. Os homens, na
verdade, respondem coisas com mais facilidade que os
anjos. Eu, que não sou anjo, não sei te responder se
Deus chama primeiro os bons. Eu pensava isso quando
escrevi esta canção. Eu relembrava algumas perdas
importantes e também estava comovido com a morte
recente de alguns amigos, como o músico Tavinho
Fialho. E pouco tempo depois que acabei de fazer a
música, teve a morte de Kurt Cobain, que eu acho que
foi um cara bastante puro e sincero. Então parece que
aquilo vinha confirmar a idéia de que os bons morrem
jovens. A vida é uma coisa muito dura e pesada, sempre
foi. E a morte? Passamos muito tempo da vida tentando
explicá-la em vão. Há grandes homens, homens bons,
que conseguem uma boa longevidade, eu sei. Mas há
uma coisa com as almas sensíveis e boas: elas não se
adaptam tão facilmente à vida nessa selva artificial que
os homens criaram. Não conseguem se adaptar bem às
desgraças deste mundo aí. Eu talvez me enquadre
também nisso. Mas não sei se o adjetivo “bom” é o mais
adequado pra pessoas como eu. De qualquer forma, não
sei responder a sua pergunta.
L. – Um presidente negro acaba de se mudar para a
Casa Branca. Em que você acha que isso vai repercutir
como ganho real para as próximas gerações?
R. – O fato de Obama ser negro não poderá fazer dele
um grande líder, embora isso aumente sua
62
responsabilidade. Falarmos hoje em raça negra é
também um erro. Raça humana é o que existe. No
entanto, o orgulho negro está presente na figura de
Barak Obama. Orgulho pode ser uma palavra feia em
diversos sentidos. Mas é algo inerente ao ser humano.
Admiro tudo o que os negros fizeram até hoje.
Construíram com seus braços as cidades ocidentais por
onde permeou toda a cultura que nos criou. Foram
geradores da riqueza que vemos. Eles fizeram na
verdade quase tudo o que temos na estrutura física da
nossa civilização com a força de seus corpos. E com a
força de suas mentes criaram coisas sem as quais eu,
Renato Russo, músico, não existiria: tais como jazz,
blues e rock-and-roll. Barak Obama nem precisa fazer
um grande governo, assim como o governo de Nelson
Mandela (na África do Sul) não foi impecável. O que
importa é isso aí: um homem de pele negra no poder,
pra levantar a auto-estima das pessoas com essa cor de
pele, que tanto sofrem preconceitos e discriminação em
todo o planeta. E o cara acaba sendo um tipo de
representante de todas as etnias discriminadas. E não só
das etnias, mas de todos os rejeitados. Não que ele vá
ser um salvador. Contudo é, com certeza, um grande
passo. Teremos, bem provavelmente, um dia um
presidente americano gay. E nunca poderá importar se
os políticos do século XXI serão negros, se haverá gays
ou mulheres presidindo os Estados Unidos – e eu tenho
certeza que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
Vale saber se a pessoa será honesta, inteligente,
equilibrada e bondosa, pois isso é o que vai importar. Eu
jamais poderia ser um presidente, pois não sou uma
63
pessoa tipicamente equilibrada, inteligente e boa. Estou
muito feliz, sim, com a posse do Obama.
L. – E quanto à política no Brasil?
R. – O Brasil atual, com seus políticos, me deixa
confuso.Tenho mesmo que falar sobre isso? Sabe como
é? Ficam esperando que eu diga coisas relevantes.
Sempre ficaram esperando por isso: que eu viesse a
dizer algo que pudesse construir – veja que coisa – a
opinião de alguém ou algo assim. É obvio que eu e
muitos outros da minha geração tínhamos em
determinado momento a pretensão de mudar o país e
mudar mundo. Mas qualquer mudança a nível global,
nacional, na nossa rua, na nossa casa, deve passar antes
por uma mudança dentro de nós mesmos. E é
impossível, no curto tempo de vida que temos na Terra,
podermos
observar
qualquer
mudança
mais
significativa. A alma humana é muito dura – mais dura
que o corpo.Toda mudança em grande escala é gradual e
demorada. O que a juventude sempre teve é pressa de
ver tais mudanças. Isso frustrou os jovens, que
esperavam ver a demonstração do seu poder de forma
mais visível, com resultados mais visíveis e imediatos,
sabe? Mas, ao contrário, quando ocorre uma grande
mudança, uma mudança mais rápida, logo depois se
presencia um retrocesso. É assim mesmo. Contudo é
importante que os jovens não percam essa vontade de
mudança coletiva. Pensar só no individual é algo
desumano. Nas minhas letras eu sempre transitei entre
as pretensões individuais e coletivas. Sempre fui
naturalmente egoísta na minha escrita, assim como
64
sempre tentei dar voz à juventude sem voz. Em várias
letras minhas há eu e mais um monte de gente sendo
representada. E muitos artistas fizeram isso, não apenas
eu, obviamente. O problema esteve no exagero com que
eu fui abordado, principalmente depois do disco As
Quatro Estações, quando teve gente me chamando de
messias. Um horror. Eu nunca quis essa
responsabilidade. Minha vaidade às vezes até me fez
pensar em alguns momentos que eu pudesse ser uma
espécie de novo Bob Dylan, ou de Bob Dylan brasileiro.
Pôxa! Nem o Bob Dylan agüentou essa barra de ser
“porta-voz” de uma geração. Ele repudiou esse posto
que conferiram equivocadamente a ele. Gosto de
conversar sobre política. Mas não gosto tanto de me
posicionar publicamente sobre o assunto, pois ainda
estou formando minha opinião a respeito de vários
temas. Acredito que os jovens têm a necessidade de
errar. E quando falo “jovens” eu não estou dizendo só
adolescentes. Estou me referindo a toda a população
mais jovem, entende? Às pessoas ativas e em formação
intelectual.
L. – Mas você tem consciência de que foi um formador
de opinião.
R. – Cara, eu tive a sorte de poder fazer contratos com
uma boa gravadora que me permitiu me expressar
através de minha música. Então eu usei essa música
como qualquer artista usa sua arte pra poder dialogar
com o mundo. A resposta que se tem é proporcional ao
tamanho da exposição que as músicas tiveram nas
rádios e nas lojas. Minha arte foi feita pra vender. E,
65
com isso, me dar a possibilidade de dialogar com o
maior número possível de pessoas. Minha música não
me deixou rico. Bem longe disso. Consegui status. E
nunca usei meu status pra posar de santo. É um trabalho
artístico o que fiz, um bem cultural, só. Tão importante
quanto o trabalho de um pedreiro. Quando vejo uma
letra minha num livro didático escolar eu fico até um
pouco preocupado. Mais preocupado que envaidecido.
Pois as letras nem sempre são usadas no contexto que eu
gostaria. Que País é Este é uma recordista nisso, não é?
E nem é uma letra tão boa. Uma letra punk comum. Foi
uma letra de revolta, natural. Não é tão aplicável e
verdadeira, da forma como muitos pensam que ela seja.
Afinal, há quem lute para respeitar a constituição deste
país. Há homens públicos honestos.
L. – Você certa vez declarou que, do repertório da
Legião, não gosta de Depois do Começo. Porque você
disse que ela é pretensiosa e babaca? Sabia que muitos
fãs adoram esta música?
R. – Depois do Começo é uma canção feita de códigos
indecifráveis. Alguns são indecifráveis até mesmo para
mim, eu confesso. Moramos – veja eu falando como se
ainda morasse aí – num mundo ocidental cristão, num
continente cristão, num país cristão com famílias cristãs.
Minha família, por exemplo, é católica, bastante
religiosa. Toda a religião é feita de símbolos. Alguns
deles são lindos, outros menos. É tolice lembrarmos
apenas das mazelas proporcionadas pela religião. Há
outras instituições bem mais claramente corrompidas do
que a igreja. Com certeza, alguns integrantes dos Titãs
66
também devam ficar incomodados com a música Igreja,
que está no álbum Cabeça Dinossauro, que tem versos
como “eu não gosto de Cristo”. É um posicionamento
punk que eu até acho válido. Só que acaba trazendo
desconforto às pessoas erradas, que não são o alvo da
crítica. No caso da música do Legião, me traz
desconforto ouvir minha voz cantando um verso como
“Deus, Deus, somos todos ateus...”. É claro que minha
família não gostou. Provavelmente o jovem que curtiu
Monte Castelo também não gostou da letra de Depois
do Começo, embora eu tenha explicitado que se
tratavam de códigos fechados, e tal. Nem tudo ali é um
convite à loucura de se brincar com a inteligência das
pessoas que ficam tentando decifrar a letra, o que não é
muito legal. Há coisas positivas em forma de mensagem
implícita. Apesar disso, no geral, é uma canção
negativa, que nada acrescentou à minha obra. Agora,
quem gostou, que continue apreciando. Ela tem uma
levada boa, eu sei. E no tocante a eu ser ou não ateu,
como a letra pode sugerir no tal verso, eu também não
tenho como te responder isso. Toda a construção das
línguas e da cultura ocidental não conseguiu clareza
numa definição do Deus cristão. Para eu te dizer se sou
ateu ou não, nós teríamos que entrar numa longa
discussão sobre o que se entende por Deus, como fez
certa vez Russel com um padre. Aqui onde estou não
falamos sobre Deus. Não pensamos nisso. Pensar ou não
em Deus não faz muita diferença num lugar como esse
aqui. Mas, no geral, não pensamos.
L. – Quanto à sua canção preferida, você certa vez
declarou ser Giz.
67
R. – Ah, isso eu não penso mais. Não tenho mais canção
preferida. Disse aquilo em um determinado momento
em que aquela estética me agradou mais que outras.
Fiquei sabendo que as preferidas do meu filho são
Vento no Litoral e Perfeição. Eu poderia ficar com
estas então, pois são canções das quais eu me orgulho
mesmo de ter feito em parceria com meus amigos,
embora eu saiba que ele, Giuliano, vai ter outras
preferências com o tempo. Mas Faroeste Caboclo é
bastante especial, é rica e vibrante, e só foi possível
graças àquela energia juvenil da qual eu estava
impregnado. Quando ouvi minha mãe outro dia falar
num programa de televisão sobre os “cavalos marinhos”
da letra de Vento no Litoral, explicando à apresentadora
que aquilo era uma alusão à minha homossexualidade,
pois o cavalo marinho tem a característica de o macho
dar a cria no lugar da fêmea, eu pensei: minha mãe me
admirou e me respeitou exatamente como eu fui. É esse
tipo de coisa que filhos e pais precisam ter. Reconheço,
entretanto, que a barra é pesada, e colocar comida na
mesa já é tão difícil... Não se pode esperar que haja nas
famílias tempo para se refletir sobre a homofobia. Não
dá pra conversar sobre isso numa mesa de jantar com
toda a ponderação possível. Todos trabalham, estudam...
Os horários são diferentes... Uma luta muito difícil pra
todos. As famílias não dispõem de tanto tempo pra
refletir sobre assuntos complexos. Os seres humanos
vão aprendendo, sofrivelmente, com seus erros, dando
cabeçadas. Não tem outro jeito.
L. – Em suas entrevistas você sempre falou bem pouco
de sua vida pessoal, bem pouco sobre sexo e sempre
68
usou muitas referências a outros artistas. Chegaram a
dizer que você falava em terceira pessoa.
R. – Minha vida íntima não é mais interessante que a
sua, nem que a de ninguém. Minha queixa sempre era o
fato de perguntarem pouco sobre as letras e sobre os
discos em si. Sexo? Bem... Sexo é algo do qual também
pouco falamos por aqui. Aqui simplesmente fazemos.
Estou desacostumado mesmo a falar de sexo e não me
sentiria preparado pra te dizer algo. Fico bastante triste
em ver as pessoas que não são felizes com o sexo – e
isso que dizer quase todo mundo. Há os que não
conseguem serem felizes com o sexo. Há os que não
fazem sexo. Aqui este problema não existe, ou existe
em menor grau. Acho que pelo motivo de que as coisas
neste lugar sejam tratadas com mais simplicidade. No
entanto eu não gostaria que ninguém tivesse pressa em
vir pra cá, a fim de resolver este problema do sexo. Há
outros problemas aqui. Tem que haver problema, pois o
bom de viver é estarmos sempre tentando resolver um
problema. Sei que o sexo é o grande tema da
humanidade. E não sei mais sobre o assunto agora do
que sabia quando esta entre vocês. Não sei o que eu te
responderia se me perguntasse se sou gay, por exemplo.
E sobre eu fazer muitas citações: os artistas que
costumeiramente eu citava foram minha referência
cultural. É isso que todos fazemos, não? Falamos da
nossa cultura. Uma coisa, porém eu corrigiria: falaria
um pouco mais dos artistas brasileiros que me
influenciaram. No entanto é inegável que rock
internacional é mais importante pra mim do que o
samba e a tradição musical brasileira. Digo pra minha
69
formação, e até mesmo pro meu gosto. Apenas neste
sentido, de ser algo que me diga mais. Mas gosto de
muitos sambas também. A música do Legião tem alguns
elementos de samba.
L. – Você é otimista com o Brasil?
R. – Veja bem: no fundo não existe Brasil. Isso de
nação e país são invenções. O que existem são humanos
com territórios mal cercados. As culturas, no entanto,
são muito parecidas. Os problemas também. Quanto aos
habitantes deste território sob este Estado brasileiro,
vejo pra essa gente um futuro otimista, sim. Não um
céu, pois é algo que não existe. Nem tampouco um
inferno, que é outra lenda. O Brasil é amador. Isso pode
até vir a ser uma vantagem sobre alguns Estados velhos.
O problema é que o hemisfério sul todo é uma vítima
histórica do Mercantilismo e do Capitalismo. Sair dessa
condição de vítima não é fácil. A alegria do povo
brasileiro – que não é felicidade – mascara um estado de
opressão a que o povo é submetido. Mas com as armas
de
que este povo dispõe... A melhor arma acaba
sendo mesmo a paciência. Não a paciência de uma vaca
num pasto. Paciência aliada à honestidade e, sobretudo,
à criatividade, pode ser um grande instrumento. No
longínquo dia em que não houver mais fronteiras
nacionais, os homens e mulheres terão resolvido metade
dos seus problemas. Todos não dá. Nem aqui temos
tudo resolvido. Se aqui estivesse tudo resolvido já
teríamos dado um jeito de resolver os problemas daí
também. A morte resolve todos os problemas. Se não
existe morte, é sinal que sempre existirá problema.
70
Embora eu não saiba se exista ou não vida depois da
morte. Eu não posso afirmar com certeza se este lugar
onde estou existe ou se não passa de um programa
sofisticado de computador.
L. – Quanto tempo acha que levaremos pra nos
tornarmos uma nação próspera e igualitária?
R. – Não dá pra saber isso. Mas, com certeza, ainda
nesse terceiro milênio. Você não deverá presenciar.
Prepare sua filha. E a peça para que prepare o filho dela.
Tudo vai depender dessa preparação contínua. Preparar
é tão bom quanto ver a coisa pronta. Aliás... A “coisa”
nunca está pronta. A preparação para a construção de
um mundo melhor já torna o mundo melhor, embora
haja dor nesse processo que também deve ser visto
como prazeroso.
L. – Que tipo de música você tem ouvido? Tem escrito
alguma?
R. – A música daqui é meio chata. Então ouço mais
música da Terra. Há muita gente nova boa. Acho que
vocês são meio intolerantes com os novos. Quando eu
estava aí eu também valorizava mais os antigos. É
natural. Não vou citar ninguém pra não ser injusto com
outros. Por favor, ouçam mais as coisas novas. Não é
pra adorar e colocar pôster na parede. Apenas ouçam
com alegria.
L. – Você já pode conversar com algum músico
importante por aí, como o Lennon?
71
R. – Sim, sim. John faz uns pães deliciosos. Que
cheirinho bom tem a casa dele... Um quintalzinho com
uma horta orgânica. É um homem feliz. Curiosamente,
os que eram mais inquietos quando habitantes da Terra,
chegando aqui acabam tornando-se os mais tranqüilos.
Aqueles que eram mais paradões, não sei porque,
chegando aqui se estressam.
L. – Quem mais tem visto?
R. – Muita gente boa. E aguardando outros, claro.
L. – Como, por exemplo, Dylan?
R. – Nem me diga, cara. Quando eu vi o jornalista e
escritor Eduardo Bueno falando que morou uns tempos
na casa do Dylan eu senti uma ponta de inveja. Bob
Dylan só não vai ser recebido com festa, porque o
pessoal por aqui não é disso.
L. – Obrigado, Renato.
R. – Foi um prazer.
72
Da série “Grandes cantores
incompreendidos pela crítica”.
Fábio Júnior namorava a coroa?
Então eu me perguntava naquele momento da minha
vida quando eu não passava de um adolescente imberbe
e confuso – e apesar da barba as coisas hoje não
mudaram tanto: se Fábio Júnior canta melhor que
Roberto Carlos; toca melhor; é mais bonito; porque
motivo então não é ele o “rei”? E não parava por aí.
Fábio Jr. demonstrou ainda ser um ótimo ator – seu
desempenho dramático no filme “Bye, bye, Brasil” de
Cacá Diegues e, posteriormente, nas novelas, onde
trabalhou muito bem – sobretudo naquelas em que fez
papéis cômicos – tiram a possibilidade de
considerarmos Roberto um ator, como pode este ter
pretendido ser durante a Jovem Guarda com os 3
filminhos que protagonizou. Eu até que gosto bastante
daqueles filmes; muito mais por nostalgia que por
alguma qualidade artística. Para a época, foram bem
produzidos: e só.
Daí eu questionava a posse da coroa. E olha que eu
ouvira Roberto Carlos durante toda a minha infância. E
73
amava Roberto. E cantava várias músicas suas. Só que a
chegada de Fábio Jr. no grande mercado foi, pra mim, e
pra muitos brasileiros, um estrondo. Duas canções
foram de profundo impacto nacional naquele fim dos
anos de 1970: “Vinte e poucos anos” e “Pai”. “Vinte e
poucos anos” fazia refletir, com a sinceridade e
coerência de um jovem compositor que cantava
“...quero saber bem mais que os meus vinte e poucos
anos”. “Pai” – tema da novela Pai Herói – fazia chorar.
Quem tinha pai chorava. Quem tinha pai morto chorava.
Quem era filho de pais separados – algo já em voga na
transição dos 70 para os 80 – chorava. E até filhos de
mãe solteira, como no meu caso, choravam. Ali estava
uma das mais tocantes músicas da história do
cancioneiro popular brasileiro: “...pai/ você foi meu
herói, meu bandido/ hoje é mais, muito mais que um
amigo/ nem você nem ninguém tá sozinho/ você faz
parte desse caminho/ que hoje eu sigo em paz”. Emoção
à flor da pele dos mortais. E também os recursos vocais
usados por Fábio na canção “Vinte e poucos anos”
fariam – e devem ter feito – Roberto tremer na base.
Aquele falsete no final das frases Roberto não sabia
fazer. E aquilo era lindo.
Os anos passavam com calma e Fábio expunha obrasprimas em série. Seu repertório trouxe a sensualidade
“rasgada” de uma canção como “Enrosca”. Melodias
rebuscadas e romantismo não óbvio em canções como
“Senta aqui” e “O que é que há”. “Seu melhor amigo”,
anterior a essas, já anunciava o que ele faria com o
modelo “canção romântica”.
74
Olha. Se eu não conhecesse um pouco o editor desta
revista, talvez eu não tivesse coragem de enviar-lhe um
texto sobre Fábio Júnior, com a proposta de uma foto
sua estampando a matéria. E pior: falando bem do
cantor. Este é um caso clássico de sacrilégio, de
“heresia estético-jornalistica”. Quase que um pecado
capital. Não é comum na imprensa dominante falar-se
bem de Fábio Júnior. E “ai” de quem fizer isso. Mas a
crítica musical burguesa fez muitas outras vítimas: de
Benito di Paula a Kid Abelha. Nem Lulu Santos
costuma sair incólume. E sabemos que há artistas por aí
gozando de pleno prestígio no meio jornalístico musical,
mas que não são capazes de encher um Cd com uma
coletânea de 14 sucessos. Eu não gostaria de citar
nomes. Mas, quantas músicas se conhece de Ed Motta,
por exemplo? Sou um fã de Ed Motta, preciso que
saibam. E ainda mais sou fã de Roberto, que é o oposto
extremo deste exemplo, por favor. E ele pode ficar, por
mim, à vontade com a sua coroa, pois isso não vai
prejudicar em nada a música popular brasileira. Embora
saibamos da bobagem que é esse papo de “rei”. Quem
ainda não se tocou, pelo menos desconfia que isso é
uma bobagem. Antigamente o “reinado”, ocupado hoje
por Roberto, chegou a ser disputado com Ronnie Von,
que foi logo rebaixado a príncipe. Ronnie Von tem
gravações de grande qualidade, saibam.
Monarquia à parte, é bem verdade que a carreira de
Fabio Jr. tenha descambado para algo, digamos, um
tanto informe e, até mesmo um tanto vazia nos últimos
15 anos. Ma sua voz continua excelente e eu espero por
sua redenção e dou toda a força. Muito embora ele tenha
75
um público que nunca o abandonou. E peço a vocês,
ouvintes mais refinados: ouçam o Fábio Júnior, quando
puderem, com mais atenção, e com o coração aberto,
e... respeito às suas grandes canções – e não são poucas
as que se enquadram na categoria de grandes canções. E
considerem que o próprio Robertão já deixou de fazer
coisa boa há uns bons vinte e poucos anos.
76
O Fantasma de John Lennon
Ou Yoko Ono, a Bruxa
Não é lançamento, não – até porque eu não fico preso a
lançamentos nessa coluna (meu editor me poupou
dessa). Mas eu recomendo, pra quem ainda não viu, o
dvd “Lennon Legend – The Very Best of John
Lennon”. É uma compilação de clips montada e
produzida em 2003 (portanto recentemente), a partir de
filmagens “oficiais” do cantor (como as extraídas do
filme “Imagine”, e, outras, dos arquivos da EMI,
inéditas) e de imagens do arquivo pessoal da viúva
Yoko Ono e de colaboradores. Não pense em ver
videoclips como os atuais. O que se vê não é um
exercício de estilo, e sim a alternativa de registrar
digitalmente gravações extremamente simples e belas
do casal Lennon, com as canções remasterizadas. São
imagens de um dos mais influentes casais do mundo
pop, em meio a sua arte, seu cotidiano, sua vontade de
aparecer – claro – e a bela música que os embalava. É
reflexão para os olhos e deleite para os ouvidos. Quem
já é fã e não conhece esta coletânea, vai ter nela
pequenas, sutis e gratas novidades.
77
Minha esposa não agüentou assistir tudo, pois sempre
chora muito quando vê Lennon. Não consegue admirar
a arte dele sem pensar em sua morte trágica e precoce.
Ela, como a maioria das pessoas que conheço, não gosta
da Yoko. Acha que ela é uma bruxa que arruinou a vida
do pobre e inocente John.
Eu penso diferente. Sempre admirei a face feminista
dele – e nisso seu respeito e “devoção” a Yoko. Pop-star
rico e amado, alvo das atenções, poderia se casar com
uma princesa ou com uma bela atriz de cinema. No
entanto, fechou os olhos para os padrões estabelecidos e
se enamorou de uma artista oriental que ninguém acha
bonita. Seis anos mais velha, a artista plástica japonesa,
entre uma ou outra briga ou breve separação, esteve
junto a Lennon até o dia de sua morte, em dezembro de
1980. E estiveram mesmo juntos – e juntos mesmo.
Minha filha, que assistiu ao dvd duas vezes comigo,
disse: “como eles dois gostavam de passear de mãos
dadas...(!)”. John amava Yoko. E ponto.
A essa altura, algum beatlemaníaco já deve estar me
chamando de idiota, dizendo que “todos sabem que a
japonesa foi uma oportunista”. A mim isso, em
princípio, não importa. Me importa mais o fato de que
um dos maiores homens do século vinte – que
obviamente não era um santo; como Che Guevara e
Gandhi também não eram – ao se casar com uma
japonesa feia, e junto com ela produzir arte, mostrou ao
mundo várias coisas: que é possível o desapego a cruéis
padrões estéticos que escravizam mulheres e homens; o
fato de que marido e mulher podem “trabalhar em
78
equipe”; que um homem caminhar com sua esposa por
um parque espalha pelo chão sementes de amor.
Tudo bem, fiquei piegas. Vejamos então a algo
negativo para balancear. Há cenas de mau gosto em
alguns clips do dvd em questão. Como no clip de
‘Woman”, onde, num momento, é mostrada a
contracapa do disco “Imagine”, em que há o perfil de
Lennon como que deitado no chão, sendo essa imagem
sucedida por uma foto dele morto, na mesma posição. É
de extremo mau gosto. Mórbido pra caramba. Aliás este
não é o único momento em que se faz referência à morte
do beatle. Não é à toa que Mary, minha patroa, chorou.
E tem umas coisas meio estranhas na vida da Yoko.
Essa coisa de não se cansar de explorar a morte do
marido é muito chata. Já basta alguns cristãos que
preferem falar da morte de Jesus do que de seu exemplo
de vida. Guardando-se as devidas proporções, é por aí.
Certa vez – deve fazer uma meia dúzia de anos – Yoko
pôs em leilão uma foto dos óculos quebrados de John,
sujos de sangue. Eu não sei, mas me parece que o
sangue era montagem. Fiquei perplexo na ocasião e
extremamente decepcionado com a viúva. Eu, que
sempre a defendera. Vou dizer uma coisa: aquilo ali
ficou muito próximo de um vodu. E pra quem a
considera uma bruxa...
Há ainda as suspeitas de que Lennon, o pacificador, na
sua posição de milionário e – como eu – simpatizante do
comunismo, tenha financiado guerrilhas na década de
70. Dizem que a CIA investiga isso até hoje. Gilberto
79
Gil e João Donato escreveram: “...que contradição/ só a
guerra faz nosso amor em paz”. Pois é. De volta a Che.
Até este – que é um símbolo para os neo-comunistas
como eu – matou ou comandou a morte de, pelo menos,
duas mil pessoas. Gente: não há santos. Nem nunca
houve. Há fantasmas. E o de John Lennon não pára de
assombrar, acredito e espero que de forma positiva, o
mundo de hoje.
Ouvindo uma das melhores bandas do momento, o
Arctic Monkeys – que eu estou adorando ouvir –, vejo
como o fantasma de Lennon age no rock atual. O
vocalista tem a voz muito parecida com a de John. Eu
achei. Alíás, o som deles é bem Beatles. E são muito
melhores que o Oasis – cujo vocalista imita e cultua o
falecido.
80
Cobain de carne o osso
Filme traz um artista que ninguém viu
Que carta de despedida de Getúlio Vargas, que nada. O
que poderia superar, em se tratando de cartas suicidas, à
que Kurt Cobain, o maior ídolo da música pop dos
anos noventa, escreveu para o seu amigo imaginário
Bodah?
81
Últimos Dias, lançado agora em dvd, é um filme que
não deveria passar despercebido. O Diretor dado a
estranhezas, Gus Van Sant (o mesmo do ótimo
Elefante), colocou na tela seu filme mais lento,
monótono, esquisito, chato, e... belo. Belo é uma
palavra que resume bem a coisa.
Mas há um tremendo porém: poderá ser considerado um
filmaço para quem foi fã de Kurt Cobain e acompanhou
aquele grande momento de efervescência e
renascimento do rock, ou seja do “hard-punk-rock”,
carinhosamente apelidado de grunge. Mas o espectador
vai precisar de algo mais: talvez um gosto por filmes
europeus ou orientais – que é o que este aqui lembra.
O roteiro é estreito como um pentelho louro de uma
moça sueca. Baseia-se no seguinte: o super astro do
rock, Blake – nome fictício dado a Cobain – vive seus
dois últimos dias de vida em sua mansão e arredores,
imerso em profunda solidão voluntária. Há amigos na
casa, mas ele é essencialmente só. No ímã da geladeira
um recado dizendo “a arma está no armário do quarto”.
Além do mérito, e bom senso, de não pretender trazer
minúcias investigativas sobre a morte do roqueiro, o
filme traz, principalmente a ótima atuação do ator
Michael Pitt (de Os Sonhadores), que não poderia estar
melhor caracterizado. O ator praticamente não fala,
apenas balbucia. Mas como convence... Apesar de um
roteiro tocado de forma excessivamente lenta, na
fotografia o filme encanta. Cada fotograma poderia ser
exibido em uma exposição de rock. Em muitas vezes no
82
filme, diante da câmera parada, como a de um fotógrafo
– e não de um cinegrafista – podemos notar como foi
feliz a composição do ambiente. Isso salta aos nossos
olhos – ainda mais quando assistimos pela segunda vez.
A cena da morte do cantor é também digna de nota. É
poética. A tragédia não é, em nenhum momento,
explorada como espetáculo.
Entretanto, se você não curte Nirvana, nem filmes
lentos, fuja deste aqui, e vá alugar Piratas do Caribe 3.
E vá comer pipoca com sal e glutamato.
83
Dinossauros voadores
Que mundo aguarda a volta do Led Zeppelin?
Idos de 1987. Lá estava eu
em
casa,
em
minha
interminável jornada musical
e (auto) sexual. Foi quando
me chega um amigo com
uma misteriosa caixa preta de
plástico, emprestada de outro amigo. O conteúdo? Os
cinco primeiros discos do Led Zeppelin. Da banda eu
só conhecia até então – além da capa do primeiro LP
(aquela que tem um Zepelim pegando fogo) – as
canções “Stairway to heaven”, “Rock’n’roll”, “Whole
lotta love”, “Kashmir” e “All my love”, músicas
gravadas em períodos distintos. Mas, de todas estas, só
mesmo a primeira eu seria capaz de assobiar. As demais
apenas me eram meio “familiares”. Resumindo: eu não
conhecia o Led Zeppelin – a banda que, em 1969,
inventou o heavy metal.
A caixa foi por mim recebida com grande curiosidade e
respeito. Afinal, o material físico era imponente. Quase
místico. E o material sonoro não me decepcionou – fui
seqüestrado por aquele som ao mesmo tempo caótico e
finamente estruturado. Não é fácil explicar o som feito
por aqueles caras. O que saiu dos meus alto-falantes
84
ficou pra sempre marcado em mim. Naquela época eu
havia assumido o vocal da banda Poluição Sonora, que
vocês não conhecem. Eu, um roqueiro que não conhecia
o rock.
Alguém disse certa vez: “O homem fez a guitarra, e
Deus fez Jimmy Page para tocá-la”. Isso mostra o
quanto a banda foi posta no status de divindade.
Exageros à parte – coisas do mundo pop –, a verdade é
que o “Zep” (para os íntimos) foi mesmo o nome mais
importante da música mundial nos anos 70. Crítica e
público nem sempre estiveram ao lado da banda, mas os
números computados ao longo dos anos e os fãs fiéis, e
remanescentes até hoje, 27 anos após o fim da banda,
comprovam a idéia dessa grandeza.
Agora tem o show de novembro em Londres. E aí? É
uma volta definitiva? Pelo que sei, só há boatos. Mas o
show – que será definitivamente histórico – vai contar
com o esquecido John Paul Jones e com Jason
Bonhan, filho de John Bonhan, o baterista morto em
1980. Sua morte decretou o fim da banda. E eu não
tenho conhecimento de outro caso assim: uma banda
acabar pela falta do baterista. Respeito? Sim, respeito. E
está certo. Tem que respeitar. Bonhan imprimiu sua
marca no mundo do rock. Se não foi um baterista tão
técnico, tinha estilo próprio. E isso é algo difícil de se
identificar em quem toca esse instrumento. Pois, pra
quem não sabe, sempre foi bem possível reconhecer
uma música inédita do Led Zeppelin pelo simples som
da bateria. Uma marca. Com seu filho na nova
formação, a volta da banda ganha respeitabilidade.
85
O que o mundo do rock ganha com o possível retorno
do Led Zeppelin? E ainda: o que o mundo ganha com
isso? É claro que eu não sei responder a essas perguntas.
Mas tudo vai depender de como será esse show, assim
como de quais são os planos deles para um futuro
próximo. Vão voltar a criar juntos? Se o fizerem, vão
repetir a velha e boa fórmula? De qualquer jeito, o
mundo não é mais o mesmo, e é claro que o Led
também não. E se esse (re) encontro atiçar a curiosidade
de novos ouvintes – sobretudo jovens –, poderemos ver
meninos ouvindo música junto a seus pais, e, até
mesmo, seus avós. E, convenhamos: essa possibilidade
é muito interessante. Ave Jimmy Page! Ave Robert
Plant!
86
Meu doce e tempestuoso irmão Renato
Legião Urbana foi meu coração,
minha cabeça e minha voz
Acho que sou ingrato com Elvis Presley. Explico. A
partir dos meus cinco anos de idade comecei a ver os
inúmeros filmes de Elvis na Sessão da Tarde. Nesses
filmes, Elvis sempre interpretava um rapaz pobre,
porém sedutor – seu sorriso sincero, seu violão, seu
sucesso com as garotas. Seus personagens eram – apesar
de sofredores – sempre uns caras bem humorados,
felizes, fiéis aos seus amigos, corajosos. Não importava
o nome ou o ofício de cada personagem: era ali sempre
o belo e cativante Elvis com seus cabelos castanhosescuros brilhantes. A psicologia explica isso com
facilidade – refiro-me ao fato de eu hoje cantar e tocar
violão, já que não houve músicos em minha família.
Sendo assim, é possível que Elvis Presley seja meu pai.
Se hoje eu gosto tanto de violão e, ainda mais, de
mulher, é, entre outras coisas, por Elvis. Que coisa... E o
que eu dou em retribuição? Uma foto em uma colagem
com recortes de fotos de artistas que fiz, emoldurados
em minha sala, e ainda dois velhos discos de vinil e
nada mais. Acho que é pelo obstáculo da língua
estrangeira, pois do Roberto Carlos, por exemplo, eu
87
tenho mais material, e até sei cantar muitas músicas.
Mas não vou também ficar justificando minha
ingratidão.
Então, passada uma década, me vem, aos dezesseis anos
a minha primeira banda, onde eu cantava,
principalmente, as músicas do Legião Urbana. Eu e
Renato Russo fizemos um casamento perfeito.
Casamento, não. Renato Russo foi meu tempestuoso
irmão mais velho. Quando menino eu não podia cantar
como Elvis. Mas agora, nos idos de 1986, eu um
frangote com voz de homem... agora dava pra enganar,
cantando as músicas do Legião. Ninguém nas
redondezas tinha uma voz mais parecida (ou conseguia
fazer uma voz mais parecida) com a do Renato do que
eu. Então o menino tímido que eu era, passou a ser um
pouco mais respeitado, pela voz, e pela performance de
palco, ainda que, secretamente, eu, a princípio, gostasse
mais do RPM, Blitz e Ultraje a Rigor, até aquele
momento. Entretanto, o poder das letras – ora
herméticas, ora vomitadas com clareza – de Renato
Russo não tardariam em capturar meu intelecto, minha
psique ávida pelo susto. E, então, sim, cada nova canção
da Legião me proporcionava o susto que me alimentava
psicologicamente.
Cada novo disco da banda era um acontecimento pra
minha turma. Discutíamos cada letra. “O que ele quis
dizer com este verso?...”, era comum indagarmos.
Foram tantas as canções marcantes, e tanta coisa já foi
escrita sobre a obra de Renato, e o enorme número de
grandes letras, que fica difícil destacar algumas. E é
88
sempre complicado tentar fazer um apanhado analítico
pessoal da obra. Pois cada um dos discos, cada uma das
canções podem ser objeto de muita análise – eu, que já
analisei todas, todas elas, tenho sempre um “disco
preferido” diferente a cada vez em que penso nisso. Vou
me ater, momentaneamente, a um álbum em especial: A
Tempestade, que é o que acho que mais me emocionou.
E vou falar alguma coisa sobre este trabalho.
A Tempestade (ou O Livro dos Dias) é de 1996. E é o
último trabalho gravado pela Legião Urbana – depois
viriam álbuns póstumos. Tenho uma história pessoal
envolvendo este disco. Fui até o município de Nova
Iguaçu, onde normalmente eu comprava meus discos,
pra comprar o então novo disco da (do; tanto faz)
Legião. Lá estava ele: capinha azul celeste, de papelão.
Uma capa elegante. Eu sempre comprei os discos do
Legião e do Paralamas sem me preocupar com o
conteúdo, que eu já sabia que não poderia ser ruim. A
“música de trabalho” executada nas rádios eu havia
achado muito estranha; era “A via Láctea”. Muito triste
e com um vocal desleixado. Versos como “hoje a
tristeza não é passageira, hoje fiquei com febre à tarde
inteira, e quando chegar a noite cada estrela parecerá
uma lágrima...”. Então cheguei em casa e coloquei o
CD no meu som. E o que saiu das caixas era a voz da
Xuxa. Isso mesmo, Xuxa. Por algum motivo, a fábrica
que prensou (queimou) os CDs, gravou ali ,
acidentalmente, o então novo disco da apresentadora de
TV. Lá fui eu de novo no dia seguinte à loja pra trocar o
CD. A moça do balcão me trocou a bolachinha sem
problemas, disse que aquele lote inteiro estava com
89
Xuxa gravada nos CDs do Legião. De volta a casa,
finalmente pude ouvir o disco com calma. Calma não.
Um misto de apreensão e respeito, para, logo depois,
como sempre, o susto. E também o deleite após o susto.
Mas dessa vez havia algo diferente. Todas as canções
eram amargas, extremamente amargas. Chorei ao ouvir
algumas delas, e me lembrei do disco Burguesia, do
Cazuza. “Meu Deus, será que este aqui é mais um disco
de despedida?”, me perguntei. E quando li na primeira
página do encarte.
“O Brasil é uma
república federativa
cheia de árvores
e gente dizendo adeus".
Oswald de Andrade
Eu pensei, e inclusive disse à minha companheira – que
sempre me falava dos lugares descritos pelo compositor
em alguns versos referentes a Brasília presentes em uma
ou outra canção; Brasília, local onde ela também morou:
“o Renato Russo vai morrer”, eu disse. “Veja bem.
Tudo o que cantou nesse disco mostra que ele não está
nada bem. E esses versos aqui...”. Pois bem. Mais ou
90
menos um mês depois daquilo, recebemos a notícia de
sua morte. Eu estava no trabalho. Eu estava no
refeitório. Não me recordo de ter terminado a refeição.
Eu estava perdendo um “parente”. Algo como um irmão
distante, que muito houvera me ensinado. Renato morria
vítima do HIV. Escondeu a doença de todos. Apenas os
mais chegados sabiam. Nenhum fã sabia o que estava
acontecendo com ele. Ele ocultou seu mal até o fim. A
única coisa que gostava de expor era a sua arte, e isso
fizera sempre muito bem. Com o uso dos “coquetéis”
ele poderia ter vivido mais. No entanto, isolou-se em
seu apartamento e abandonou o tratamento. Ele não
conseguiu ser como os outros, “rir das desgraças da
vida, ou fingir estar sempre bem, ver a leveza das coisas
com humor”, como reclama na letra de “A Via Láctea”.
Ele agiu como um romântico do século XIX. Acho que
chorei por uma semana. E, confesso: ainda hoje A
Tempestade é um CD capaz de me fazer chorar. É
ainda um trabalho mal compreendido por alguns
ouvintes, considerado excessivamente depressivo. Mas,
ora bolas, como não ser “excessivamente depressivo”
quando se está às portas da morte? A Tempestade é uma
obra de arte intensa e reveladora. O título reflete, como
disse sua mãe em uma entrevista, a “tempestade” que o
filho vivia em sua vida confusa e tumultuada, naqueles
seus anos com o H.I.V., e, sobretudo, nos seus últimos
meses de vida. Mas nem tudo é depressão em A
Tempestade, que em alguns momentos consegue
mostrar até um certo bom humor, como no caso da
canção “Leila”. Ou ainda a delicadeza de uma letra leve
e romântica como em “Soul Parsifal”, com melodia
criada em parceria com Marisa Monte.
91
A obra de Renato Russo e da Legião Urbana, ajudou a
revelar um novo Brasil e uma nova juventude brasileira.
Mostraram que de Brasília podia sair coisa boa, e não só
merda. E inclusive levaram a capital federal para
algumas de suas letras. Nem a obra gigantemente linda e
fabulosa de Niemeyer me fez sentir tanta vontade de
conhecer a “cidade avião” como o fizeram letras como
“Faroeste Caboclo” e “Dezesseis”. Um aspecto
importante é que, comumente, as letras de Renato eram
sérias e rebuscadas – não que não fossem românticas.
Mas eram românticas no seu modo peculiar. Revelavam
uma vasta cultura do letrista. Eram cheias de
referências. Que produtor musical poderia apostar que
letras herméticas, com referências a livros e filmes
pudessem atrair a juventude, em grande parte tão
interessada em músicas engraçadinhas ou de um
romantismo tradicionalmente clichê? Os “padrinhos”
Paralamas do Sucesso, e os produtores Mayrton
Bahia e Rafael Borges acreditaram nisso.
A obra da Legião Urbana foi pra mim e pra muitos da
minha geração algo quase sagrado. Como uma espécie
de bíblia musical, um tratado de poesia livre e de livre
pensamento, e de reflexão. Um motor para a
criatividade de cada um de nós. Nenhum fã que eu tenha
conhecido tentou, verdadeiramente, seguir Renato
Russo como um modelo pessoal de vida. Sua obra
sempre esteve muito acima de sua vida – algo raro entre
estrelas do mundo pop.
92
*
O Cânone da Legião – “Legião Urbana” (1984), o
disco de estréia, tem o primeiro sucesso radiofônico da
banda, “Será”, que é, sem dúvida, a letra mais fraca do
álbum que traz “Ainda é cedo”, “Soldados”, e as
contundentes “Baader-Meinhof blues”, “A dança”, “O
reggae”, e ainda o anti-hino “Geração Coca-cola”;
“Dois” (de 1986), figura – não raro, próximo ao topo –
em todas as listas dos melhores discos de rock
brasileiro. E não é pra menos. É um conjunto de canções
finamente elaboradas. O som punk do disco anterior dá
aqui lugar a uma sofisticação sem precedentes no rock
nacional, com violões executados com simplicidade e
precisão, guitarras pontuando delicadamente as
melodias. Se a banda preserva neste disco a crítica
social contida lá no primeiro trabalho, ela dá aqui um
desenho mais romântico e profundo às suas canções.
Destaques: “Tempo perdido”, pela performance da
banda e pelo belo trabalho técnico de estúdio; “Quase
sem querer” e “Andrea Doria”, pela introdução da banda
ao estilo folk-music, que se repete na brilhante “Eduardo
e Mônica” – esta com arranjo sem bateria e com sua
letra quilométrica; “Acrilic on canvas”, pelos versos
surpreendentemente românticos e metafóricos; e a
magnífica “ ‘Índios’ ” – nada na música brasileira até
então se parecia com o clima tenso criado pelo teclado
de Renato Russo ao longo desta canção “sufocante”,
carregada se símbolos; “Que país é este?” (1987) é
uma espécie de coletânea de “sobras” dos discos
93
anteriores, porém em gravações novas. Eram canções já
tocadas pelo grupo – a maioria delas desde sua fundação
– mas que não haviam ainda sido registradas em
estúdio. Jamais um disco de canções “rejeitadas” foi tão
bem recebido por público e crítica. Nele estão “Eu sei”;
“Mais do mesmo”; “Angra dos Reis”; “Conexão
amazônica”; a faixa-título “Que país é este”, que foi a
música mais executada por bandas de garagem nos anos
oitenta e noventa; e por fim, uma das mais
impressionantes canções da história da música
brasileira: Renato foi inspirar-se no cordel, foi em
Dylan, foi em não sei mais aonde – talvez em seu céu e
seu inferno – e mostrou ao país a hipnótica e
emocionante “Faroeste caboclo”, a “folk-balada” de
nove minutos sem refrão, logo cantada de cor pela
juventude brasileira; “As quatro estações” (1989) é o
primeiro trabalho sem o baixista Renato Rocha (o
Negrete). Com este disco a banda conquista todas as
classes sociais que faltavam serem alcançadas. Não que
tenha sido um trabalho “popularesco” – longe disso.
Mas o conteúdo “religioso” do álbum deu essa força.
Canções como “Quando o sol bater na janela do teu
quarto”, “Há tempos”, “Se fiquei esperando meu amor
passar”, e, sobretudo, “Monte castelo” – esta com
trechos da Bíblia – conquistaram todos os jovens
católicos do país. Mas “As quatro estações” é muito
mais que um disco de “auto-ajuda”, como pode parecer
ouvindo-se os versos de “Pais e filhos”: “é preciso amar
as pessoas como se não houvesse amanhã...”.
Entretanto a própria “Pais e filhos” é uma canção que
trata em sua letra, entre vários casos de jovens, de um
caso real de suicídio. É um clima pesado, e o próprio
94
Renato sempre achou esta música inapropriada para se
cantar em shows, por que os ouvintes não
compreendiam a tristeza profunda contida naquela letra.
Mas, em todo caso, por força das circunstâncias, ele foi
obrigado a se render ao mega-sucesso da canção e a
cantou diversas vezes. “Pais e filhos” contém ainda
versos poderosamente conciliatórios como “você culpa
seus pais por tudo/ isso é um absurdo: são crianças
como você...” – de fato, uma aula de amor e
compreensão. Neste disco há ainda canções
homossexuais e, dentre elas uma com letra em inglês
“Feedback song for a dying friend”, com poesia
claramente gay. Este quarto disco é, entre outras coisas,
um trabalho denso e pesado que o público entendeu
como leve. De qualquer forma, é um disco rico em
todos os sentidos, em conteúdo e forma – incluindo
excelentes arranjos. Não teria como o país deixar de
ouvi-lo. E o Brasil fez um bom uso deste grande grito de
Renato; “V” (1991) sofreu com o sucesso do disco
anterior. Uma capa branca, com o cinco em algarismo
romano na contracapa e, no interior, faixas mais longas
que o normal, com grandes trechos instrumentais: foi
algo que pegou todos de surpresa. A verdade é que “V”
é um belo disco, ainda que “difícil”. As tocantes faixas
“O teatro dos vampiros” e “Vento no litoral”, e a
simpática “O mundo anda tão complicado” conseguiram
tornar o trabalho comercializável. Entretanto o destaque
estético-artístico do disco é “Metal contra as nuvens”,
uma das mais lindas letras escritas por Renato, num
arranjo bem ao estilo rock progressivo dos anos setenta;
“Música para acampamentos” (1992) é uma coletânea
ao vivo de diversas apresentações da banda em shows e
95
programas de rádio. As versões de “Ainda é cedo”,
“Música urbana 2” e “Baader-Meinhof blues”, com
Renato “encenando” um pequeno monólogo na abertura
desta – onde representa uma perseguição policial –,
merecem destaque. As belas versões acústicas de
“Índios” e de “O teatro dos vampiros”, gravadas para a
MTV, já constavam aqui nesta compilação; “O
descobrimento do Brasil” (1993). Aqui temos um
letrista mais romântico do que nunca. As letras são mais
simples e “digeríveis” que o usual. No entanto, os dois
grandes destaques do disco fogem a esse conceito:
“Perfeição” tem uma das letras mais ácidas da banda,
num arranjo com toques de rap, tendo os versos quase
todos falados. É considerada uma das melhores músicas
da Legião, sendo inclusive a preferida de Guiliano, filho
de Renato Russo, que mais ou menos nessa época, ainda
criança, desenharia a capa do disco solo em italiano de
Renato “Equilíbrio distante”; outro grande destaque é
“A fonte”, num trabalho instrumental impecável de toda
a banda, e com uma letra pra lá de misteriosa. A música
destacada por Russo para este disco é “Giz”, que ele
afirmou ser “perfeita”, tendo dito até mesmo que esta
teria sido sua melhor gravação em toda a carreira; No
último disco gravado por Renato Russo, “A
Tempestade” (1996), destacam-se as faixas:
“L’aventura”, uma linda canção que trata de um caso de
amor que chega ao fim, num magnífico trabalho
instrumental; “A Via Láctea”, que contém os versos
“quando tudo está perdido, sempre existe um caminho/
quando tudo está perdido, sempre existe uma luz” – esta
canção, assim como outras do disco, foram cruamente
registradas com a “voz-guia”, isto é, sem o acabamento
96
que normalmente se dá em gravações profissionais, com
a voz sendo gravada por último, visando melhor
qualidade; “Dezesseis” parece ser uma versão mais
rocker de “Faroeste caboclo”, ao contar, em ritmo forte,
mais uma estória ambientada em Brasília; “Leila” é
primorosa, com um belo trabalho de guitarra de Dado
Villa-Lobos e uma das mais surpreendentes, divertidas e
doces letras de Renato; quase ao fim do disco, a
emocionante “Esperando por mim”, onde ele canta “e o
que disserem, meu pai sempre esteve esperando por
mim/ e o que disserem, minha mãe sempre esteve
esperando por mim/ e o que disserem, meus verdadeiros
amigos sempre esperaram por mim/ e o que disserem,
agora meu filho espera por mim/ estamos vivendo, e o
que disserem... os nossos dias serão para sempre”.
Quem viveu os anos de Renato Russo vai sempre se
emocionar ao ouvir estas canções; “Uma outra
estação”(1997) é o primeiro álbum póstumo de Renato
com a Legião. Ou melhor, o primeiro do Legião após
sua morte. A maior parte das músicas de “Uma outra
estação” integrariam o CD “A Tempestade”, que seria,
inicialmente um álbum duplo – e provavelmente até
com outro título –, o que não ocorreu por razões de
mercado. Destacam-se aqui “Flores do mal”; “Antes das
seis” – que tem os versos “quem inventou o amor, me
explica por favor...” –; “A tempestade”, com seu vocal
soturno; a desconcertante, fortíssima e indispensável
“La Maison Dieu”; “Clarisse”, com sua pesada letra
sobre uma tentativa de suicídio: “enquanto ela se corta
ela se esquece que é impossível ter da vida calma e
força” – nada pode ser mais barra pesada que isso – ; e
coisas antigas, como as boas “Dado viciado” e
97
“Marcianos invadem a terra”, gravadas em voz e violão.
Uma faixa muito interessante é “Riding song”, que abre
o disco, onde os integrantes da banda – incluindo o
antigo baixista Renato Rocha – vão se apresentando,
falando sobre o que fazem na vida. “Mariane”,
lindíssima canção, composta e cantada em inglês,
também merece nota; “Mais do mesmo” (1998) é uma
coletânea bastante deficitária, omitindo grandes
sucessos como “Quase sem querer”, “Soldados”,
“Angra dos Reis”, etc; “Acústico MTV” (1999) é um
ótimo disco. Registrado na ocasião do lançamento de
“V”, e lançado posteriormente, apresenta uma Legião
Urbana completamente despojada. Uma performance
excepcional de Dado no violão, acima de qualquer
suspeita. No palco do programa de TV, a Legião crua e
minimalista, numa formação com apenas os seus três
integrantes. A voz de Renato nunca esteve tão límpida
em uma apresentação ao vivo – não que ele tivesse
dificuldades com isso. O arranjo para “Índios” é
magnífico, numa transposição para violões mais que
inusitada. A maravilhosa “Metal contra as nuvens”
aparece pela primeira vez ao vivo, não deixando
dúvidas sobre a potencialidade do grupo. Este “Acústico
MTV” é um trabalho em que “menos” foi “mais”;
“Como é que se diz eu te amo” (2001), álbum duplo, é
o registro, na íntegra, do último show da banda. Renato
estava visivelmente tenso e emocionado durante toda a
apresentação, chorando durante a música “Giz”, errando
a letra de “Índios”, dizendo à platéia frases como “– Me
amem!”. Um grande show, realizado no Rio de Janeiro,
na casa que, na época, chamava-se Metropolitan; “As
quatro estações – ao vivo” (2004) é o registro de um
98
final de semana de agosto de 1990, em São Paulo, onde
eles tocaram para um público de mais de 100.000
pessoas. A execução da canção “Monte castelo” é
emocionante, assim como todo o show. Cada palavra
dita pelo cantor entre uma e outra canção – e até durante
– era ouvida atenciosamente pelo público que
correspondia com gritos emocionados, como quem
ouvisse não simplesmente o vocalista de uma grande
banda de rock, mas o líder cultural de uma geração. Em
um grande momento da apresentação, ovacionado pela
platéia, Renato fala: “– Eu queria saber o nome de todos
vocês!”.
URBANA LEGIO OMNIA VINCIT. Ou seja, “A
Legião Urbana tudo vence!”. Saudações legionárias!
99
Lenine e o “soul” da natureza
No novo disco Labiata, cantor volta a emudecer
ouvidos atentos
Uma das melhores coisas na música em 2008 é o CD
Labiata, de Lenine. Dono de um dos mais
impressionantes
acústicos
MTV,
o
músico
pernambucano, que tem seu nome inspirado no líder
comunista Lênin (o pai de Lenine era um comunista
entusiasta), ressurge, após ter musicado o espetáculo
Breu, do Grupo Corpo, com um trabalho
inspiradíssimo, cheio de experimentalismo – o que
nunca deixou de ser uma marca do cantor.
Outro dia eu e um amigo, o violonista Ricardo Espírito
Santo, discutíamos Lenine. Enquanto eu dizia que sua
música é, ao contrário do que muitos pensam, melódica
e harmonicamente extremamente simples, o amigo
ponderava: calma aí, o que Lenine faz com a mão
direita não é pra qualquer um. Nisso eu tive que
concordar. Mas aquela era uma conversa de músicos,
portanto não estávamos discutindo as letras. Pois é. E
quem na MPB dos últimos 15 anos foi capaz de dar voz
e alma a instigantes letras como ele o fizera? Sozinho,
como na eterna “Jack soul brasileiro”, ou em diversas
100
parcerias acertadas, versos 100% inteligíveis e
assimiláveis, que sempre soam sofisticados. Qual a
magia que consegue equilibrar essas duas forças em
Lenine? O simples dentro do sofisticado. O sofisticado
dentro do simples...
Labiata é apenas mais um disco de Lenine. E,
convenhamos, isso não é pouco. É um sinal de fôlego da
boa música brasileira. Um sopro de filosofia e poesia do
nosso recurso por excelência renovável : nossa música.
E já que falo em recursos renováveis, a proposta de
Labiata é que se volte o olhar para a natureza. O próprio
título do álbum é uma referência à orquídea cattleya
labiata, espécie bastante ocorrente no litoral brasileiro.
O próprio Lenine é um amante de orquídeas, mantendo
um orquidário com mais de 2000 plantas em seu sítio
em Araras, próximo a Petrópolis – alguns sons do disco
foram mesmo gravados dentro do orquidário. Letras
como as das canções “A mancha”, “Lá vem a cidade” e
“É fogo” são claramente ecológicas, mas não de uma
militância piegas, e sim, carregadas de simbolismo.
O trabalho, que recebeu o toque final no estúdio Real
World, de Peter Gabriel, em Londres, conta em sua base
com os músicos Pantico Rocha, na bateria; Guila, no
baixo; e Jr. Tostoi na guitarra: músicos que já há alguns
anos tocam com Lenine nos palcos, e mostram aqui,
mais uma vez, técnica e sensibilidade irrepreensíveis.
Pontos digníssimos de destaque no álbum são as
participações dos cariocas do Plap (leia-se Pedro Luiz
e a Parede), que tocam nas faixas “A mancha” e “É
fogo”; as duas parcerias com Arnaldo Antunes em “O
101
céu é muito” e “Excesso exceto”; a interessante
participação vocal, nesta mesma faixa, do roqueiro
China (que foi integrante do grupo Sheik Tosado e há
pouco lançou seu disco solo); e a surpresa da letra de
Chico Science em “Samba e leveza”. A letra
manuscrita fora entregue por Chico à sua irmã Goretti 3
dias antes do acidente que matou o cantor. Goretti
procurou Lenine, e o entregou a letra, pedindo a ele que
a musicasse. Provavelmente Chico ficaria muito
satisfeito com o resultado, o que nós podemos conferir
em mais este personalíssimo trabalho de Lenine.
102
Lobão e Faustão
Aguardamos o dia em que ouviremos (e veremos) os
bons músicos tocarem ao vivo na TV
Num debate sobre os movimentos de vanguarda na
história do cinema, onde intelectuais falavam sobre
cinema novo e nouvelle vague, já quase no fim, um
rapaz da platéia questiona à roda de debatedores: “Mas
e quanto ao povo? (referindo-se ao fato de que a maioria
dos filmes comentados naquele encontro, não eram
acessíveis aos cidadãos pobres e comuns)” Foi então
que um dos críticos respondeu com certo sarcasmo: “O
povo? O povo está no Maracanã”. O que o intelectual
queria dizer com isso? Provavelmente estava querendo
dizer o seguinte: “A boa arte sempre existiu e sempre
vai existir independendo do gosto popular”. Bem. Ele
não deixa de estar certo – a despeito de seu comentário
pedante. Mas pode também que não tenha sido pedante,
e seu comentário tenha sido sim, simplesmente, um
resumo sincero de um estado de coisas.
Uma boa pergunta é se nos últimos tempos a elite
artística e todas as pessoas que veiculam cultura têm se
esforçado para levar arte ao povo. Tomemos como
exemplo a MPB – que só tem o nome “popular” em
contraposição à música erudita. MPB, como sabemos, é
um “selo” criado nos anos 70 para diferenciar um grupo
103
de grandes artistas daqueles de “importância menor” e
gosto duvidoso. A televisão se encarregou de mostrar
ao país esta plêiade de grandes nomes da nossa música,
os quais nem precisamos citar. A TV Record nos anos
60, com seus áureos festivais e programas, sacudiu o
Brasil e mostrou a todos a grande música feita por
jovens oriundos da classe média intelectual. A TV
Bandeirantes e, sobretudo, a Globo continuou o trabalho
de divulgar os melhores artistas de nossa música na
década de 1970. Portanto, ouvir música boa na
televisão tornara-se um hábito comum dos brasileiros
naquela época. E por que não dizer o mesmo dos anos
80 – apesar do play-back – com o BRock? Titãs, Legião
Urbana, Barão Vermelho...
É. Mas a TV mudou. E enxotou de sua programação
nossos melhores artistas. Ao menos em relação à TV
aberta podemos afirmar isso. E é ela a principal mídia
do país; aquela que chega em todos os lares. E destaco
nesse aspecto os, aparentemente imortais (e fatídicos),
programas de auditório, aos quais nem eu nem qualquer
amante de música suporta assistir, mas que têm enorme
influência no gosto popular.
Os
bons
músicos
(cantores,
compositores,
instrumentistas) ainda existem, e existem em grande
número. Mas um apreciador de música pode chegar a
pensar o contrário ao ligar seu aparelho televisor num
domingo à tarde. O que há é o predomínio do mau
gosto, o romantismo-brega-pseudo-sertanejo, o pulapula baiano com seu “sai-do-chão”, o funk safado – que
é cultura popular sim, mas, convenhamos, é música para
104
pistas de dança (no máximo) e não deveria estar
tomando o espaço que deveria ser ocupado por músicos
de verdade. Flávio Cavalcanti, se vivo estivesse,
quebraria um CD de funk por semana em seu programa,
como fez até com disco de Giberto Gil; e olha que ele
quebrou Refazenda diante das câmeras – o que também
já é uma insanidade.
Mas quem são os culpados por essa esculhambação
musical televisiva de hoje? Os empresários de
televisão, que encontraram filões lucrativos que dão
ibope e não querem nem saber? Digamos que a busca
pela audiência rápida e fácil seja mesmo algo
pernicioso. Mas o que podemos esperar de empresários?
A comunicação de massas no Brasil é comandada por
menos de 10 grandes empresas. E empresas têm um fim
único: o lucro. E, por outro lado, será que bons artistas
não estariam por sua vez se omitindo, e, com isso,
talvez sem querer, contribuindo para essa invasão de
música ruim em nossos lares?
Ocorreu também nos últimos anos o que chamo de
“efeito Lobão”, com vários grandes nomes se recusando
a ir cantar na TV. E não podemos recriminá-los, pois
sabemos que play-back em programa de auditório com
dançarinas rebolando no palco é mesmo o fim-dapicada. Quando será que esse esqueminha vai ser
erradicado? É uma corrupção de qualquer bom senso
estético. Quando?? Talvez quando os programadores
entenderem a importância da diversidade musical e do
respeito aos nossos melhores artistas, além, é claro, de
um pouco de arte visual mais variada e de bom gosto.
105
Uma questão interessante é: por que toca Tom Jobim
nas novelas das nove, enquanto no Faustão o povo tem
que aturar ver Leonardo duzentas vezes? O público alvo
não seria o mesmo? Por que também a insistência com
um apresentador que grita nos nossos ouvidos, ao que
parece, sempre as mesmas palavras? Enfim. Por que o
Domingão não acaba? E pensar que o Faustão um dia
foi tão interessante, lançando um novo modelo com o
saudoso Perdidos na Noite.
Precisa-se, com urgência, de um programa de auditório,
em canal aberto, que possa receber Lobão, Marisa
Monte, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Lenine,
Adriana Calcanhoto, etc, etc, etc, sem que nele estes se
sintam peixes fora d’água. Bem que Lobão dá sinais de
que fez as pazes com a televisão. Faz seu programa (o
talk-show Saca Rolha, no Canal 21 – que eu, assim
como a maioria dos brasileiros, não tive ainda a
oportunidade de assistir – onde é um dos
apresentadores); vai lançar seu Acústico MTV – que
antes de ser um CD e um DVD é um programa de
televisão – , e quem sabe também não toque em
programas mais populares. Quem sabe não toque no
Faustão. Não sei não. Se bem que me disseram que no
ano passado ele foi duas vezes no Raul Gil. Então vem,
Lobão! Vem cantar na televisão. Vem e traz contigo
essa turma que eu mencionei. Dizem por aí que você
está se vendendo ao mainstream. Mas eu não estou nem
aí. Eu quero é boa música para ouvir depois do carnaval.
Em suma: a música brasileira não vai mal, mas a TV
precisa melhorar sua programação musical, e artistas de
106
boa reputação, bom gosto e talento criativo podem
ajudá-la nessa tarefa. Miremo-nos no glorioso (como
diria Fausto Silva) passado musical desta mídia. O povo
brasileiro merece boa música na televisão. Se já foi
assim, por que não voltar a ser. E se servir o exemplo
dos gringos, é bom lembrar: Elvis, Beatles e até Nirvana
tocaram em programas de auditório.
107
Revolução musical:
Michael Jackson teria descoberto há tempos a batida
perfeita tão procurada pelo nosso
querido Marcelo D2
O simples bater de asas de uma borboleta pode
causar um furacão no outro lado do mundo".
(Teoria do Caos)
Quando Bob Dylan deu maconha para os Beatles não
sabia que estava iniciando a maior revolução musical da
história. De um lado estava o compositor de canções
folk de protesto, engajado. Do outro, quatro jovens
ingleses bobos que nunca haviam pensado em música
como uma forma de arte, ou protesto, ou algo que fosse
mais do que simplesmente música, propriamente dita.
Pois é. Ali, naquele ato, naquele baseado estavam todos
os anseios e medos, certezas, visões de mundo, fúria
intelectual e “dilemas” de Dylan. Então, profundamente
influenciados por aquele encontro com o intelectual
músico americano, os rapazes de Liverpool, a partir
daquele momento, apontaram para um novo rumo em
sua trajetória de banda de rock, tratando com mais
carinho, ternura, percepção, receptividade cultural – e
sarcasmo – seu trabalho, logo lançado ao status de obra
revolucionária – que foi. Dado isso, o, já revolucionário,
rock’n’roll ganhava gás. E, muito mais do que gás novo,
108
semeava-se ali uma brisa que viria desencadear um
turbilhão de eventos. Um furação de cultura renovada e
renovadora. A música começava então a transmutar-se
numa avalanche ininterrupta de metamorfoses. Ela
transformou-se em arte pop. Ela solidificou-se como
instrumento de panfletagem ideológica (no bom sentido:
vide Woodstock, os efeitos sobre e sob oVietnã, as
‘canções de protesto’ produzidas no Brasil nos anos 70,
etc, etc, etc). Arte. Engajamento. A música deixara
definitivamente de ser “apenas” música.
Das metamorfoses vindouras, poucos foram tão
emblemáticos quanto Michael Jackson. A mais famosa
criança cantora de todos os tempos deu seu grito de
independência, já rapaz, quando lançou, em 1979, o
disco “Off The Wall” – que é um dos melhores discos
pop da história. Um trabalho desbravador. Michael
passa de menino prodígio a melhor representante da
música negra americana, firmando-se como seu grande
ícone. Off The Wall é primoroso. É maravilhoso. Mas
faltava algo. Jackson era ainda um cantor negro, e não
simplesmente um cantor. Nos Estados Unidos um cantor
negro era “um cantor negro”. Não importa Chucky
Berry: Elvis é que foi o “rei do rock”. Não importava
Nat king Cole: Frank Sinatra, com seus olhos azuis, era
“The Voice”. Então, nos anos 70, por mais que Stevie
Wonder fosse genial, os Bee Gees foram mais
populares.
Acontece que uma revolução silenciosa ocorria na
aurora da década de 1980. Embora – o branco –
Christofer Cross abrisse as portas da década anunciando
109
um possível porvir, Michael, na surdina, escondidinho
dentro de um estúdio, gravava sua obra-prima,
“Thriller”, que agora completa 25 anos.
Mas por que motivo Thriller é tão importante? Em
primeiro lugar pelas músicas em si: neste disco estão
“Billie Jean”, “Beat it”, “Human nature”, além da faixatítulo. E há vários outros fatores que fazem de Thriller
“o álbum “. Ele é tão bem gravado que ainda que seja
ouvido num radinho de pilha na Índia ou no sertão
nordestino a sonoridade se mantém boa, dado ao
extraordinário equilíbrio entre os instrumentos. E ainda,
foi naquele momento histórico para a música pop, que
as barreiras entre música negra e branca começaram
finalmente a ser quebradas, sendo Michael o primeiro
grande ídolo negro da história americana no campo
artístico a ser verdadeiramente prestigiado pela
população branca. E o disco é essencialmente negro. As
concessões a isso são as participações de Edie Van
Hallen, que faz o melhor solo de guitarra de sua vida em
“Beat it”, e Paul McCartney, com quem Michael divide
a belíssima “The girl is mine”. Essas participações não
tiraram a negritude do trabalho, entretanto, colaboraram,
certamente, para a quebra de barreiras mercadológicas.
Afinal, um guitarrista de heavy metal e um “beatle” num
disco “negro” foram um tiro fatal no apartheid musical
estadunidense.
A imagem peculiar de Michael, com seu figurino, seu
gestual e sua dança desconcertante, foram, obviamente,
determinantes para o sucesso da coisa. Isso sem falar na
MTV. Thriller, o álbum, e posteriormente, o histórico
110
clip de 15 minutos, foram concebidos pouco tempo após
o nascimento da influente emissora musical. Michael
está para o vídeo clip, assim como Shakespeare está
para a invenção da imprensa: foram pessoas certas na
hora e no lugar certo – aliás, como sempre ocorre com
os grandes ícones, que sempre se beneficiam das
circunstâncias. O que seria, afinal, de Shakespeare sem
o invento de Guttemberg?
Um filósofo disse – creio que acertadamente – que a
perfeição não existe. Para muitos fãs, Michael esteve
bem próximo disso – musicalmente, deixemos claro –
naquele começo da década de 80, com seu grande disco.
Aquela surpreendente fusão de música eletrônica, soul
music e funk, e sons de guitarra, além de magistrais
arranjos de cordas, tudo guiado sob a batuta de Quincy
Jones – o arranjador com quem, para muitos, deve-se
dividir os créditos de Thriller –, encantou os ouvidos do
mundo, influenciando toda uma geração de músicos e
produtores. E mais. Além de ajudar a quebrar
preconceitos raciais que separavam, mais do que se vê
hoje, brancos e negros no mercado musical, ele
potencializou a música de origem negra, dando voz ao
rap, e ao hip-hop em geral. Muitos podem não
conseguir fazer a conexão, mas os nossos O Rappa e
Marcelo D2 devem muito, e talvez não saibam o quanto,
a Michael Jackson.
Quando penso em “Billie Jean”, e quando ouço “Billie
Jean” eu quase me emociono. Todo o andamento desta
canção, o arranjo perfeito, a linda e triste melodia, a
atmosfera misteriosa que ela traz. Nesses instantes
111
quase tenho a ilusão da perfeição atingida em forma de
música: talvez a batida perfeita que o meu querido D2,
cá no hemisfério sul, está procurando até hoje.
Diante de tudo o que vimos na historiografia musical do
século XX, não poderemos nunca mais subestimar um
cara esquisito trancafiado em um estúdio musical: ele
pode estar concebendo um furacão.
*
Revolucionários na estética musical (uma lista com
graves omissões – como são todas as listas): Irwin
Berlin, Cole Porter, Chucky Berry, Charlie Parker, John
Coltrane, Miles Davis, Elvis Presley, Bob Dylan, Jimi
Hendrix, The Beatles, James Brown, Luiz Gonzaga,
Bob Marley, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano
Veloso, Milton Nascimento, Raul Seixas, Zé Ramalho,
Stevie Wonder, Michael Jackson, Chico Science, O
Rappa e, (tá bom) Marcelo D2.
112
Entre a MTV e a vinheta do Supercine
Minha filha vive me falando que adora a música que
toca na vinheta do tradicional programa Supercine, da
televisão, que passa filmes sábados à noite. Os filmes
normalmente não são os melhores, mas a musiquinha de
abertura... Ah, a música é mágica. Vira e mexe, nós dois
estamos fazendo aquelas notas com a boca, terminando
o tema em vozes diferentes. E aquilo ali é puro jazz.
Que música magnífica é o jazz... Contudo, meu
relacionamento com a música em geral é, digamos,
punk.
Música, música. A minha relação com a música está se
transformando. Estou tornando-me mais e mais um
ouvinte do que um músico. Talvez eu prefira mesmo
ouvir, a tocar e cantar. Talvez eu esteja descobrindo isso
tardiamente. Talvez eu sempre tenha preferido isso.
Talvez eu esteja arranjando esse subterfúgio psicológico
auto-sugestivo enquanto não participo de uma nova
banda. Vá eu saber. É foda. Banda dá muito trabalho –
discute-se muito sobre repertório, arranjos, falhas na
execução de músicas, em meio a uma infinidade de
ensaios. Aí há sempre um músico mais vaidoso que não
aceita bem sugestões ou que gosta de dar sugestões
demais. Bandas exigem democracia. Criar em grupo é,
na maioria das vezes, um saco. Arte e democracia não
são exatamente grandes amigos – ao menos não são
113
amigos em potencial. E quando se fala em grupos
musicais, é muita gente querendo pensar junto – não se
trata de duas pessoas, mas sim de quatro ou cinco
cabeças pensando e querendo mostrar seu pensamento.
Já o esquema voz-e-violão para bares e restaurantes, por
sua vez, é um saco. Acham que você é obrigado a
atender a pedidos das mesas, como se as músicas que a
gente executa fizessem parte de um cardápio. E pior: de
um cardápio infinito. Além da sensação de solidão no
palco, que eu acho bastante incômoda. Estou cansado
disso tudo. Talvez eu venha a montar uma banda pra
gravar minhas composições num estúdio pessoal – no
dia em que eu possuir um estúdio pessoal, pois em
estúdios alugados não há bolso que agüente. Quero ter
total liberdade com minha música e ter uma relação
livre com a música como um todo – uma coisa que eu
creio jamais ter conseguido. Acho então que vou, por
enquanto, ficar no conforto do meu armário.
A emissora MTV está agora sendo transmitida em canal
aberto para todas as antenas parabólicas. É só sintonizar
– quem tem a antena –e a transmissão está lá. Isso vai
determinar um ganho significativo nos seus índices de
audiência, já que a transmissão de TV para todo o
interior do país é, creio, predominantemente feita viasatélite para as parabólicas. Criada no início dos anos
oitenta, a emissora especializada em música pop
determinou um novo comportamento da produção
musical mundial. Fez parir o rap e ao hip-hop. Deu
corpo ao rock também, restaurando suas forças. Embora
hoje sem o status e a influência de outrora, a MTV ainda
forma opinião – e se não o faz de forma direta, ela ainda
114
influencia o comportamento do seu público,
majoritariamente adolescente. Talvez a emissora
precise, neste momento, começar a adaptar o conteúdo
de sua grade às possíveis exigências do seu novo e vasto
público parabólico – o público jovem do grande interior
do Brasil. A programação, que não é um primor de boa,
pode com isso piorar. Assim como pode, claro,
melhorar. Tenho assistido a clips muito bons – 50% dos
clips veiculados hoje pela emissora eu considero bons.
Há até coisas geniais, que dão uma aula de audiovisual e
mostram como o videoclipe evoluiu, junto a algumas
porcarias completamente descartáveis, previsíveis e de
mau gosto. Há também muito, muito conteúdo erótico
com o quadradinho verde e a letra “L” de indicação
“livre”. Garotas se esfregando e se beijando na boca às
9 da manhã não é exatamente o que o público de TV
aberta está acostumado a ver. Minha filha de 11 anos
tem assistido a muito videoclipe com sexo, incluindo
vários com cenas de homossexualismo feminino. E eu
fico sem saber o que fazer, pois amamos música aqui
em casa. Amamos rock. Gosto de ver o interesse dela
por música e por arte visual. Mas a velha moral nos
segura um pé atrás, claro. Este pé atrás parece preso em
cimento. E daí, o que fazer? Quebrar o cimento? Deixar
minha filhinha pré-adolescente e quase pura ser
conduzida pelo “sagrado” trinômio sexo,drogas e rockand-roll? A MTV está aí, dando sinais de sobrevida.
Meus discos de rock continuam também vivos e
pulsantes nas minhas caixas acústicas na sala do meu
doce lar. E eu estou aqui, preocupadíssimo. E o que
faço? Começo a colocar CDs do padre Fábio de Melo e
proibir videoclipe? Me responda, meu editor. Ah, que
115
bom se a vida fosse simples e perfeita como a música da
vinheta do Supercine.
116
Algo de novo e de velho no ar
A estranha e interessante música de 2008
Ainda não ouvi o novo disco de Ed Motta, cantado em
inglês, no qual ele toca todos os instrumentos. Preciso
ouvi-lo com urgência. Estou, sim, neste instante,
ouvindo o interessante trabalho da nova banda de
Rodrigo Amarante (ex-Los Hermanos) que se chama
Little Joy. Engraçado: não sei dizer se é bom. E olha
que já é a minha terceira audição. Esse som está me
levando aos “filmes de praia” produzidos nos anos 60,
que enfeitiçaram minha infância nas “sessões da tarde”.
Remete a coisas boas. Então acho que é bom. Toda a
sonoridade do Cd é simuladora da surf music daquela
década. Todo em inglês também – com uma única faixa
em português. Ok, ele venceu. É bom, sim. Mas não
exageremos, pois não é nenhuma obra-prima. E a
sonoridade pretendida – e alcançada –, que faz parecer
que estamos ouvindo um radinho de um Cadillac
conversível com uma prancha de surf no banco de trás,
faz com que o trabalho agrade apenas a um público bem
específico.
Quanto ao super bem recebido disco solo do outro “exhermano” Marcelo Camelo, com o título Sou, aí sim, o
117
buraco é mais embaixo. Harmonias complexas,
misturadas a outras simples, tudo soando bastante bem
aos ouvidos. Em comum com o projeto de Amarante, o
som de Camelo tem cara de coisa velha. A faixa
“Menina bordada”, por exemplo – uma das melhores do
disco –, poderia ter saído do clássico Clube da esquina,
do Milton. Este Sou é, provavelmente, o disco
brasileiro mais interessante do ano. Marcelo ousou. Seu
disco tem muito pouco que lembre rock. Mas tem. O
disco parece uma síntese de suas pretensões que não
cabiam na banda Los Hermanos. Tem de tudo um
pouco. A faixa “Copacabana”, por exemplo, é uma
deliciosa marchinha de carnaval. Inserções assim
exigem personalidade, coisa que o tímido e elegante
Camelo tem de sobra. Em “Janta”, deliciosa balada folk
apenas com violões, o cantor apresenta sua parceira teen
Mallu Magalhães, que um dia, tenho certeza, será uma
grande cantora – se já não o for.
Mallu Magalhães me surpreendeu de verdade. A
menina de 16 anos é “virada no diabo”. Toca, compõe,
canta em inglês. Seu som folk rock é conduzido com
uma leveza que consegue reunir de forma
desconcertante inocência, deboche, e uma inesperada
sensualidade. Se a menina não é tudo o que disseram
por aí, pelo menos a mim agradou muito. Sua música é
– saiba-se – muito mais americana que muita música
americana que se faz hoje: se é que você me entende.
Tomara que a indústria não a transforme em pirulito.
Um paralelo interessante com a nossa menina Mallu
Magalães, é a mulher Camille Dalmais. A cantora
118
francesa Camille (ela prefere ser chamada sem o
sobrenome) lança seu terceiro álbum solo. Revelada
pelo grupo de new bossa Nouvelle Vague, Camille é
hoje, em minha opinião, a artista mais completa do
mundo. O que a menina Mallu e a mulher Camille têm
em comum? Primeiramente são mulheres, claro. Ambas
têm a voz aguda. Cantam em inglês sem serem
estadunidenses ou inglesas. E são talentosíssimas. O
novo álbum da poliglota Camille, Music Hole, é
deslumbrante. A cantora canta em todos os tons e
oitavas imagináveis para um ser humano,
experimentando diversos timbres possíveis – e
impossíveis. Usa a boca e o corpo como instrumentos de
percussão – coisa que faz desde menina: um negócio de
louco. Camille brinca de fazer música, e é genial, não há
palavra melhor. Ela exala liberdade com seu som
inventivo e revolucionário. Ouvi-la me dá tesão – e isso
já aconteceu quando a ouvi pela primeira vez no
Nouvelle Vague. E andei sentindo algo parecido em
relação à Mallu. Camelo que me perdoe. Mallu está se
descobrindo como mulher e como artista. Camelo está
também em bela construção. E Camille? Camille parece
estar pronta.
119
O paradoxo da discoteca única
Que cantor você levaria para uma ilha deserta?
Propus a uns amigos que eles hipotetisassem algo
absurdo. Pedi a cada um deles que se imaginasse como
náufrago solitário numa ilha deserta. Com apenas a
roupa do corpo e um aparelho de Mp3 de 8 gigabytes –
acompanhado ainda de um carregador manual –
contendo toda a coleção de discos de um único artista. E
fiz a seguinte pergunta: qual cantor (cantora, banda etc,
enfim...) você gostaria que estivesse no Mp3 de 8
gigabytes acompanhado de um carregador manual? E eu
sei que há carregadores à manivela para celular,
devendo haver também para outros aparelhos de
pequeno porte. É que na ilha deserta, como todos
sabemos, não há energia elétrica. Não em tomadas.
O primeiro a se manifestar tinha em torno de 22 anos e
disse, pra minha surpresa, Engenheiros do Hawaii.
Bem. Hawaai... ilha deserta... há mesmo alguma
relação. Eu ouvia muito essa banda nos idos de 1987, e
até hoje amo algumas coisas deles. Eu perguntei a ele
quantos discos os Engenheiros têm. Ele respondeu: 13.
Pensei: são poucos discos pra ouvir por uma vida inteira
cercado de coqueiros, mar, e, numa melhor hipótese,
120
esquilos e sagüis. Um outro amigo respondeu Legião.
Fãs de Legião Urbana normalmente falam apenas
“Legião”. Embora eu, que sou fã, diga Legião Urbana.
E eu até que poderia levar os discos do (ou da) Legião
Urbana, contudo esbarraria no mesmo problema: não
são muitos discos. A possibilidade de enjoar de ouvir é
maior quando a coleção é pequena. Outro amigo
respondeu Djavan. Uma moça linda disse também
Djavan. Uma outra amiga, também bem bonita,
respondeu, igualmente, Djavan. Então o placar era
Djavan, disparado na frente, com 3, versus Engenheiros
e Legião empatados com 1. A conversa tomou maiores
proporções e eu ainda não tinha falado o meu. Eu estava
em dúvida entre Roberto Carlos, Chico Buarque e
Caetano. Não demorei a optar por Caetano: uma obra
bastante diversificada em estilos e um bom número de
discos lançados – pelo menos o triplo do Legião
Urbana. Logo o papo saiu da música e enveredou para
pessoas. A pergunta passara a ser: quem você levaria
contigo para uma ilha deserta. Mais clichê impossível.
Em relação às escolhas, uma coisa pareceu clara ao
observar um aspecto delas. Ninguém escolheu um nome
da música internacional. Nem Beatles, nem Iron
Maiden, nem Madonna. Isso, obviamente, se dá pelo
fato de que alguém cantando em português seria uma
melhor companhia, alguém com quem se pudesse, de
certa forma, dialogar. Pois embora a música seja uma
“linguagem universal”, abrir mão de uma companhia
que fale a nossa língua em prol de alguém que não
compreendemos, não é mesmo algo natural. Então, meu
ímpeto de filosofia barata me compele a criar um
121
aforismo: “pra tocar na festa do céu o sapo tem que
cantar na língua de Deus”. Mas que bobagem.
Pensei em algo. E se, em vez de Mp3, fosse um violão?
*
122
Bossa nova punk:
Precisamos (?) de uma “Nova bossa nova” que
privilegie os milhões de músicos autodidatas do
Brasil de Tim Maia
“Você é um cara de pau!”. Foi o que me disse um amigo
após eu ter-lhe dito que eu toco “Águas de março” ao
violão com apenas três acordes. Mas é verdade, eu
consigo, e quase não se sente falta de nada. Bem, sentese sim, mas nada que seja empecilho para eu cantá-la
até o fim, caso seja necessário. Será que o nosso querido
maestro soberano ia gostar de saber de uma coisa
dessas? Talvez sim. Eu, se fosse ele, gostaria.
É um paradoxo. Ao mesmo tempo que João Gilberto, o
cantor “punk” da Bossa nova, deu seu recado claro:
você pode cantar em público e ainda fazer sucesso
internacional mesmo que seja dono de uma voz
“pequena”. Tom Jobim, com sua formação clássica,
desafiou a paciência dos violonistas de todo o país com
suas canções de trinta acordes compostas ao piano.
Então. Cantar como João não é difícil. Não é
impossível, pelo menos. Mas tocar o seu maior sucesso
– ao lado de “Chega de Saudade” – a anti-cançãoprotesto “Desafinado”, composta por Tom Jobim e
Newton Mendonça, aí já são outros quinhentos. Eu
tenho até medo de morrer sem antes ter aprendido tocar
123
“Desafinado”. Tenho medo mesmo. Pois a canção é a
minha preferida da Bossa nova, e é linda, e eu,
definitivamente não consigo. Não consigo, pô!
Quanto a João, tive a comprovação de que ele é mesmo
punk depois que eu soube de suas declarações de que a
Bossa nova não existe nem nunca existiu. Ele chegou a
suprimir a expressão “bossa-nova” da letra de
“Desafinado” em suas últimas apresentações ao vivo,
cantando apenas “... isso é muito natural”. Estou
falando de um dos pais do movimento. Movimento?
Estilo? Nem sei mais o que dizer diante disso.
Fui tocar em um jantar do Rotary Club num sábado
desses. Um dos diretores locais – o que me havia
contratado para um show de voz e violão – me propôs
fazermos em junho próximo um grande jantar de
comemoração do seu aniversário de 50 anos,
aproveitando os 50 anos da Bossa nova. No tal jantar
faríamos um encontro com músicos locais, onde o
repertório seria cem por cento – adivinhem – ...bossa
nova. Eu não disse nada pra ele. Nem que sim e nem
que não quanto a minha participação e sobre a
viabilização do encontro. Cá entre nós. Eu acho que ele
terá dificuldade em organizar isso. A começar pela falta
de músicos locais que tenham um bom repertório de
bossa nova. Quase ninguém aqui pelas bandas onde
tenho residência – no sul do Estado – toca bossa nova. E
quando toca, são só alguns poucos sucessos – não dá
uma noite.
124
Então pergunta-se: como se chegou a isso? O estilo que
– junto ao samba (e bossa nova não deixa de ser samba)
– é o que melhor representa o Brasil no exterior, não
consegue ser executado pela maioria dos músicos – e a
maioria de nossos músicos é autodidata – que tocam na
noite, nos bares que estão no nosso próprio território.
Pode haver várias explicações pra esse fenômeno.
Quando um músico “da noite” vai a um pequeno palco
com seu violão e toca uma canção de Tim Maia com
três acordes ele consegue agradar a todas as mesas, e é
aplaudido após ter tocado com os olhos fechados a
música de harmonia simples e bonita. Agora imagine se
ele toca – volto nela – “Desafinado”. Bem. Nem todos
vão conhecer a música. Quase ninguém saberá
acompanhar a letra. E o músico terá, no máximo, dois
aplausos, dos dois músicos profissionais que tomam
chope da Brahma, de pé no balcão. Ele vai ficar feliz
com o reconhecimento. Vai pensar: valeu a pena
aprender os 40 acordes dessa emblemática canção, pois
quem entende música gosta e aplaude. Então, para azar
do dedicado violonista, na próxima semana estará no
bar, em seu lugar, um outro músico tocando Tim Maia,
ou então o repertório de covers internacionais de
Emerson Nogueira.
Salve Tom Jobim e todas as suas maravilhosas criações.
Salve todos os realizadores que levam (levaram) o selo
“Bossa nova”. Esses grandes compositores e grandes
músicos com suas mirabolantes dissonâncias e
complexas harmonias não têm culpa de terem sido tão
bons. E, em muitas vezes, o que é bom é mesmo difícil
– tanto na arte como na vida. Mas, por favor, não
125
façamos disso uma regra. Salve Tom, salve João
Gilberto, salve Baden Powell, Carlos Lyra, salve
Toquinho, salve Vinícius de Moraes. E salve os punks
que tocam “Águas de março” com apenas três acordes.
126
A intimidade do menestrel
DVD de Oswaldo Montenegro é comedido,
mas não decepciona
Quando eu tinha 17 anos, além do rock nacional e
internacional – e seus respectivos “pops” –, em matéria
de MPB, só existia pra mim Caetano, Chico, Milton,
Djavan, Elis Regina, Rita Lee e Roberto Carlos. Só os
medalhões. Foi quando comecei a tomar contato, por
influência de uns amigos, com a música de Oswaldo
Montenegro, de quem eu só conhecia até então
“Agonia” – vencedora, para muitos injusta, de um
festival da TV Globo –, “Bandolins”, “Intuição” e “O
127
condor”. Mas eu não havia ainda ouvido um disco
inteiro de Oswaldo. Eu não sabia o que estava perdendo.
Então, mais ou menos a partir daquele momento juvenil,
acho que as portas, inesgotáveis, da música brasileira,
muito além dos grandes nomes veiculados pela grande
mídia, começavam a abrir-se pra mim. Comecei a ver as
possibilidades estéticas que nossa riquíssima
musicalidade, como nossos inúmeros e maravilhosos
músicos, de norte a sul, oferece. Depois de Oswaldo, aí
sim, mil nomes começaram a pipocar em minha
discoteca e, sobretudo, na minha alma musical. Não é
que os nossos “grandes nomes” não sejam ecléticos e
não tenham processado também influências múltiplas. É
por um motivo que não entendo ainda muito bem que
Oswaldo Montenegro foi, com certeza, um dos
principais responsáveis por essa “abertura” do meu
gosto musical. Engraçado é que hoje eu não ouço mais
seu trabalho. Acho que foi uma paixão musical
adolescente. Das boas. E paixões antigas fazem eco. E
as respeito.
O caminho natural dos músicos que buscam sucesso é
migrarem para o Rio. Sempre foi assim. Oswaldo
Montenegro fez o caminho inverso. Um dos menos
“cariocas” dentre os músicos cariocas, ele foi iniciar,
“de fato”, sua carreira musical em Brasília. E isto, do
carioca, ele mesmo confirma no belíssimo documentário
que está no seu Dvd Intimidade, dizendo:“Eu, como
compositor, não me sinto carioca. Eu não sou esperto
como o carioca, malemolente como o carioca...”. Já
tendo ele corrido o Brasil e o mundo, pude ver sua
humanidade e “globalidade” num show que assisti no
128
Canecão em 1990. Era muita bagagem musical e teatral,
numa mistura de mundo e brasis, com todas as
influências cabíveis em um artista, trazidas por ele, a
sua casa, o Rio, que o abraçava definitivamente, como
se deve abraçar um grande nome da música, um grande
e generoso cantor e compositor, um multiartista. Aquele
foi um grande show. Era um grande momento da
carreira do cantor, depois de ter apresentado ao país
anos atrás a canção “Bandolins” e de ter ganhado um
festival com “Agonia” e, logo depois, de ter ficado
quase uma década meio esquecido. Era uma volta
triunfal à mídia, com o gás advindo da inclusão da
música “Lua e flor” em uma novela. “Lua e flor”
puxava as vendas do seu primeiro disco ao vivo, que já
era um grande sucesso. Provavelmente o cantor nunca
houvera feito tantos shows na vida.
Agora, em situação parecida de ostracismo, Oswaldo
Montenegro é um ilustre desconhecido da nova geração.
Embora tenha feito entre o sucesso “Lua e flor”, no fim
dos anos oitenta, e hoje, pelo menos dois ótimos
trabalhos – os CDs Letras Brasileiras – a “imprensa
cultural” praticamente não o tem considerado. Agora, o
modelo Dvd lhe abre uma nova possibilidade de estar
em evidência, ou, pelo menos, de ganhar novos fãs, ou
ainda, no mínimo, brindar os antigos com um registro
bem realizado de suas canções. Intimidade traz 16
canções de fases diversas da carreira do cantor. O Dvd
abre com a simpaticíssima “Pra longe do Paranoá”,
como sempre com o acompanhamento da flauta de
Madalena Sales. É uma coletânea de sucessos – como
não poderia deixar de ser, em se tratando de um
129
primeiro Dvd, com ampla distribuição. Ali tem “Lua e
flor”; “Intuição”; a linda, e não tão lembrada, “Aquela
coisa toda”; “Bandolins”; “O condor”; “Por brilho”;
“Léo e Bia”, esta com a participação de Zeca Baleiro. É
bom que se preste atenção na pouco conhecida
“Andando e andando em Copacabana”, com sua letra
muito divertida. A gravação, da não menos divertida
“Sou uma criança, não entendo nada”, de Roberto e
Erasmo, relembra um dos melhores momentos da
carreira do Tremendão – a música é um achado.
Embora oportuno e bem feito, o trabalho tem, ao meu
ver, limitações. Estas limitações estão atreladas ao
conceito do projeto: a série Intimidade, da gravadora
Somlivre – iniciada com o Dvd de Guilherme Arantes –
se propõe a gravar apresentações na casa do artista. No
caso de Oswaldo, na sala de seu apartamento. O cantor
aceitou o convite da gravadora e não tem nada a ver
com as restrições do projeto. Mas parece um grande
desperdício (ou uma grande “economia”) ver um artista
que andava sumido da mídia lançar um Dvd por uma
grande gravadora e não poder usar o recurso de um
show bem produzido, num grande espaço. E estamos
falando de alguém que tem público para tal. Contudo, se
a opção e o conceito foi mesmo esse – da ultrasimplicidade –, à qual o próprio título Intimidade
remete, fazer o quê? Acontece que o que se faz com o
atual trabalho é abusar da idéia de simplicidade: uma
apresentação para familiares e amigos no espaço de seu
apartamento no Rio – gravada pelo Estúdio Mega –,
feita às claras como que num ensaio. É de se esperar que
o som tenha sido muito bem captado, e é óbvio que foi.
130
No entanto, como um vídeo musical, e até como
discografia, parece bem claro que o Dvd fica devendo.
Pouca produção e até mesmo poucas canções. Estas,
contudo, são tocadas, todas em arranjos diferentes dos
originais – porém irrepreensivelmente – por uma banda
de primeiríssima: Oswaldo, que toca violão e um pouco
de piano, é acompanhado de Pedro Mamede, na bateria;
Sérgio Chiavazolli, violão e bandolim; Alexandre “Meu
Rei”, no baixo; Caíque Vandera, no piano; além da
inseparável Madalena, na flauta e teclados.
Ponto alto – O que mais faz valer a pena no Dvd é – o
que poderia ser um contra-senso, mas que hoje é
plenamente aceitável – o que vem de bônus. Muito mais
que um making of da apresentação, o que Intimidade
traz como extra é um pequeno, porém tocante,
documentário sobre a vida e a obra de Oswaldo. Seu
começo de carreira, seu namoro com Madalena Sales –
sua grande parceira musical –, relatos das
excentricidades do inquieto artista, como um pequeno
apartamento que ele mesmo pintou com cores variadas
todas as paredes e teto, como quem grafita um muro,
num desabafo criativo. Houve quem o chamou de
maluco por isso. E sobre loucura, música e sua união
com Madalena Sales, o cantor declara: “Na primeira vez
que Madalena veio tocar com ‘a gente’ eu senti que era
a minha chance de não ir para o hospício”. O ator
Oswaldo diz ao público na Oficina de montagem de
musicais que em teatro ‘vale tudo’, em teatro ‘pode
tudo’, mas que, entretanto, ‘atuar não é mentir’. Ele, que
a tantas pessoas deu sua primeira oportunidade como
artistas de ingressarem no meio. Se Oswaldo é o
131
teatrólogo que não mente, não faz diferente como cantor
e compositor. Quem o conhece não consegue perceber
divisão entre o homem e o artista. Esses entes seriam
nele, em tempo integral, uma coisa só. A última imagem
do Dvd é do cantor junto à sua atual esposa Paloma
Duarte e Madalena Sales, com quem está abraçado. Os
três estão unidos num pequeno momento íntimo:
Oswaldo, a ex-namorada e Paloma demonstram uma
fina intimidade, uma, mais que cordial, amorosa
intimidade. E, convenhamos, isso é lindo. Enfim, vale a
pena conferir.
132
Mar, reflexivo mar
Paulinho e seu canto das águas: isso é lindo
“...a rede do meu destino parece a de um pescador,
quando retorna vazia vem carregada de dor”.
Timoneiro (Paulinho da Viola/ Hermínio Bello de
Carvalho)
Seria mesmo de se esperar que o menino criado em
Botafogo viesse no futuro escrever lindas canções que
falam sobre o mar. Imagino o bairro naquela época –
antes da grande especulação imobiliária que saturou até
o máximo suportável a cidade do Rio de Janeiro – , com
os barcos de pesca a predominar a paisagem, em vez
dos iates de hoje. Imagens vistas em nossa infância nos
acompanham pra sempre: cada um de nós tem seus
belos fantasmas pessoais, feitos de natureza viva ou
morta. Hoje, o menino está com os cabelos branquinhos.
E não é que dizem que ele está mais bonito assim...
Ao lado de minha filha Juliette, assistindo a Paulinho da
Viola, na véspera de natal, no Dvd, ouvi dela a seguinte
observação: “Nossa! Todas as músicas dele falam de
água”. Todas não é verdade. Foi um exagero precipitado
do olhar infantil. Na verdade só algumas canções dele
133
têm esse tema, dentre uma vasta obra. No entanto, o
assunto está, sim, presente em versos de várias de suas
canções. E o fato de serem estas canções tão belas pode
ter influenciado a fala de minha pequena. Talvez as
canções “marítimas” de Paulinho estejam, de fato, entre
suas melhores. Às vezes é o mar, às vezes um rio, um
barco, uma tempestade: a água está lá. E como o mar e a
água são capazes de dar luz a grandes e ricas metáforas
sobre a vida cotidiana... E isso é lindo.
Na canção (usarei a palavra “canção” em vez de
“samba”) Timoneiro, de 1996, ele canta: “e quanto
mais remo mais rezo pra nunca mais se acabar / essa
viagem que faz o mar em torno do mar / meu velho um
dia falou, com seu jeito de avisar: olha, o mar não tem
cabelos que a gente possa agarrar...”. Esta é uma das
mais lindas poesias cantadas já produzidas pela música
brasileira que levam a palavra mar. O refrão então (“não
sou eu quem me navega / quem me navega é o mar...”),
se distingue do que normalmente se ouve em letras de
sambas convencionais, pela sutileza, pela riqueza
metafórica, pela surpresa. Fica claro que uma letra como
a de Timoneiro, ao falar sobre quem vive do mar, e
sobre o mar em si, está propondo, na verdade, uma
reflexão sobre as angústias comuns à vida de qualquer
pessoa.
No, provavelmente, maior sucesso da carreira de
Paulinho da Viola, Coração Leviano, gravado em
1978, já estava lá o mar: “este pobre navegante / meu
coração amante / enfrentou a tempestade / no mar da
paixão e da loucura / fruto da minha aventura em busca
134
da felicidade...”. Uma coisa muito legal deste samba,
digo, desta canção, é a capa do disco original em que ela
está gravada. Ela está aqui nas minhas mãos neste
momento. É um vinil, obviamente, e a capa é daquelas
duplas, que abrem. Na contracapa e no meio, um
cavaquinho em processo de manufatura, numa bancada,
em meio a várias ferramentas. E penso: quem poderá me
responder se as mãos que fabricam aquele instrumento
são de Paulinho? Não sei. Na foto, elas me parecem
mãos meio rudes. Entretanto, como todos sabemos que
ele é um grande aficionado de trabalhos manuais, é
possível que seja mesmo ele quem monta o cavaquinho.
É uma das mais lindas capas que já vi. Mas isso não tem
nada a ver com mar. Pelo menos, a princípio, não tem.
Acontece, ainda, que, muito antes disso, lá no
comecinho da década de 1970, Paulinho da Viola já se
consagrava como compositor de samba, usando a água
para falar de amor e de carnaval, com o seu grande
clássico Foi um rio que passou na minha vida. Os
versos que fecham o grande samba (agora, neste caso,
sim, só posso mesmo usar a palavra samba) são pura
maravilha: “não posso definir aquele azul / não era do
céu, nem era do mar / foi um rio que passou em minha
vida / e meu coração se deixou levar”.
Mais água – Em Onde a dor não tem razão, o
sambista canta: “canto / pra dizer que no meu coração /
já não mais se agitam as ondas de uma paixão / ele não
é mais abrigo de amores perdidos / é um lago mais
tranqüilo, onde a dor não tem razão...”. No “sambaexplicação”, que critica os sambistas “excessivamente
135
modernos”, Argumento, lá está o sábio conselho: “faça
como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva
o barco devagar...” A mensagem do verso tinha
endereço certo: os sambistas apressados em transformar
o samba – na ocasião, alguns nomes da MPB (sambistas
“de fato” ou não) abusavam de recursos pouco
tradicionais, como a inserção do teclado eletrônico,
modificando tremendamente a sonoridade daquilo que
concebemos como samba. Uma discussão polêmica. Na
verdade, um estilo musical não depende de instrumentos
específicos para se caracterizar, mas sim o ritmo é
preponderante neste caso. Contudo, discussão de estilo à
parte, é muito fácil ver a versatilidade de um verso
como este de Argumento e sua aplicabilidade em várias
situações. Isso é mais que um verso musical. É algo
muito próximo de um provérbio chinês ou bíblico. A
figura do “velho marinheiro” evoca sabedoria, e,
conseqüentemente, paciência – coisas que emanam dos
olhos do compositor. Coisas das quais se precisa cada
vez mais, nesta vida tão veloz e precipitada.
Na lindíssima Quando o samba chama, de 1996, lá
está o amor, e o mar: “o que era sonho / pétalas no mar
/ logo é transpiração...”. Em Mar grande, do mesmo
ano – dispensarei comentários e transcreverei a letra:
“se navegar no vazio é mesmo o destino do meu
coração / parto pra ser esquecido / navio perdido na
imensidão / lobo do mar / timoneiro / me leve pro sol /
quero outro verão / não quero mar de marola / das
praias da moda, na arrebentação / quero um mar alto,
um mar grande / por favor não me mande de volta mais
não / não quero cais / outro porto / não mais o mar
136
morto da minha ilusão / prefiro ir à deriva / me deixe
que eu siga em qualquer direção / se eu sou de um Rio
marinho / o mar é meu ninho / meu leito e meu chão / se
navegar no vazio é mesmo o destino do meu coração”.
E, por fim, recentemente, até novos parceiros adotaram
o mar. Ao colocarem letra em uma melodia feita por
Paulinho, sob encomenda despretensiosa deste, Marisa
Monte e Arnaldo Antunes, ao escreverem Talismã (em
sua primeira parceria com o sambista) utilizaram estilo
muito próximo do que o próprio Paulinho da Viola
faria: “eu não preciso de talismã / nem penso em meu
amanhã / vou remando com a maré...”. Remar com a
maré, não contra ela. É isso que Marisa e Arnaldo
fizeram ao escrever algo tão simples e “pauliniano”.
Talismã, assim como algumas das canções citadas aqui,
está no novo trabalho de Paulinho da Viola, que é o
Acústico MTV. É este o Dvd que eu assistia com
Juliette. Quando eu ouvi dizer que ele estava lançando
um Acústico MTV, eu pensei: até você, Paulinho?
Achei descabido, já que sua música sempre fora
acústica – nunca ouvi um samba dele com guitarra. E,
como sabemos, a idéia desses projetos da MTV é,
basicamente, que os artistas mostrem versões acústicas
para canções que originalmente continham instrumentos
elétricos em seus registros, sobretudo guitarra elétrica.
Assim como também sabemos que a idéia original da
emissora já foi pras picas há muito tempo. Mas, tudo
bem. Se o Paulinho quer, se quis participar, deixa ele.
Ele deve saber o que está fazendo. Afinal, é uma
oportunidade que ele tem de ver sua música divulgada
no país intero, e até no exterior, com mais eficiência que
137
os discos “normais”. Uma produção cara, bem cuidada,
enfim, um convite difícil de se recusar. E o negócio
ficou mesmo muito bom – eu já vi umas seis vezes, no
mínimo. Há ainda no Dvd outros destaques, como
Dança
da
solidão;
o
inesquecível
–
e
deslumbrantemente filosófico – tema novelesco Pecado
capital; a irônica Eu canto samba, aqui num arranjo
sofisticadíssimo, trazendo a notícia: “...há muito tempo
eu escuto esse papo furado dizendo que o samba
acabou: só se foi quando dia clareou”; o delicadíssimo
pot-pourri de voz e violão com trechos de 14 anos,
Jurar com lágrimas, Recado e Coisas do mundo
minha nega; e a – não existem muitas outras formas de
tratá-la – obra-prima Sinal fechado, uma música que
destoa bastante de tudo o que ele já criou. A letra de
Sinal fechado é sutilmente cantada em duas pessoas
que dialogam, numa única voz. Este último trabalho de
Paulinho, que, na verdade, é o seu primeiro Dvd
exclusivamente musical, é um convite a novos fãs;
gente que precisa descobrir o grande artista, grande
compositor, e cantor de voz mansa e macia. Para os
antigos, o Dvd representa a possibilidade de deliciaremse com os velhos sucessos, e alguns não tão velhos, num
som de inigualável captação – todo grande compositor
merece uma gravação dessas. Sendo assim, boa sorte a
Paulinho da Viola. E “Viva o Paulinho da Viola”. Do
Rio para o mundo. Ou melhor, do rio para o mar.
138
A ditadura perpétua do rei
Roberto Carlos vale mais que um título besta
Ainda bem que a monarquia musical
não é hereditária. E melhor ainda
que Roberto Carlos não tenha filhos
aspirantes ao título de rei. Esta
babaquice de rei começou, na
história da música pop, se não me
engano, com Elvis, “the king”.
O obstinado rapaz Roberto, de
Cachoeiro de Itapemirim, no
Espírito Santo, traçou seu caminho em linha reta sobre o
terreno torto do mundo pop. Impulsionado por uma
infância e adolescência traumática e, claro, por um
talento esplêndido, ele foi desbravando caminhos e
abrindo portas. Então o descobriram. Já com uma
enorme popularidade e prestígio, ele liderou o
“movimento” Jovem Guarda, que na verdade se
confunde historicamente com o programa de TV
comandado por ele no final dos anos sessenta. O
programa – que também se chamava Jovem Guarda –
apresentava os cantores e cantoras de “iê-iê-iê”. Este
termo é uma alusão ao refrão da música “She loves
139
you”, dos Beatles: “...she loves you, yeah, yeah, yeah”.
Assim a Jovem Guarda se popularizou, como uma
espécie de rock-and-roll brasileiro. Enquanto Caetano,
Gil, Mutantes – e toda a turma tropicalista – faziam uma
música moderna processando influências, a turma de
Roberto fazia seu pastiche de rock. Um tipo de rock
aguado. Eu não sou apreciador da Jovem Guarda. Salvo
Roberto e Erasmo, não consigo gostar de mais nada do
que aquelas pessoas produziram. Um grande e querido
amigo meu, belo pesquisador musical, Luciano Neto,
jornalista, outro dia me deu as gravações – acho que
todas – do grupo Renato e Seus Blue Caps. Fico super
constrangido em dizer a ele que não gostei muito do que
ouvi. E também não curto muito a fase inicial dos
Beatles. Amo os Beatles a partir de “Help”. Mas o
roquezinho do início da carreira não acho tão bom –
talvez os ótimos Beach Boys fizessem aquilo melhor. É
só uma opinião, por favor, não queriam me trucidar.
Apesar da bobagem da Jovem Guarda, Roberto fez na
época discos soberbos, magníficos, revolucionários e
quase impecáveis. Com o disco de 1971, que contém a
música “Detalhes”, Roberto e Erasmo Carlos se
distanciam da estética que norteava o movimento.
Arranjos mais rebuscados, delicados e letras mais
intimistas e menos superficiais são ali apresentadas.
Esse afastamento de Roberto parecia – e assim foi –
decretar o fim da jovem Guarda. Contudo, a sofisticação
não comprometia a inteligibilidade das letras, que
continuavam acessíveis ao grande público. Nascia, ou
melhor, definia-se o maior cantor romântico do país.
Um contrato com a Rede Globo faz de Roberto um
140
milionário. Como obrigação, um programa de TV por
ano: só isso. Como é até hoje. Então, vejam a
combinação:
um
disco
por
ano,
lançado
estrategicamente em dezembro pela CBS, com o
programa de TV impulsionando as vendas do disco. E
funcionava mesmo. Uma máquina imbatível. Um rei
que lança um disco por ano, sem falha, todos os anos,
como um operário rico. Os súditos do rei que usam, a
cada dezembro, parte do décimo terceiro salário para,
numa corrida desenfreada às lojas, comprar o novo, e
normalmente bom – mas isso não importava –, disco do
monarca. Nas festas natalinas o disco do rei tocando na
vitrola. Em todo o Brasil, ele estava ali, onipresente, no
momento mais emocionante da família: a reunião para a
ceia de natal. Tudo armado pra dar certo. Uma
verdadeira fonte inesgotável de dinheiro.
Roberto Carlos não tem culpa disso. Elvis não teve
culpa de ter ficado milionário. Lennon e McCartey
também não. Todos eles foram musicalmente muito
talentosos, de fato. Fico até com um receio de usar a
forma verbal “foram”. Mas tem algo chato nisso de dar
tanta prioridade a uns poucos. A sacanagem – ou
necessidade – de eleger “o cantor”. Roberto silenciou
ótimos
cantores
e
compositores
românticos
contemporâneos seus. Não que ele pretendesse fazer
isso. Foi a máquina. Por mais que um cara cantasse bem
e compusesse bem, como se confrontar com uma
indústria áudio-visual que girava em torno de um grande
cantor romântico, que tinha privilégios como mixar
discos nos Estados Unidos, com direito a um programa
anual na TV, divulgado e aguardado como “o
141
programa”? E foram tantos os cantores românticos
talentosos em nossa música, que nos anos setenta
seguiram uma linha parecida com a de Roberto e para os
quais a indústria fonográfica nunca deu a importância
devida: Fernando Mendes e o falecido Paulo Sérgio
são exemplos. E vários outros grandes foram ofuscados
pela sombra espessa e poderosa do rei, como o próprio
Fábio Júnior, que apesar de seu público cativo, tem
motivos pra se ressentir do pouco caso da indústria.
Está-se falando de cantores “românticos” – atém-se aqui
a falar deles. Mas é claro. Tudo já estava armado para
que a massa pobre comprasse, além do feijão e do arroz
diários, um LP do Roberto por ano. E um LP era uma
coisa cara. Não se comprava LP pirata ou se baixava na
rede. A concepção de disco pirata era outra – e isso é
uma outra história. Pois bem. Enquanto outros artistas
lutavam pra tentar vender um compacto, Roberto, sem
esforço, vendia LP.
Fazer o que? É assim mesmo. É a cultura de massa. Até
hoje eu sinto prazer em ouvir os discos do cara. Aqueles
gravados antes da metade dos anos oitenta, claro. Pois
depois disso a queda de qualidade foi considerável. Mas
os discos antigos eu adoro. Passei toda a minha infância
imitando Roberto Carlos. Eu imitava bem. Eu chorava
com as letras. Emoção pura e verdadeira. Ele me
proporcionou algo como uma “educação sentimental”.
Ele me ensinou sobre amor, sexo e dor. Uma criança,
um taxista ou uma empregada doméstica não querem
saber das artimanhas do mercado. Eles querem é ouvir
algo que lhes toque o coração. Roberto encontrou o tom
de se fazer isso.
142
Hoje nosso (anti?) herói vende bem menos. “Musica
baiana de pular”, sertaneja e similares são mais
comerciais. Quanto ao título de rei... Não. Ele não
merece, não. Tampouco nos dias atuais, quando ele se
encontra em franca queda de popularidade. Aliás,
ninguém merece título de rei. Vamos parar com essa
bobagem. Eu queria que ele me ouvisse: “– Roberto.
Você é muito mais que esse título idiota que lhe foi
conferido. Tome uma atitude, meu irmão. Rompa o
contrato com a Globo, dê uma banana pra sua gravadora
e vá fazer música quando estiver inspirado, sem essa de
obrigação. E proíba que o chamem de rei. Isso é
aviltante, é imoral, isso “engorda”.
Se bem que neste último ano ele deu sinais de um
retorno à lucidez, gravando com o Caetano o disco com
músicas do Tom Jobim. Enfim um pouco de bom gosto
e bom senso. É isso o que eu quero: ver o rei se
desnudar, chutar a coroa, descer do trono e viver seus
dias como um grande artista popular desbravador e
rompedor de portas como um dia foi.
*
143
O Gênio Cara-de-pau
Roger Waters fará chover no molhado seu rock pra
brasileiro ver
Cenário musical para depois do carnaval: o lançamento
nacional do Acústico MTV do carioca Lobão e o megashow do inglês Roger Waters, na Praça da Apoteose.
Sobre o primeiro eu já falei um tanto – e é claro que
voltarei a falar quando o disco sair e eu, assim, ouvi-lo.
Aí vou dizer, ainda que não faça a menor diferença, se o
disco é bom ou ruim. E sobre o segundo, o cantor
inglês... vou te contar um negócio...
Ora. Que o cara foi foda não se tem dúvida. A pergunta
é se ele ainda é. Waters foi um dos autores e o
“mentor” de duas – lá vai o jargão mala – “obrasprimas” da música, que são o maravilhoso álbum The
Dark Side of the Moon e o não menos maravilhoso The
wall, que depois virou um instigante filme de Alan
Parker, onde Waters foi roteirista e quase um codiretor. Um dia Mr. Waters resolveu abandonar o Pink
Floyd. A crítica internacional especializada foi com ele
na sua viagem solo. Mas só ela. Pois os amantes do bom
rock e da boa música em geral, continuaram mesmo é
ouvindo os discos do Pink Floyd. É claro que há os
Maria-vai-com-as-outras mundo afora que renegam a
banda depois da saída do cara. Muitas vezes a pessoa
144
nem entende inglês e sai repetindo o que os críticos
musicais metidos a besta dizem, como: o Pink Floyd
sem Roger Waters não conseguiu mais escrever boas
letras. Eu, que não falo inglês, acho que o grupo fez
coisa interessante depois da saída dele, sim. E os jovens
do mundo inteiro assistiram a grandes espetáculos
proporcionados pelo grupo sem sentirem falta de
ninguém. Muito pelo contrário: os shows jamais
decepcionaram, parecendo completas sinfonias mágicas
de som e luz. E o seguinte é esse: 90% das pessoas que
vão à Apoteose, vão para ouvir os clássicos do Floyd.
Não fossem os preços salgados (que saudade do Rock in
Rio a 35 reais) até eu iria – embora eu e a maioria
preferiríamos ir ver David Gilmour com sua voz doce,
grave, levemente rouca, e sua guitarra alucinógena.
Agora... que cara de pau do Roger. A primeira parte do
show vai ser de sucessos e a segunda uma apresentação
– na íntegra – do álbum The Dark Side of the Moon.
Caramba! Exatamente como fez o Pink Floyd em
Pulse. Os antigos amigos de banda devem estar
achando isso muito engraçado.
A tempo. Ouço com muito prazer In the Fresh – Cd
duplo ao vivo de Roger Waters, com as grandes canções
da banda mais influente do rock progressivo, que ele
ajudou a popularizar, compondo, muitas vezes (sejamos
justos) sozinho, coisas sofisticadíssimas e de grosso
calibre.
145
Tropicália vive
Nossos hippies são melhores que os deles?
Faz “mais ou menos” 40 anos do movimento
tropicalista. Não sou exatamente o que se pode chamar
de uma enciclopédia musical, e também não vivi os dias
“tropicais” de Caetano, mas, ainda assim, o que vai
aqui, por sugestão de Daniel Rodrigues, não chegará a
ser desinformativo. Não tenho o poder de desconstruir
algo tão emblemático. E nem quero. Acho até que se me
perguntarem qual meu cantor preferido eu responderei:
Caetano Veloso. Mas não me perguntem isso.
A cultura anda em círculos – como tudo. Assim são os
movimentos culturais de maior ou menor relevância.
Visto isso, penso: será que agora, nessas voltas que o
mundo dá, é a vez de o primeiro mundo chupar da nossa
fruta, da mesma forma que fizemos com eles no
passado?
É que todos sabemos que os beatniks, as jaquetas de
couro, o jeans, e, por fim, os hippies e os Beatles (todo
esse caldeirão da Contracultura) influenciaram
profundamente a música, a literatura, as artes e o
comportamento de todo o mundo. Não se pode negar
que toda a Tropicália foi fortemente influenciada pelos
146
gringos. É simples: no âmbito musical, existiriam os
Mutantes sem os Beatles? Não creio. Alguém crê?
Os anos 60 foram realmente os mais marcantes dos
quais se tem notícia no tocante à cultura jovem. É muita
coisa ao mesmo tempo: popularização da guitarra
elétrica, da maconha, da pílula anticoncepcional, a
revolta contra o super-poder dos pais – e essa revolta
convertida em protestos contra tudo e todos. Como, por
exemplo máximo, contra a Guerra do Vietnã. Esses
protestos foram o grande laboratório para todo e
qualquer movimento de protesto envolvendo a
juventude até hoje. A Guerra do Vietnã gerou o
embrião, que cresceu, se multiplicou e transmutou.
Nesta onda nasce o Tropicalismo. Mas reduzir o
movimento ao nível de um protesto seria tolice. O
Tropicalismo retomou o conceito de “antropofagismo
cultural” da Semana de Arte Moderna de 1922, e acabou
por preencher, dessa forma, uma grande lacuna de
décadas praticamente sem vanguardas brasileiras –
exceto o “Cinema Novo”.
No que diz respeito ao “hippismo”, podemos ressaltar
algumas diferenças entre os nossos hippies e os de “lá”
(primeiro precisamos concordar que, relativamente
falando, o Tropicalismo está para o Brasil, assim como
o movimento hippie está para Estados Unidos,
Inglaterra e França nos anos 60). Enquanto a
contracultura estrangeira ocupava-se bastante com
coisas como misticismo oriental e astrologia – a
expectativa para a vindoura “era de aquário”... – , os
147
“nossos hippies tropicais” tinham uma postura mais
irreverente. Aliás, ultra-irreverente. E essa irreverência
apontava inclusive para o próprio umbigo nacional – é
claro que a “coisa” com as “bananeiras” foi um grande
deboche. Um “respeitoso deboche”.
Sobre a música que se fazia, enquanto os norteamericanos e ingleses insistiam com seu rock e folkmusic locais, por aqui o buraco era mais embaixo: o
Tropicalismo nutriu-se, sem preconceito, da música
vinda de fora e, despudoradamente, vestiu nosso
cancioneiro mais tradicional e ritmos regionais com
esses tecidos importados. Mistura de ritmos, sons,
imagem... A “globalização cultural” chegara ao Brasil,
mas vestida por nossos próprios alfaiates: Hélio
Oiticica, Caetano Veloso, Rogério Duprat, Mutantes,
Gilberto Gil, Tom Zé, Walter Franco, Torquato Neto...
Hoje, meio que timidamente, parece haver um
movimento contrário. “Eles” começam a fazer seu
próprio “tropicalismo”, nutrindo-se do nosso – e,
importante, reverenciando-o. O que fizemos há 40 anos,
importando tendências e as processando em nossos
liquidificadores G.E. brasileiros, vários artistas
estrangeiros começam a fazer agora. David Byrne, exlider da banda Talking Heads deu o pontapé inicial nos
anos 80, em seu namoro com a música brasileira e a
Tropicália, via Tom Zé. Depois foi a vez do
surpreendente Beck. Depois o “filho pródigo” Sean
Lennon foi também um simpatizante. E, por fim, o
artista mais brasileiro da atualidade, Devendra Banhart
– o tropicalista da vez.
148
Resumindo. O que Caetano e sua trupe já sabiam no fim
dos anos 60 e início dos 70, os gringos parecem estar
descobrindo hoje – que é bom ter uma refeição com
alimentos multicoloridos. Incluindo banana nanica,
obviamente.
Que façam bom proveito.
149
A mulher que diz sim
Vanessa da Mata canta e escreve femininamente
“Sim” é o título do novo disco de Vanessa da Mata,
cantora que cantou como ninguém a visão do
romantismo feminino na música “Ai, ai, ai”, do seu
trabalho anterior. Agora, com este “Sim”, ela nos
apresenta um álbum 100% autoral – coisa rara entre
cantoras brasileiras. Todas as canções são de autoria
dela. A moça está com tudo: parte do Cd foi gravada na
Jamaica; há a participação especialíssima de Ben
Harper, que surpreendeu e encantou a todos (um
paralelo para tal feito seria a participação de Stevie
Wonder no álbum “Luz” de Djavan, em 1982); tem
ainda as participações de João Donato, Wilson das
Neves – o baterista preferido de Chico Buarque –, Davi
Moraes, Kassin, e uma turma de gringos que sabem o
que estão fazendo.
O regae se sobressai em “Sim”. Não seria descabido
colocá-lo na sessão de regae de uma loja de discos.
Tudo nele é muito rítmico, mas Vanessa vai muito além
disso. Ela vai no samba, vai na balada-pop, vai no
eletrônico, mas tudo sem que seu trabalho – que é MPB,
obviamente – perca a unidade estética sonora e
conceitual: a linha romântica que permeia todas as
150
gravações. O ritmo jamaicano é central no disco, é
verdade – apesar da salada de estilos. Mas a tal unidade
é reforçada pelas letras da compositora. Vanessa faz
aqui uma crônica de relacionamentos amorosos: das 13
canções, apenas a faixa “Absurdo” não fala de amor.
No mais, todas as músicas abordam a experiência
homem-mulher. Hora com um tom de paixão, hora
desilusão. Suas letras simples e poderosas podem se
encaixar facilmente no cotidiano, pois são muito diretas
e objetivas – sem deixar de lado uma refinada poesia.
Elas me fazem lembrar as melhores canções do Roberto
nos anos 70, pela facilidade em se poder encaixá-las no
dia-a-dia de qualquer mulher ou casal, como retratos da
vida real. Isso se dá, milagrosamente, sem soar brega.
Bom lembrar que tudo o que ela escreveu para “Sim” é
essencialmente feminino, com o que há de mais bacana
em uma ótica feminina para abordar com arte temas do
cotidiano de uma mulher: com delicadeza.
Se Vanessa da Mata
continuar compondo e
cantando desse jeito – é
uma das mais belas vozes
dos últimos dez anos –, ela
vai acabar se tornando a
grande cantora-compositora
pela
qual
a
música
brasileira
tanto
vem
clamando há um bom
tempo. Potencial para agradar de montão, ela tem.
Agora só falta o mercado retribuir o sim.
151
152
2. O que
está
aconte cendo?
153
154
Amando o verão
Aqui estou eu dentro do verão. O verão que me
apaixona. O verão que quase me entorpece. E o que vou
escrever agora é, seguramente, para ser publicado na
Internet. Talvez no ótimo portal de variedades para o
qual colaboro sobretudo como cronista musical, talvez
para o também ótimo site
destinado prioritariamente a
escritores amadores, semiprofissionais e afins – e tal
site tem sido há um bom
tempo uma espécie de diário
pra
mim.
Um
diário
psicopoético, pois não escrevo memórias e
acontecimentos nele da forma linear como se faz com
diários, mas sim em forma de poesia, na maioria das
vezes. Parece não haver mais tempo na vida para diários
de papel.
O verão sempre me lembra a minha infância. Uma
infância de menino do interior a nadar destemidamente
e com um prazer inenarrável em rios de águas quase
sempre barrentas. No caminho para tais “balneários” eu
ia pelo asfalto quente – que já derretia em alguns pontos
– com minha bicicleta enorme e velha. Às vezes eu ia
meio que sem destino e adentrava em certas estradinhas
155
escuras pra saber que o tinha no final. Muitas vezes o
que eu encontrava no final de uma dessas vias
misteriosas eram cães muito bravos a guardar sítios e
fazendas. Então corríamos em disparada. Às vezes me
vinha – a mim e a meus dois ou três companheiros de
jornada – uma tempestade. Uma vez deixei meu irmão
de criação horrorizado quando uma enorme tempestade
nos acometeu subitamente e eu disse “graças a Deus!”,
para seu espanto – ele, bem mais velho que eu, estava
aterrorizado com a violência da água e dos trovões. Ele
não compreendeu o meu enorme prazer ao receber
contra o rosto e o peito aquela enxurrada de água gelada
apesar dos riscos das descargas elétricas a ameaçar os
cabos e galhos que margeavam a estrada, e a ameaçar
nossos corpos.
Naquela época, o que eu pensava sobre aqueles adultos
que viviam a dizer coisas do tipo “bons eram os tempos
de criança”, é que eram uns babacas otários. Eu doido
pra ser logo grande e poder fazer “de tudo”, enquanto
eles ficavam reclamando do mundo adulto naquela
atitude ingrata.
Hoje cá estou: um adulto no verão. E o que eu penso?
Como era bom meu tempo de criança. Hoje tenho que
calcular os riscos de uma tempestade. No entanto,
continuo, sim, amando a chuva. E, tenho certeza, ainda
topo tranqüilamente um passeio daqueles.
156
Pós-modernidade chega às telas
Blade Runner – Caçador de Andróides inaugura,
tardiamente, nos anos oitenta, o cinema pósmoderno em Hollywood
Em 1982, ano em que Blade Runner foi lançado em
nossos cinemas, eu estava tão envolvido com o estudo
do sexo oposto que nem tomei conhecimento do filme.
Com 12 anos de idade, Sessão da Tarde, filmes de terror
e revistas de sacanagem me interessavam muito mais
que qualquer estética cinematográfica revolucionária.
Então, só muitos anos depois, numa reapresentação, é
que fui, já na condição de cinéfilo, assistir a Caçador
de Andróides na telona. E o que senti naquela poltrona
do velho cinema é indescritível.
A primeira cena do filme já é acachapante: uma torre
cuspindo fogo no céu escuro de uma cidade fria, caótica
e futurista, com a bela, forte e perturbadora música de
Vangelis ao fundo. Ao fundo nada: a música do grego
157
Vangelis, que está em todo o filme, aparece muitas
vezes em “primeiro plano”, transcendendo à cena em si.
A cidade de Los Angeles do futuro, com seus prédios
piramidais, seus veículos voadores, feita em maquetes,
soa mais real que estas animações feitas com uso de
computação gráfica de hoje em dia – uma maquete é
tridimensional naturalmente e sua presença física é um
fato, diferentemente de alguns efeitos cansativos de
computador, que quase nunca conseguem um realismo
convincente.
Falar da estética de Blade Runner – Caçador de
Andróides é pôr lenha em um tema que serve a várias
teses, dado o tamanho da riqueza visual e sonora
exposta naquele trabalho. Contudo, som e imagem é
pouco. Tudo em Blade Runner serve como material de
estudo. O filme propõe um estudo sobre a contraluz na
fotografia de cinema. Se quisermos uma síntese do
cinema noir, ali está. Se quisermos um estudo sobre a
presença do anti-herói no cinema; se o caso for estudar a
possibilidade do estabelecimento do caos nas sociedades
do futuro; ou a revolução das máquinas – como só no
primeiro Matrix se fez algo de bom nível – ; se o
assunto for a própria pós-modernidade; se pretende-se
fazer um estudo sobre a morte e a imortalidade, o que,
pra mim, são os temas centrais do filme... Enfim,
Blade Runner é um “filme-estudo”.
O autor da estória de Caçador de Andróides é o falecido
escritor Phillip K. Dick, criador também das narrativas
filmadas em Total Recall, de Paul Verhoeven, e em
Minority Report, de Steven Spielberg. Mas o pioneiro
158
em filmar Phillip Dick foi mesmo o irregular cineasta
Ridley Scott, que tem em seu currículo um outro marco
da ficção-científica, que é Alien, o Oitavo Passageiro,
além do mega-sucesso Gladiador. Contudo, é
indiscutível que o ponto alto de Ridley Scott foi mesmo
Blade Runner. Foi naquele momento que o criativo,
produtivo e injustiçado autor de ficção-científica, Dick,
foi revelado ao mundo em sua primeira e mais
contundente adaptação para o cinema, através da lente
caótica de Scott.
A trama de Blade Runner não é complexa, ao contrário
do que alguns pensaram. Um “caçador de andróides” é
contratado para encontrar e exterminar um grupo de
replicantes (como são chamados os andróides do filme)
que fugiram de uma colônia, numa rebelião. Em sua
caçada, ele, o detetive Deckard – vivido por Harison
Ford –, faz uma imersão na L.A. abandonada, úmida e
marginal do futuro. Num futuro em que só as classes
menos favorecidas habitam a Terra. As pessoas com
poder aquisitivo iriam morar em marte. No percurso,
apaixona-se pela replicante Rachel (Sean Young). O
tema composto para o casal é uma das mais lindas e
inebriantes músicas de amor compostas para cinema,
com uma delicada melodia feita no saxofone – hoje o
tema é tocado em propagandas de motel. O sax da
canção faz um bom contraponto com o resto de toda a
trilha do filme, que tem bases predominantemente
eletrônicas. Aliás, o contraste é a tônica de toda a obra.
O contraste relativizando bem e mal é um exemplo
disso: os vilões do filme – no caso os andróides –
parecem mais humanos que as pessoas de verdade.
159
Estava em Blade Runner a materialização da chegada da
pós-modernidade ao cinema americano, onde – ao
contrário do que se propunha com aquela “Era Reagan”,
com os seus “Rambos” – o maniqueísmo foi descartado
sem receios, primando-se o questionamento.
160
Da série "Clássicos pós-modernos"
Clube da Luta é um chute no pescoço: neurônios
podres no ventilador
Violência no cinema não é coisa nascida no final do
último século. É um negócio muito mais antigo. Afinal,
o que foi o western?
Pedagogos não cansam de falar da violência da TV e no
cinema e de como isso é negativo como influência para
nossas crianças e jovens. Para alguns, o fenômeno
Rambo, cria da era Reagan, parece ter sido o fio
divisório entre o entretenimento “sadio” e a produção
audiovisual de violência gratuita. Não sei não. Não sei
se Rambo é mais violento que o “Pica-pau”.
De qualquer forma, podemos citar alguns filmes pósRambo que souberam explorar, de forma crítica e
inteligente, a violência nas telas. Oliver Stone, com
Platoon, Nascido em 4 de julho, Assassinos por
natureza; Martin Scorcese, com Os bons companheiros,
Cassino; e até mesmo o tão criticado Quentin Tarantino,
com seu Pulp Fiction e seus dois volumes de Kill Bill.
O primeiro – Oliver – usou seus filmes para cicatrizar
(ou cutucar) feridas suas (ou da América). Já Scorcese
161
quis mostrar as entranhas do crime organizado, seu
glamour e suas teias. Tarantino pretendeu mesmo é
debochar da violência no cinema – e para tal, usou de
ultra-violência, uma violência, além de cômica, quase
surreal.
Dentre os muitos filmes “violentos” produzidos por
Hollywood, há um que se destaca. Não pela pancadaria
e pirotecnia dos “Rambos”. Não pela crítica à violência.
Mas por tratar – sem maniqueísmo – dos vários tipos de
violência que acometem a sociedade capitalista, como
as violências psico-sociais. O filme é Clube da Luta
(Fight Club, 1999), de David Fincher. É um dos mais
pungentes retratos sobre os efeitos do capitalismo
imbecil já produzidos pelo cinema. Clube da Luta é um
filme único. Sempre que penso em meu cartão de
crédito estourado, ele me vem à mente. Nesse sentido, o
caótico final da trama representa exatamente a utopia
de muitas pessoas. É uma trama com final feliz: otimista
e libertador. O filme não obteve grande êxito de
bilheteria. Não foi muito alugado nas locadoras. E não
foi muito assistido na televisão. Por quê? Primeiramente
por que não é um “filme de luta”, como sugere o título,
e é, inclusive, pouco violento neste aspecto, frustrando
os amantes do gênero. Em segundo lugar, o título não é
o mais apropriado para um filme-cabeça, apesar de
adequado ao enredo – o que leva muitos a pensar que se
trata, exatamente, de um “filme de luta”. Outro
“problema” é a narrativa, mais lenta que o usual no
cinema comercial contemporâneo – isso nos dois terços
iniciais.
162
No Brasil, o filme ainda sofreu com uma espécie de
estigma, causado pelo episódio das mortes provocadas
pelo psicopata num cinema de um shopping em São
Paulo, onde o rapaz disparou seu fuzil contra a platéia
durante uma sessão do filme. E a pergunta não calou:
teria a fita, influenciado aquele ato de extrema
violência? Até hoje busco respostas pra isso. Eu mesmo
não quis assistir ao filme na ocasião do lançamento,
tamanho o choque que sofri em decorrência daquilo.
Mas há relação do filme com o ocorrido? Pode ser que
não – afinal o assassino sofria de distúrbios psíquicos.
Mas pode ser que sim. Assim como há os relatos de
crianças que saltam do décimo andar brincando de
Super-homem. Uma criança que assiste Superman pode
sentir vontade de voar – quantas vezes eu mesmo senti.
Desta forma então, Superman seria um filme ainda mais
perigoso que Clube da Luta ou Rambo, porque aí
estaríamos falando se suicídio infantil. Mas é bem
verdade que não houve suicídios infantis em massa por
causa do Super-homem, fora alguns poucos casos. E é
bom lembrar que Clube da Luta não contém cenas de
tiroteio que pudessem inspirar o psicopata. Talvez o
filme tenha dois tiros. Ou apenas um – não estou certo
agora. E ainda, se formos ver pela ótica da má
influência dos filmes violentos, o que dizer então das
novelas com seus triângulos amorosos? E os comerciais
de televisão, que fazem com que as pessoas desejem o
tempo inteiro possuírem coisas das quais, na verdade,
não precisam – frustrando gravemente os que não
podem comprar. Está tudo errado. Será que a culpa é do
cinema? O cinema é um reflexo da sociedade, ou viceversa? Essa é uma questão que dá pano pra manga.
163
Deixa pros psicólogos, sociólogos e filósofos em geral.
E, destes, para quem ainda não usou Clube da Luta em
algum de seus trabalhos, aí fica a dica.
Mas, hei de convir, inócuo o filme em questão não é.
São neurônios podres do homem pós-moderno jogados
no ventilador. Os (anti) heróis do filme são Jack
(interpretado por Edward Norton), que está
decepcionado com a monotonia de sua vida, e seu novo
amigo Tyler Durden (Brad Pitt), um vendedor de
sabonetes que faz exatamente o que deseja com a sua.
São dois opostos. O “Clube da luta” do título é uma
invenção de Durden. Em algum local, homens lutam,
não para vencer, mas pelo simples prazer de lutar –
como uma volta ao estágio primitivo do ser humano.
Uma forma estranha de busca de satisfação e autoconhecimento. Para Jack, o clube é uma alternativa de
livrar-se da roda-viva capitalista, mostrando-se bem
mais eficaz que os grupos de auto-ajuda que ele vinha
freqüentando. Mas lutar como lazer e catarse não é o
único objetivo de Tyler Durden, líder do clube. Ele tem
projetos mais ambiciosos. No entanto, este é o tipo de
filme em que não se pode contar muita coisa – é claro,
estou me dirigindo principalmente a quem ainda não
assistiu, e sei que muitos não viram – , pois há algumas
boas surpresas no roteiro extraordinariamente
estruturado. Mas o clima não é barra-pesada. Apesar de
tratar da violência, o filme tem muito humor. Negro,
mas tem. E não há violência como um nervo exposto à
la Tarantino. É um filme “também” sobre a violência.
Mas não apenas isso. É sobre a mente humana. E sobre
o que o mundo capitalista fez com a mente humana. As
164
situações são realistas e alegóricas ao mesmo tempo.
Por exemplo, é compreensível o comportamento de
Jack, levando-se em conta a paranóia do universo
urbano em que está imerso. Há também, na vida real,
muitos canalhas simpáticos e carismáticos como Tyler
Durden. Mas quem vê o filme percebe: na soma de tudo,
a situação filmada é insólita, só mesmo num filme
acontece aquilo ali – aquilo que eu não posso dizer aqui.
Pode até acontecer, mas não exatamente daquela forma.
Quando à hipótese de um filme como esse gerar
violência, ainda não cheguei a uma conclusão. Pode até
ser que sim, para algumas pessoas extremamente
sugestionáveis e com tendências violentas e rebeldes.
Mas Tyler Durden não é mais cruel que o Pernalonga
ou o Pica-pau. E uma coisa é certa: Clube da Luta gera
mais reflexão que a maioria das produções milionárias
que vêm sendo produzidas ultimamente. É um filme que
faz pensar. Pensar muito. E pensar é um ato humanista.
165
O Bertolucci que me faltava
Eu, cinéfilo de meia-tigela, não conhecia La Luna
Foi há muito tempo – há muito tempo mesmo – numa
sessão das oito no extinto Cine Guanabara que estava
eu, acompanhado de um amigo e sua família católica,
num cinema completamente lotado para assistir a Jesus
de Nazaré, de Franco Zefirelli. Contando há quem não
acredite. Depois de passarem o saudoso programa Canal
100, com os jogos de futebol magistralmente registrados
em película, vieram os traillers, que, para espanto geral,
não eram, naquela noite em especial, muito ortodoxos,
ou seja, não eram muito católicos – entre a meia dúzia
de filmes anunciados antes da atração da noite, havia
pelo menos 3 deles com cenas de sexo. Uma cena com
um casal fazendo amor na praia com seus corpos na
penumbra, outra com um casal nu, agarrado, rolando na
grama, outra com um bacanal num saveiro e um rapaz
se masturbando freneticamente. Um dos filmes eu me
lembro do nome: O Sol dos Amantes, do qual nunca
mais ouvi falar. Bem. O pai católico à minha esquerda
tapava os olhos da filha de 8 anos. Os adolescentes nas
fileiras de trás assoviavam de forma entusiasmada. Não
é sonho. Isso aconteceu mesmo. E estávamos ainda na
ditadura militar, saibam. Só que o Cine Guanabara era
um tipo de território livre, anacronicamente às avessas.
166
À beira da falência, aceitava menores pagantes para
assistir a pornochanchadas. Eu mesmo fui um deles,
sempre na esperança – e quase sempre na certeza – de
poder entrar pra ver filmes proibidos para menores. Mas
o caso dos traillers na sessão de Jesus de Nazaré foi
mesmo o cúmulo da falta de organização e de vergonha.
Quanto às famílias católicas, ao zeloso pai a tapar os
olhos da filha, eu fico imaginando o que sentiriam se
assistissem La Luna, de Bernardo Bertolucci. Eu não
sabia, La Luna foi exibido nesta mesma época naquele
cinema. Outro dia uma amiga me falou sobre o filme,
que assistiu naquela sala e gostou muito. Me
surpreendeu que ela tivesse mesmo gostado do filme, já
que, embora eu ainda não o conhecesse, sabia se tratar
de um filme com uma trama que envolvia o assunto
incesto. Um detalhe importante é que minha amiga é
evangélica. Isso poderia fazer pensar que ela atiraria
pedras no filme. Mas, ao contrário, ela me descreveu o
filme como muito belo. Mas há um detalhe sobre essa
minha amiga. Ela é muito ligada a temas psicológicos,
leitora de Freud, Piaget e toda sorte de livros de
psicologia. Isso explica, em parte, o fenômeno. Voltarei
a falar sobre o filme com ela, qualquer dia desses.
La Luna, produção americana dirigida por Bernardo
Bertolucci, rodada em Roma, produzida em 1979, é um
filme que não poderia ter passado tão despercebido
como passou. Um moralismo da indústria
cinematográfica – ou do próprio público, o que é mais
provável – pode explicar o fato dum filme brilhante
como este viver nesse ostracismo. Só no último
167
domingo tive a chance de assisti-lo em meu DVD. Era o
Bertolucci que faltava pra mim. O filme praticamente
não é citado em listas, por isso não havia gerado meu
interesse – eu, um pequeno fã da obra do grande diretor
italiano vivo. Como eu pude não ter visto La Luna
antes? É assim mesmo. Há também filmes do Wood
Allen os quais ainda não vi. Até o emblemático
Persona, de Ingmar Bergman, só fui assistir há poucas
semanas, veja só.
Não é a primeira vez que escrevo sobre Bertolucci e
sexo para este site. Quando se pensa nesses temas
associados, logo nos vêm à mente Último Tango em
Paris, Beleza Roubada, e Os Sonhadores. Assistindo a
esses 3 filmes temos a nítida impressão de que poucos
cineastas falam de sexo com tanta contundência. Mas é
importante evidenciar que o sexo não é tudo nesses
filmes, e sim parte inseparável de um todo, como é a
vida. De qualquer forma, para Bertolucci são preferíveis
estórias que envolvam famílias atípicas. E para minha
surpresa, o último limite da atipicidade eu viria
encontrar, tardiamente, no filme La Luna. Com uma
atuação hipnótica da, infelizmente, quase desconhecida
atriz Jill Clayburgh, La Luna conta a estória de
Caterina, uma mulher que vive intensamente uma
relação de afeto (amor, ódio, busca de auto
conhecimento) com seu único filho. Joe, o belo
rapazinho de dentes irregulares, o menino de cidadania
americana, não sabe que é filho adotivo por parte de pai,
assim com não sabe que é italiano, e filho de um
italiano. Com a morte do infeliz pai americano – é
impressionante a cena do enterro –, mãe e filho viajam
168
para a Itália onde buscam reencontrar o rumo das suas
vidas. Respeitada cantora de ópera, Caterina vê diante
da nova vida um vigor esquecido. Aprimora seu canto,
intensificando-o, e sendo cada vez mais reconhecida por
seu talento. Tenta reaproximar-se afetivamente do filho
– algo que houvera negligenciado em sua infeliz vida na
América. Nesta busca pelo entendimento do (e com o)
filho, descobre que ele está viciado em heroína. Então
abandona a música – ofício no qual depositara toda sua
paixão – para dedicar-se ao confuso e dependente rapaz.
No entanto, a não menos confusa e dependente mãe,
com essa intensa aproximação, deixa aflorar em si
sentimentos em relação ao filho que personificam o
mais rígido dos tabus sexuais, numa montanha russa de
sentimentos, que falam de culpa e desejo, de interação
entre presente e passado. Talvez falem de um passado
mal resolvido à costa do Mediterrâneo.
Sim, perturbador e cheio de humanidade, La Luna é,
sem dúvida, o mais chocante filme de Bertolucci. E
certamente um dos mais chocantes filmes já produzidos.
Um prato cheio, uma refeição completa para os
freudianos, e indigesta para os puritanos. O que diria o
papai à sua filhinha diante de algumas cenas do filme?
O que diriam aos seus filhinhos as cuidadosas mães que
jamais pararam para pensar no assunto. Que assunto? O
fio, tenso ou frouxo, porém irrompível, que liga mães e
filhos, do nascimento até sempre. A frágil fronteira
entre os sentimentos que regem o nosso estar social e
sexual, orientando nosso comportamento regulado por
mecanismos morais de defesa. A proximidade entre
libido e afeto. De fato. Não sejamos radicais. Este não é
169
mesmo um filme para se assistir em família, depois da
novela. Ele não deve, na verdade, ser assistido por
qualquer pessoa. Seu público é específico. A intensa
viagem psicológica de La Luna, me faz agora ver o
eterno Último Tango em Paris como um mero passeio
sensual – e olha que estou falando deste que é um
clássico indiscutível do cinema erótico.
E ainda há tempo para outros temas em La Luna. A
música, por exemplo, é de uma força impressionante no
filme. Em alguns momentos ela é algo orgânico para a
trama, como a seqüência da chegada do piano, ou como
na emocionante cena final. Os bastidores da ópera
ocupam também lugar de destaque, em cenas
especialmente atraentes – poucos filmes não-musicais
tiveram sets de ópera tão bem cuidados. Toda a relação
da personagem central com sua própria voz é de uma
emocionante musicalidade. Até mesmo quando grita,
Clayburgh é musical. O contraste de culturas também é
tocado pelo filme. O rapaz americano, com seus tênis
All Star, é mostrado como um corpo estranho nas ruas
de Roma. Sofre com a solidão. E como se sentem
solitários Caterina e Joe...
Com roteiro original do próprio Bertolucci (toda e
estrutura e construção dos personagens pode fazer-nos
pensar que se trate de um roteiro adaptado), e a bela, e
em muitos momentos inventiva, fotografia de Vittorio
Storaro, este é o filme que salvou meu domingo de préverão. Apesar do tema espinhoso e enfumaçado, o filme
é, na verdade, um domingo. Um domingo de sol ao Mar
Mediterrâneo.
170
Mais Bertolucci e sexo
A manteiga virou margarina light – sem problemas
Quando se soube que
Bernardo
Bertolucci
rodava um novo filme
bastante erótico – falo de
Os
Sonhadores
(The
Dreamers, 2003) –, muito
se alardeou tratar-se de
uma espécie de reedição de Último Tango em Paris
(Last Tango in Paris / Ultimo Tango a Parigi, 1972).
Não foi.
Não que Os Sonhadores seja pior que o Último Tango
em Paris. Acho até que eles merecem, sinceramente,
igual número de “estrelinhas”. Mas o fato de os dois
filmes terem como tema central o sexo e da trama se
passar em Paris, não os torna filmes idênticos.
Entretanto, obviamente, não são díspares.
Na época do “Tango”, Bertolucci era um jovem cineasta
com 32 anos de idade e um enorme desejo de chocar o
mundo, e com isso ficar rico e famoso. Com a aposta do
produtor Alberto Grimaldi, conseguiu as três coisas. Fez
um filme desses que são clássicos indiscutíveis, ousado
na forma e no conteúdo – diga-se o certo: mais na forma
171
que no conteúdo. Um filme bilíngüe – o que poderia
trazer dificuldades, mas acabou lhe conferindo charme.
Com um roteiro não muito bem amarrado: são jogadas
na tela as tórridas cenas de sexo entre um, ainda, viril
Marlon Brando e uma linda, magra e de seios fartos,
Maria Schneider. O sexo nunca tinha sido mostrado
daquela forma em um filme sério. Realista. Brutal.
Visceral. O sexo como fuga, para a tragédia pessoal da
vida do personagem de Brando, e como anestesia, para
as dúvidas existenciais da jovem insegura e prestes a se
casar, vivida por Schneider. Como pano de fundo para
seu Kama Sutra, Paris. Dessa forma o mundo inteiro
pirou. E parou para contemplar o escândalo. É obvio
que o filme tem grandes qualidades – grande fotografia,
grandes atores. Mas a época fez de Último Tango em
Paris, Último Tango em Paris. Sabe como é? O filme
certo na época certa. E o ineditismo daquilo tudo. Mas é
bom lembrar aos desavisados que não estamos falando
de um filme comercialmente apelativo, com base
meramente no sexo: Último Tango em Paris é denso e
triste. Mais tarde, em 1976, Nagisa Oshima faria o seu
“tango”, com direito a sexo explícito, no não menor O
Império dos Sentidos.
Mas o que houve com o belíssimo Os Sonhadores? Por
que não repetiu – nem de longe – o sucesso de Último
Tango? Vamos ver. Tem Bertolucci? Tem (e um
Bertolucci rodado, consagrado, laureado com os nove
oscars de O Último Imperador em 1987 e uma coleção
de sucessos. Um cineasta, aos seus 63 anos de idade,
com completo domínio de suas intenções
cinematográficas). Tem sexo? Tem. E tem muito. E tem
172
os belos corpos de jovens atores. E tem, na íntegra e em
sua plenitude, o corpo da boa atriz Eva Green – o que
não é pouca coisa. Aliás, feeling pra descobrir sensuais
e belas atrizes é uma coisa que Bertolucci sempre
mostrou ter, e isso merece mais um parêntese (a
primeira grande descoberta foi Maria Schneider, que
trabalhou no Último Tango. Em Beleza Roubada
(Stealing Beauty, 1996) – considerado um filme
“menor” de Bertolucci: até hoje não entendo o motivo,
pois o filme é todo, todinho bom, sendo, provavelmente,
o meu filme preferido do diretor – foi a vez de Liv
Tyler, que quase me fez enlouquecer. Depois, em
Assédio (L’Assedio, 1998), ele nos trouxe a beleza
negra de Thandie Newton. E, por fim, essa Eva Green.
Poderia ter melhor nome a moça?).
Mas falávamos sobre o porquê de o filme não ter obtido
o sucesso esperado. Os Sonhadores é uma obra de arte.
É uma característica do grande público, rejeitar qualquer
filme que lembre um “filme de arte”. E o fato de o filme
ter cenas de nu frontal, alguma sugestão de incesto, não
foi o suficiente para arrebatar as platéias. Estamos na
era do filme pornô. É natural que cenas como as que
mostram a moça acariciando, em plano explícito, o
pênis do seu hóspede, ou a cena dos três na banheira, ou
a em que a menina é desvirginada, exibindo o seu
sangue, choquem hoje menos, muito menos do que a
cena da manteiga – de “Tango” – chocou os
espectadores nos anos setenta. Naquela época as pessoas
não tinham filmes pornôs em casa.
173
É uma pena que isso tenha acontecido com Os
Sonhadores, que assim como Último Tango, não é
simplesmente um filme sensual. A trama fala sobre a
juventude parisiense de 1968. Na contramão daquele
momento histórico, três jovens se trancam num amplo
apartamento e passam dias ali, descobrindo sua
sexualidade e discutindo cinema, divertindo-se como
crianças, completamente alheios aos movimentos
político-estudantis de esquerda e a tudo o que se
desenrolava a pleno vapor, com o avanço da juventude
engajada pelas ruas da capital francesa. O filme não tem
muito mais que isso. E é assim mesmo – estamos
falando de cinema minimalista, o que Bertolucci nunca
deixou de fazer – sendo esta uma de suas marcas.
Mesmo que, hoje, ele tenha perdido, não por culpa sua,
a capacidade chocar as pessoas, o filme em questão
pode ser tudo, menos “inofensivo”. Eu mesmo, confesso
que fiquei chocado. Beleza, arte e minimalismo – do
qual o diretor usara e abusara no belo filme O Céu que
nos Protege (The Sheltering Sky, 1990), e porque não
dizer, também em Último Tango em Paris – sempre vão
chocar alguém. Os Sonhadores possui esses
ingredientes, e é uma obra de arte pungente, mesmo.
Bacana também é ver a estupefação do cineasta no set
de filmagens em meio aos jovens atores completamente
nus, no making of do dvd. Não dá pra não ver.
174
Adultério à americana
Show de Kate Winslet em filme médio
que merece ser visto
Meu editor está esperando
até hoje um texto meu sobre
um Dvd nacional. Sei que a
safra de nacionais nas
locadoras é muito boa, mas –
não sei por que motivo – só
vem filme americano na
minha cabeça. Mas eu chego lá, e ele há de ter paciência
com este ser colonizado culturalmente.
O que posso dizer sobre o filme Pecados Íntimos
(Little Children) estrelado pela, cada vez melhor, atriz
Kate Winslet, lançado há pouco? Numa palavra, o
filme é regular. Sabem como é: umas três estrelinhas, no
máximo, ou o bonequinho do mais popular jornal
carioca sentado, assistindo sem aplaudir. Mas não seria
melhor eu usar este espaço só para fazer crônicas sobre
ótimos filmes? Não sei. Só sei que Pecados Íntimos,
apesar de um tanto novelesco, não é desinteressante. O
que tem nele? Tem uma das melhores – se não a melhor
– atuação de Kate Winslet. Tem boas soluções estéticas.
Tem tórridas, e ao mesmo tempo sutis e lindas, cenas de
sexo. E tem – aí vai o xis da questão – o final mais
desconcertantemente moralista do cinema americano
175
desde Atração Fatal, de Adrian Line. O adultério, que é
o tema de Pecados..., é um dos temas preferidos do
cinema, como sabemos todos. Este assunto delicado e
tão presente na vida humana – e até animal – foi
magistralmente mostrado no recente Closer – Perto
Demais, baseado em peça homônima de sucesso. Este
sim um grande filme. A trama de Pecados... é até
verossímil. Ainda que não empolgante, prende o
expectador, mas me parece grossamente arrematada –
não pela forma, mas pelo conteúdo.
A vida é doce. E doce é o sexo. E doce é a aventura da
paixão. E sofrível é o conjunto de desejos não realizados
de cada indivíduo desta nossa western civilization. Os
cinco personagens que estão no centro do roteiro de
Pecados Íntimos são, essencialmente, pessoas
excepcionalmente frustradas. Mas nada que fuja do real
– e disso não podemos reclamar do filme. São eles: o
marido, advogado desempregado que não consegue ser
aprovado no “exame de ordem”; sua esposa, a executiva
aparentemente viciada em trabalho – e quase todo vício
é escape para uma frustração; o outro marido bem
sucedido profissionalmente, que se masturba diante do
computador, apesar de ter uma bela esposa em casa (a
qual só ele e ela própria não conseguem achar
maravilhosa, já que estamos falando de Kate Winslet); a
esposa em questão agora, entediada com a confortável
vida de dona de casa e mãe relapsa, e com o pouco caso
do marido; e, por fim, o homem que é posto em
liberdade, após ter sido detido por atentado ao pudor –
um homem com sérios problemas psíquicos, mas sem as
características de um estuprador, apesar do estereótipo
176
que o estigmatiza perante a sociedade local. Os cinco
personagens mencionados têm algo mais em comum
além de serem pessoas frustradas. Eles são um tanto
inocentes. Um tanto quanto infantis, ingênuos. Há
crianças no filme. Elas sempre aparecem. Mas é nos
adultos pueris (alguns naturalmente sonhadores) que
está o foco – daí o ótimo e adequado título original
Little Children. Entretanto há algo incômodo na
abordagem dada: o moralismo do final da trama – no
que Iza Calbo disse que eu não devo jamais contar – ,
onde casamentos extremamente infelizes são mantidos
(droga! contei o final). Há eventos que levam a esse
desfecho, mas isso se dá também por conta dos filhos,
como reza a tradição ocidental-judaico-cristã. E aqui
não estou falando de casamentos mornos não – são
casamentos verdadeiramente infelizes aqueles ali. Até
um pastor protestante desaprovaria a manutenção
daqueles casamentos. Mas o roteirista (ou escritor – não
sei se o roteiro é original ou adaptado) preferiu assim.
Fazer o que?
Mas, calma. Isso que fiz de falar sobre como tudo
termina não é como contar o final do filme Sexto
Sentido, ou de Os Outros. Eu disse pouco sobre a
trama, e o que eu contei não vai comprometer sua
apreciação.
Os psicólogos, sobretudo sexólogos, podem gostar
muito do filme – gosto mesmo de indicar filmes pra
psicólogos. Este Pecados Ìntimos pode ser um grande
instrumento para estudo da sexualidade pós-moderna,
177
incluindo aí a instituição família. E ver miss Winslet na
telinha faz valer o aluguel do Dvd. Isso eu garanto.
178
Passeio pela cidade (santa)
do Rio de Janeiro
Rio, mês de janeiro, trinta e oito graus na pequena Praça
Tiradentes. Foi quando eu e Mary adentramos a
monumental Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro.
Igreja vazia. Dois rapazes que haviam acabado de
limpá-la já saíam. Mais duas pessoas tocando órgão
baixinho na parte superior às nossas costas. Sentamonos em bancos distantes: ela mais à frente. Nunca
havíamos entrado lá. Entre as coisas que eu pensava e
aquelas que eu não sei se ela pensava, estávamos
encantados com o deslumbrante – ainda que não
suntuoso – interior da catedral, que me parece ter
arquitetura neo-gótica. Casal esquisito: um ateu e uma
crente no interior de um templo. Eu interessado em
entender os crentes. Ela, entre coisas que eu nunca vou
saber, interessada em entender um pouco da história da
Igreja e, também, como de costume, orar. Não que seja
costumeiro ela orar em igrejas. Refiro-me simplesmente
ao fato de a oração fazer parte da sua vida.
Fome. Mas ainda assim gastamos um tempinho e fomos
almoçar em Copacabana. Depois passeamos pelo bairro,
até que fomos, já meio fora de hora – pois o sol estava
um maçarico –, a um quiosque no calçadão. Um chope
179
pra mim e um suco de laranja pra ela. Como quase não
vinha brisa do oceano, caímos logo fora, depois de
conversarmos um pouco sobre a vida. Dentre as várias
coisas que falamos, a possibilidade – remota – de
moramos num lugar como Copacabana.
De volta, no metrô, apreciamos uma pequena e bonita
família que conversava ora em inglês, ora em hebraico,
enquanto esperava. Estavam sentados ao nosso lado
reclamando do calor: pai, mãe, talvez a sogra da mãe e
um bebê lindíssimo com olhos azuis como o céu
daquele dia de verão do Rio. Então, intrometido,
perguntei, referindo-me ao bebê, se era a primeira vez
dele no Brasil. A mamãe muito simpática respondeu que
sim. Perguntei se ele era polonês – a mulher o havia
chamado de polonês. Então ela me respondeu que ele
era israelense, com família de origem polonesa. Então
aquilo me fez pensar um monte de coisas. Fiz um
recorte temporal que dava da Segunda Guerra até a atual
situação na Faixa de Gaza. O Holocausto, a Guerra dos
Seis Dias, as intifadas, o Hamás, e tudo o que permeou e
moveu a questão palestino-israelense nas últimas
décadas. Estariam eles de férias? Estariam fugindo da
instabilidade daquelas terras de Sião? O neném estava
cagado – eu pude sentir com meu olfato bastante
aguçado. É. Cheiro de cocô de neném é o mesmo em
qualquer etnia.
Qual seria a ligação entre a bela Catedral Presbiteriana e
o bebê judeu? Puxa vida. Se pararmos pra pensar, são
muitas as ligações. Nas areias de Copacabana os
humanos reverenciavam – e torravam como cordeiros
180
submissos – ao deus sol. O deus sol, chamado pelos
antigos persas de Mitra, que devido a circunstâncias
políticas, perderia status para outros deuses pertencentes
a grandes impérios vindouros, com destaque especial,
claro, para o deus hebraico de nome hoje
impronunciável, que em adaptações lingüísticas livres
chamamos de Javé, Jeová, ou, como Bob Marley, Jah.
Javé, que foi o deus imediatamente mais popular depois
de Zeus, tornaria-se, como sabemos, o nosso Deus
cristão, junto com Jesus e o Espírito Santo, na
inquestionavelmente
confusa
Trindade
Divina.
O bebê israelense não sabe de nada disso. Um dia
saberá uma verdade. E será uma verdade cultural – e
nada além disso. Contudo uma verdade cultural não é
pouca coisa. Talvez até não exista outro tipo de verdade.
A catedral que visitamos é uma verdade. Ela está lá,
linda. É uma verdade tangível, física. E o silêncio do
seu interior pode gritar aos ouvidos de quem tem um
pingo de sensibilidade. Seu grito pode ser em forma de
sua explosiva estética arquitetônica, em forma de
reflexão histórica, em forma de convite à oração. Ela
existe não menos que o bebê, e carrega em si uma
compilação histórica implícita não menos complexa que
a que está em toda a herança genética e cultural daquela
criança e sua família. O Deus da catedral evangélica é o
mesmo deus hebraico da família do bebê. Será aquela
criança, um homem do século XXI, capaz de
compreender uma cultura que a cada dia sofre um
desnorteante acréscimo de elementos? Eu, que sou uma
criança do século passado, estou bastante confuso.
Porém não menos maravilhado.
181
O dia em que uma cidade sorriu
diante da morte
Foi no município de Mendes, mas poderia ter sido em
qualquer pacata cidade do nosso sul-fluminense. Em
qualquer cidade do mundo.
Mendes sorriu. Três rapazes mortos eletrocutados. Seus
corpos carbonizados, e, diante do quadro, uma platéia a
comemorar a morte deles. Fotos espalhadas por toda a
cidade. A tragédia transformada em espetáculo. Parece
que nossos pacatos moradores não são muito diferentes
dos de qualquer metrópole: são também insensíveis e
cruéis.
Vivemos em um país dito cristão. Todo cristão deve
conhecer a passagem bíblica em que Jesus proclama
“...aquele que não tiver pecado que atire então a
primeira pedra”. No entanto, a multidão de “santos”
sentiu-se no direito de rir da desgraça alheia. Como se
todos nós vivêssemos rigorosamente dentro da lei. Eu
pergunto: quem nunca comprou um CD pirata ou outro
produto ilegal? Quem nunca se apropriou de
absolutamente nada que não era seu? Quem nunca
praticou sonegação fiscal? Quem de nós exige nota
fiscal por um cafezinho ou um drops? E é bom que se
saiba que quando deixamos de pedir uma simples nota
182
fiscal – e nossos estudantes nem sabem o que é isto –,
estamos desviando dinheiro que poderia estar indo para
a saúde e para a educação, por exemplo.
Pois bem. Num sistema falho e corrompido – do qual
somos coadjuvantes – ainda temos que conviver com a
hipocrisia de parte da população que se considera gente
100% honesta, e que acha mesmo que a morte dos
rapazes foi justa e oportuna. Alguns chegaram a
lamentar o fato de um deles ter sobrevivido. Foram
cabos elétricos. Mas se eles tivessem sido assassinados
por uma milícia paramilitar – como essas que há nas
favelas do Rio – o povo mendense não estaria menos
satisfeito. Não me refiro a todo cidadão mendense,
obviamente.
Aqueles jovens não nasceram ladrões. Não nasceram
delinqüentes. E não tiveram tempo de se redimir. E,
minha gente, isso não é engraçado. Não é satisfatório.
Nenhuma morte pode ser considerada satisfatória. Se
nossos adultos e anciãos fossem mais eficientes e justos
(e não me refiro aos pais deles, e sim a toda nossa
sociedade), casos como este poderiam ser evitados.
Países com alto IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) – como Canadá e Finlândia – possuem
baixíssimo índice de criminalidade. Praticamente não há
roubos e furtos nas cidades finlandesas. Quanto a nós?
Não temos educação de qualidade, não temos
capacitação profissional, não temos empregos
disponíveis, não temos distribuição de terra e renda:
somos uma sociedade falida em todos os sentidos. Então
resolvemos nossa angústia diante desta impotência
183
como cidadãos, comemorando a morte de três rapazes
pobres que tentavam furtar cabos. Estamos de parabéns.
184
Nossas pobres elites
O Brasil não se cansa de discutir “Tropa de elite”.
E é apenas o começo
Muito bom que seja assim. E olha que o lançamento
oficial, nos cinemas, é só agora no começo de outubro –
e todos nós, contraventores que somos, já vimos o Dvd
pirata. O filme ainda vai gerar muita discussão. Tem
muito pano pra manga ali. Mas, afinal, o que a imprensa
e a opinião pública ainda não disseram sobre o polêmico
filme? Acho que quase tudo já foi dito. Quase. O fato é
que o filme é rico de subliminaridades, além dos
discursos ultra-diretos – e frágeis.
Antes de falar mais, vou avisando: “Tropa de elite”,
dirigido por José Padilha, e tendo no papel principal um
irretocável Wagner Moura, é um dos melhores filmes
brasileiros de todos os tempos. Faz bem para o nosso
cinema. Agora... Se o filme faz bem para a nossa
sociedade, eu não sei. E receio que não faça.
O filme passa mensagens que merecem discussão. Não
vamos ficar só nessa de “que filmaço!”. É um grande
filme? É. É super bem realizado? É. “É
preconceituoso?” Como é... Chega a ser simplista. Mas
185
estamos no Brasil. Em que outro lugar uma força
policial usa uma caveira como símbolo? O mesmo lugar
que produz um filme que, entre outras controvérsias,
endossa a tortura como método de se obter confissão.
Não há imparcialidade na visão do filme: o
herói/protagonista é um assassino torturador. E o pior:
todas as torcidas estão com ele. E pior ainda: têm-se a
impressão de que “o filme” espera causar na população,
exatamente esse sentimento de simpatia pelo “honesto”,
sádico e perturbado Capitão Nascimento, personagem
central da trama. E pra fechar a tampa do caixão:
consegue.
É muito fácil botar na conta dos traficantes e dos
consumidores de droga todas as mazelas do Rio de
Janeiro. Numa das cenas finais – meio que dando a
“moral da história” –, em uma dessas passeatas pela paz
– mais especificamente por luto a um rapaz assassinado
–, um policial invade o “cortejo” e dispara sua
indignação dizendo mais ou menos isso: “toda essa
violência é culpa de vocês, seus maconheiros...”. É esse
novo mote que agora tanto se diz de “quem compra
droga está patrocinando a violência do tráfico”.
É obvio que isso de fato ocorre. Entretanto, tal discurso
tenta simplificar ao extremo as diversas questões sociais
envolvidas. Chegar para um médico que fuma maconha
nos fins de semana e dizer que ele é um patrocinador da
morte de vários jovens, não seria o mesmo que dizer,
caso não fosse maconha, e, sim, cerveja, que sua
cervejinha está contribuindo para uma indústria que é
responsável por um dos maiores índices de mortes
186
registradas no país: as mortes por acidentes de trânsito,
provocadas por motoristas embriagados? Isso sem falar
na violência doméstica e todos os outros tipos de
violências praticadas com o “auxílio” do álcool.
A droga ilícita é um problema mundial hoje. Mas e o
alcoolismo, com sua feroz e lícita propaganda? Não é?
Ah... Mas aí entram as grandes corporações. Não são
meros traficantes infelizes malocados no alto dos
morros. São mega-empresas. Não se mexe com quem
paga grossos impostos, não é assim? Então vamos fazer
dos traficantes – e agora também dos usuários – os
vilões da derrota social deste país, e, sobretudo das
nossas metrópoles. Os traficantes e os “maconheiros”
não são mais produtos da sociedade que fracassou. Esta
que fracassou na geração de empregos, fracassou na
distribuição de renda e de terra, fracassou na educação
etc. Os bares entopem nossos adolescentes de álcool – o
mesmo álcool que os pais bebem em casa. Dali, já se
sabe o destino de tudo. Mas quem é que vai prender os
donos das cervejarias? Eles estão dentro, e
absolutamente dentro, da lei vigente. É bem mais fácil
torturar e matar jovens favelados, sem perspectivas.
Seria a nossa elite policial (o BOPE do filme – que
dizem ter sido tão bem retratado) um reflexo da nossa
elite política? Seria um reflexo das nossas oligarquias?
É esta a polícia que nós queremos? Será que nosso país
rico e miserável, mergulhado numa coisa que chamam,
erroneamente, de guerra civil vai ter que começar a crer
em “Rambos”?
187
Fiquei sabendo que há várias escolas passando em sala
de aula o Dvd (pirata, obviamente) de “Tropa de elite”
como filme didático. Talvez com uma proposta de
“didática anti-drogas”. Anti-drogas, pró-violência e própirataria. Nosso cinema vai bem. Mas nosso povo...
188
Viver é muito perigoso
(e a culpa não é dos hippies)
Não é mole não. João Guimarães Rosa escreveu: “viver
é muito perigoso”. O perigo me emociona. A dor e a
angústia alheia, mais ainda, me emocionam
profundamente. Os atos de heroísmo de determinadas
pessoas me emociona – talvez pelo meu questionamento
íntimo em face da possibilidade ou não de ser eu mesmo
um pequeno herói. Hoje amanheci com o telejornal
noticiando uma coleção de desgraças em profusão.
Desastres naturais, incidentes aéreos e acidentes
rodoviários, desastres familiares, desastres sociais de
todo tipo, e, sobretudo, guerras. O conflito armado entre
Israel e Palestina na Faixa de Gaza, as guerras no
continente africano... Nos Estados Unidos, a história de
um piloto que conseguiu evitar a morte dos passageiros
do avião que houvera sido acometido de uma pane
causada pela entrada de urubus em uma das turbinas que
explodiu. O corajoso piloto fez um pouso de emergência
em um rio e ninguém morreu. Ele se arriscou entrando
duas vezes de volta ao interior do avião que estava na
água, pra verificar se ainda havia alguém lá dentro.
Então, diante de tudo o que vi, não tive como não
chorar. E chorei bastante. Antigamente o meu horário de
chorar diante dos telejornais era à noite. Agora me pego
chorando logo pela manhã, e isso me é uma novidade –
sempre tive na vida amanheceres mais leves e felizes,
189
como um passarinho que festeja a chegada do dia. Os
dias estão bastante pesados e está cada vez mais difícil
amanhecer cantando.
Em Brasília crianças vendem e fumam crack a menos de
três quilômetros do palácio do planalto, área de
segurança nacional. Já cansei de ver gente culpando
Bob Dylan e os Beatles por isso. Quantas vezes os
músicos dos anos 60 e 70 não são responsabilizados
pelo alargamento do uso de drogas ilegais e pelas
conseqüências advindas disso? Puxa vida. Substâncias
alucinógenas ou alteradoras dos estados de consciência
existem desde os primórdios da história humana. Elas
sempre foram usadas sem muitas restrições, seja
recreativamente, seja como recomendação para a saúde,
seja em forma de experiência religiosa. Cerveja, vinho,
ópio, são coisas muito antigas. A própria Bíblia
Sagrada, chega, em alguns versículos, a recomendar o
uso de vinho, tratando-o como uma bebida que “traz
alegria” – em outros versículos restringe o uso, verdade
seja dita. Fato é que substâncias “chapantes” fazem
parte da construção da história humana, em bons e maus
momentos. Em felizes celebrações, assim como em
situações embaraçosas e tristemente constrangedoras.
Mas o rock e os hippies, não raro, são hoje
"historicamente" apontados como os culpados pela
disseminação do uso de drogas. É fácil apontar
culpados. É mais fácil do que tentar compreender as
intrincadas redes histórico-geográficas, com seus
diversificados nós, que lavaram o mundo atual a ser
como é. Só que precisamos de explicações e de
soluções. Crianças não deveriam estar fumando crack.
190
Crianças não deveriam ainda hoje estar sendo
estupradas – esta uma prática comum em todas as
épocas anteriores da humanidade. Crianças não
deveriam estar sendo mortas em conflitos territoriais,
como na Palestina (estes nada têm a ver com consumo
de drogas ilegais). Crianças não deveriam estar fora da
escola, ou freqüentando a escola só para poder comer –
em escolas que não conseguem sequer proporcionar
uma alfabetização decente. Crianças não deveriam estar
sendo induzidas ao consumo de cerveja através dos
famigerados comerciais de televisão. Acontece que
desde que o mundo é mundo, desde que existe
‘humanidade”, as crianças tentam copiar os adultos.
Acontece que os adultos são, na verdade, crianças. São
crianças grandes, nada além disso. No seu livro História
Social da Criança e da Família, o escritor francês
Philippe Ariès relatou o fato de que na Idade Média não
se tinha a noção de criança que se tem hoje. A criança
era apenas um adulto em miniatura. Sua vestimenta era
adulta, e até mesmo a representação de seus rostos em
pinturas lembrava muito os rostos de pessoas adultas.
Hoje percebo algo em caminho inverso: os adultos são
crianças em tamanho aumentado. Talvez sempre tenha
sido assim. Adultos brincam o tempo inteiro. Brincam
de polícia e ladrão. Praticam jogos de guerra. Esperam
por proteção divina como uma criança espera pela
proteção do papai e da mamãe. Esperam por alguém
para resolver seus problemas enquanto brincam. Em
suma: esperam pelo herói. É daí que vem o sucesso de
Jesus, do Superman, do Homem-aranha e do piloto de
avião que ontem fez o magistral pouso de emergência
naquele rio próximo a Nova York. Somos impotentes
191
demais. Dependentes demais. Como crianças. Somos
crianças curiosas e indefesas. E espero que não
percamos a sensibilidade pueril que nos faz sorrir e
chorar. È melhor assim. É angustiante sermos tão
indefesos e ignorantes: este é o preço de sermos seres
humanos. Sendo que a maioria de nós, creio, prefere ser
gente a ser pedra. Gente sofre. Gente mata, morre, se
embriaga, se entorpece, descobre novos remédios e
novos venenos, faz música, poesia, cria histórias, fuça,
descobre, se engana, inventa. Puxa vida... gente goza. E
corre perigo. E como corre perigo... Seja viajando de
avião, seja bebendo vinho, seja comendo batata frita,
seja ouvindo rock, seja votando em quem não merece
confiança, seja fazendo fofoca, dizendo suas
“verdades”.
192
Viagem segura?
Verão. Fim de um ano muito estranho. Manhã triste e
lindamente nublada. Ontem, assim como já hoje e toda a
noite que passou, eu viajava. Viajei na minha cadela,
Lisbela. Como eu viajei nela... Fiquei pensando sobre
seu amor. Será que a submissão de Lisbela é um jogo?
Será que ela só me agrada e me olha com aqueles
olhinhos que só ela tem, apenas para obter de mim
carinho, comida e proteção? (Proteção eu não sei se ela
sabe o que venha a ser.) Viajei um tempão nela. Eu acho
esse termo muito engraçado: viajei. O verbo viajar
usado dessa forma. Engraçado como ele expressa bem o
que se sente. É um emprego meio hippie da palavra
viagem. Não sei se hippie, não sei se surf, não sei se
beat, não sei se neo-anarquista. Mas, sim, expressa
razoavelmente bem o que se pretende dizer. É como se
o tempo destinado à observação de algo fosse
surpreendente e revelador, como uma viagem. Então,
ontem viajei na minha cadela. Mas também viajei nas
crianças que freqüentam minha casa. Viajei em minha
mãe, com seu cabelinho querendo, tardiamente, ficar
branco. Viajei na televisão, que insisto em assistir e
insisto em gostar. Vi uns curta-metragens muito legais.
Quando eu fui pra cama, eu viajei no corpo da minha
mulher – e nele eu sempre viajo. E viajei muito naquela
posição que ela sabe que me faz gozar rápido. Ela sabe
ser uma estrada ensolarada quando quer. Muito embora
193
eu quase sempre prefira viagens longas, e com nuvens
ao redor. E, agora, nessa manhã de terça-feira, eu viajo
no meu pequeno quintal e na paisagem branca do meu
bairro. Depois de ter ido lá fora sentir um pouco de frio
– gosto de sentir o frio de uma manhã como esta – eu
estou aqui, diante do monitor, mas com a janela do
quarto aberta à minha direita, e dando uma olhada nas
folhas de figo que balançam com o vento, e atrás delas,
as folhas verde-escuras de tangerina.
Lisbela fica presa nos fundos, na pequena área de
serviço. O quintal acaba sendo perigoso pra ela. Há
menos de um ano ela fugiu e foi atropelada. Numa
bobeira, ela saiu pelo portão da frente e foi em
disparada para a outra rua, onde encontrou um belo
cãozinho peludo que pretendia namorar com ela, que
estava no cio. No cio, tadinha. Ela nunca namorou.
Encontrara naquela tarde um namorado. Então
encontrou também o pára-choque de um carro. Quando
a fui socorrer, o rapazinho peludo lá estava, já havia
bastante tempo, de pé lhe fazendo companhia. Peguei-a
no colo. E sabe o que aconteceu? O cara veio nos
acompanhando até o meu portão. E eu o agradeci pela
atenção dada à minha bonequinha vira-lata e me despedi
dele. Que interessante a atitude do cãozinho. Quanta
atenção dispensada. Negócio bonito de ver. Amor? Não:
sexo. Mas qual a diferença? Os dois são lindos. Em
segredo eu sei que o sexo é mais lindo. E, voltando ao
acidente... Pensei que ela não fosse mais andar. Uma
lesão na coluna, eu imaginava. Ainda bem que ela
apenas fraturou a bacia e mais uns ossinhos: vértebras,
perna, etc. Mas a coluna ficou intacta, como vimos na
194
radiografia. Então hoje ela só manca um pouco, tendo
ficado com a traseira meio torta. Pra nossa alegria, teve
uma excelente recuperação. E, olha, já fez coisas
maravilhosas depois do acidente, como, por exemplo,
matar ratos: até agora três.
De lá pra cá, ela fica sempre na área perto do tanque de
lavar roupa. Uma prisão, na verdade. Contudo, sua
grande alegria é ultrapassar a porta da cozinha, entrar
pela casa, vencer a sala e dar para o quintal em alta
velocidade. E penso: que bom que ela voltou a correr. E
viajo nessa felicidade dela ao ultrapassar o limite a ela
determinado para a sua segurança. UM LIMITE
DETERMINADO PARA A SUA SEGURANÇA. Para
a sua segurança.
195
Pra que serve uma Les Paul preta?
Primeiramente, o que vem a ser uma Les Paul? Uma
caneta importada? Uma bolsa de patricinha? Não, não,
não. Nada disso. Quem gosta de rock deve saber tratarse de um modelo de guitarra fabricada pela tradicional
marca Gibson. Há um famoso videogame musical,
chamado Guitar Hero, em que o jogador pode escolher o
personagem e a guitarra com que vai jogar. Eu não
gosto de jogar videogame. Aliás, eu não gosto de jogar.
Não que eu não goste de jogos: eu apenas não gosto de
jogar. A não ser o futebol, no qual sou aquilo que
chamam de “pato”. Mas nem este eu estou podendo,
pois parece que meu joelho direito já era. Pois bem.
Juliette, minha filha, foi jogar Guitar Hero outro dia
desses e escolheu jogar com uma mocinha. Na hora de
escolher a guitarra ela foi com uma Les Paul preta.
Então eu pensei: que tremendo bom gosto. A danadinha
tem um formidável bom gosto. Eu nunca falei pra ela
que a Les Paul é o meu modelo preferido, e ainda assim
ela gosta do mesmo tipo de guitarra que eu. Eu não sou
guitarrista. Nem ela. Aqui em casa só temos um violão
Gianini e uma imitação mais barata do modelo
tradicional da guitarra Fender, que é outra marca
tradicional. Não somos uma família de músicos.
Vivemos a música com razoável intensidade. Como
196
apreciador de culturas, devo estar contaminando os
meus.
Pra que serve tudo isso? Pra que serve uma Les Paul
preta? Pra que serve um violão? Pra que serve o
rock’n’roll? Pra que serve a música? Pra que serve um
tambor? Pra que serve fazer furos em um pedaço de
bambu e dele extrair sons? Pra que serve cantar? Pra
que serve a língua e a cultura? Pra que serve a roda? Pra
que serve o fogo? Pra que serve o tesão de viver? Pra
que serve a existência? Pra que serve o silêncio?
A vida não serve pra nada – a não ser vivê-la. A vida
não tem uma finalidade. Vivemos, simplesmente. E isso
é a melhor coisa que se conhece. Provavelmente não
exista outra melhor.
197
O olho do céu noturno
A foto foi tirada meio que por acaso, sem um
planejamento que pudesse antever o seu possível
significado. Se não por acaso – já que nosso
subconsciente nos apronta peças –, pelo menos foi sem
querer. Coloquei-a no perfil do Orkut. E também o fiz
sem pensar no significado. Há uns cinco anos pintei um
quadro que tem o desenho de um estábulo com uma luz
dentro e, no céu noturno ao fundo, uma lua crescente e
um enorme olho a olhar pra baixo. Um quadro legal,
porém com traços ultra-simples. Aí as pessoas
perguntam e eu explico que não é uma casa, e sim um
estábulo. Quanto ao olho, eu digo que é o olho da noite.
Às vezes eu digo que é o olho de Deus. Fiz em óleo
sobre madeira. E quanto à tal fotografia? Certo dia
minha filha Juliette estava tirando umas e fez essa, onde
estou, frente ao quadro que pintei, olhando para esse
enorme olho acima de mim. No momento da foto eu não
estava bolando nada. Era apenas mais uma das minhas
palhaçadas. Hoje dei pela coisa e vi que não foi
palhaçada, não. Aquela foto é mesmo, para meu choque,
eu olhando para o olho de Deus. Aquilo sou eu frente a
frente com Deus. Encarando Deus.
Muitos não sabem que eu sou ateu. Outros muitos, pelo
contrário, sabem. Estes, não gostam do que sabem.
198
Prefeririam que eu esquecesse essa bobagem de ateísmo
e me comportasse como um homem normal.
Preferencialmente como um cristão normal, “enquanto
há tempo”. Então vivo nesse esforço administrativo e
diplomático, onde negocio o tempo inteiro com os que
me cercam, fazendo concessões, adaptando o meu
radicalismo materialista ateu à fé dos que comigo
convivem, tentando estabelecer um meio termo, onde o
diálogo e a paz sejam possíveis. A paz sempre exige
meios termos. Já conheci ateus radicais. E, para minha
decepção, alguns deles eram pessoas que mesmo eu não
suportei, preferindo mesmo os crentes. São ateus
radicais demais pro meu gosto. Pessoas sempre prontas
pra ofender incisivamente, e sem a menor compaixão,
os que têm alguma fé. Assim não dá. Não é a minha
praia. Sei que já ofendi crentes e que até hoje devo
ofender, de vez enquanto, em certos impulsos
incontroláveis de egoísmo e insanidade humana um ou
outro crente de qualquer religião, mas não vivo com
esse propósito destruidor. Tenho uns pensamentos
iconoclastas, é claro, como qualquer ateu, contudo
prefiro hoje a tolerância ideológica. Até mesmo porque
se eu não tolerar eu sou engolido. Já tive a ilusão de que
poderia me unir a outros ateus e lutar contra a religião, o
que considero um dos principais males do mundo, e
fazer dessa luta um objetivo de vida. Só que eu cansei
de maquinar coisas desse tipo. Cansei de encontrar ateus
que não sabem exatamente o motivo pelo qual se
declaram assim – muitos são ateus por pirraça. E é até
compreensível. É como aquele adolescente que ouve
Black Sabath ou Iron Maiden pra irritar os pais caretas
ou para contrariar a sociedade capitalista cristã à sua
199
volta, só de birra. Cansei de encontrar ateus que estão
mais mal informados que os crentes. E aí não vale. Pra
ser contrário a uma coisa, é bom que se conheça essa
coisa. E é bom que esse conhecimento não seja
superficial. Tem que ir fundo. Há de se conhecer com
um mínimo de profundidade os livros sagrados e as
religiões a que se quer criticar. E a disputa de idéias não
pode ir pro confronto aberto, isso é inútil. Pois, não raro,
as pessoas que optam por um credo têm suas bases a
defender. Há pessoas que defendem muito bem seu
credo. Elas podem inclusive estar felizes e seguras na fé
que escolheram – embora eu saiba que é a religião que
escolhe as pessoas, e não o contrário.
É. Eu e o olho de Deus. Sou eu e Deus. Não sou eu
contra os crentes inocentes que foram pegos pelas garras
inevitáveis e invencíveis dessa cultura humana milenar
– e todos nós, crentes, agnósticos ou ateus, somos muito
inocentes e manipulados pela máquina de inteligência
antinatural. Não se trata disso. Ali, sou eu contra os que
forjaram o maior personagem da história: Deus.
Histórico ou lendário? Real ou fictício? Não importa.
Deus é o cara. E hoje vejo o tamanho daquela foto na
minha vida. Ela sintetiza minha luta contra o que julgo
falso. Minha luta contra o que julgo negativo e
pernicioso. Minha luta pra desvendar coisas
maldosamente, requintadamente, maquinadamente
escondidas. Minha luta contra esse lindo véu de seda
colorida que é a religião. Minha luta pra mostrar que
uma história contada não passa, muitas vezes, de apenas
uma história contada, com todos os símbolos a que tem
direito, e vai, obviamente, se utilizar destes ao máximo.
200
Minha luta contra o Deus que um dia foi criado pelo
homem. Minha luta contra mim mesmo, e contra o que
tentaram fazer de mim. Minha luta pela verdade. E,
tenho que reconhecer, neste caso, por uma única
verdade. E as verdades, como se sabe, são muitas. Estou
meio cansado. Não sei se ainda luto contra esse dragão
– e, lembrando Dom Quixote, estou seguro de que ele
não é um moinho de vento. O Leviatã tem, mais do que
garras e várias cabeças, raízes. Ainda assim, e ainda por
isso, acho que, por agora, vou ficar na minha, quieto.
Ao menos por enquanto. Não tenho armas para uma
briga dessas. Não sou um covarde. O fato é que tenho
outras batalhas para as quais preciso estar inteiro. Sintome e vejo-me como um homem de bem, que luta pelo
bem de sua vida e da vida dos outros.
201
Meu retiro de carnaval
No meu bairro não há barulho de carnaval. Hoje, mais
do que nunca, eu não sei se gosto ou não desta grande
festa do povo brasileiro. Eu já achava quatro dias muita
coisa. Pois agora em muitas cidades o carnaval dura oito
dias. Haja saúde pra gastar, paciência e dinheiro.
Aqui em casa fiz meu retiro particular. Não ligo a TV.
No aparelho de som ouço, basicamente, rock. O último
Radiohead, o último Robert Plant, o último David
Gilmour e até mesmo algumas coisas carnavalescas e
não novas, como Los Hermanos. E não apenas rock: o
último da Adriana Calcanhoto também está o máximo.
Estou dando uma atenção também aos dois volumes do
Tim Maia “Racional”, naquela sua pitoresca – ou quase
típica – busca espiritual em face aos seus desencantos.
Muita música das minhas caixas acústicas de madeira
sai da minha pequena sala e toma toda a casa. Livros?
História e antropologia. Astronomia me interessa: vou
ver se vejo uns DVDs do Carl Sagan, que foi o grande
divulgador das ciências no fim do século XX astronomia, física e biologia. Meu menino interior gosta
de recordar Carl Sagan. Em casa e em calma. Sem
churrasco. Sem cerveja. Comida normal. Água fresca.
Ah... Tem também um delicioso suco natural de manga
– que é a coisa mais deliciosa do mundo para o meu
paladar. O que neste mundo pode ser mais saboroso que
202
um suco de manga madura? Minha mãe me aparece
também com umas acerolas e eu as coloco no
liquidificador.
Pois bem. Nada aqui lembra carnaval. Não é que eu
deteste carnaval. É que neste momento eu,
definitivamente, não preciso dele. Penso que, no fundo
as pessoas não gostam tanto do Carnaval como objeto
em si. O que elas querem é gozar. E o ambiente
carnavalesco sugere a possibilidade desse gozo.
Possibilidade: nada além de possibilidade, pois o gozo
que se almeja é um sonho. Mas isso não é só coisa do
carnaval. A vida inteira é assim, seja nas lutas ou nas
festas. O resultado que se consegue está sempre com
sabor de incompletude. Um resíduo incômodo – ou,
ainda pior, falta de resíduo.
Vou esperar passar o carnaval para poder voltar às
minhas atividades normais: estudar, trabalhar, conversar
besteira e tomar cerveja Bohêmia bem gelada com os
amigos. Esperar passar o verão. Esperar a chegada do
querido outono, quando poderei escolher, eu mesmo,
meus dias de festa. Ou apreciar a boa festa da vida, que
vem quase sempre de surpresa, sem precisar de
calendário.
203
Abrir a felicidade?
A vida de um homem comum e a nova campanha do
refrigerante preto
Estou aqui. E estar aqui é doce e amargo. Pronto. Lá
vem um desses cronistas depressivos pra baixar ainda
mais o astral nesse invernozinho gripado e pouco
contente do Rio de Janeiro, pensarão. Realmente, o que
estou matutando pras próximas linhas tem contraindicações, e é mais dor que sorriso. Se “a juventude é
uma banda numa propaganda de refrigerantes”, como
cantou de forma provocante Humberto Gessinger, eu
não sei. Assim como não sei de muita coisa. Só sei que
estou mergulhado numa das minhas confusões de
existir. Amargo, tentando não perder o que me resta de
doçura.Tenho, no decorrer da minha vida, aprendido a
apreciar o amargo e também a me enjoar fácil do que é
doce. Estou aqui nesta vida e neste mundo, e minha
cabeça não mais vive tanto em outros mundos. O meu
“algo além” não ultrapassa mais a estratosfera. Hoje
pouco penso em astronomia, na organização dos astros
– não que isso não mais me importe em definitivo. Os
meus predadores, eles fazem-me ficar mais pra caverna
do que pra céu. Quem são os meus predadores? São
aqueles mesmos que me deram a vida e me ensinaram
204
sobre a vida: os atores sociais. A sociedade é o deus dos
deuses. Ela é quem nos faz ser e deixar de ser. Ela é
quem nos ensina tudo o que sabemos e nos faz
desaprender o essencial. Ela é quem nos torna
confortáveis, “sociáveis”, e, ao mesmo tempo, nos deixa
sem jeito, sem graça, com mal estar de ser. Ela e seus
dogmas morais impossíveis de serem cumpridos com
gosto. Ser imoral é estar vivo. E ser vivo é sofrer
sanções de variada sorte.
Eu nunca tive paraíso, nem hipotético. Eu nunca
acreditei em céu. E também nunca cri em inferno. E
também nunca cri em formas absolutas de bem viver.
Me fizeram pensar que eu pudesse acreditar nessas
coisas. Creio que, na verdade, nunca acreditei em nada.
Acho que eu fingi durante muito tempo – pra mim
mesmo – acreditar. Mas isso já faz alguns anos.
Resta-me então agora olhar para o micro. A vida
pequena e funcional. A cozinha, a sala, a cria, a
companheira, os amigos, o umbigo: estas são as coisas
às quais devo me ater. Verdade absoluta? Deus?
Satanás? Espíritos? Big Bang? Galáxias? Creio que já
gastei tempo demais com isso tudo. E, no entanto agora,
o que entra no lugar de Deus e das Galáxias? O
dinheiro? Não. Deus saiu e o dinheiro não entrou. Isso
me deixou vazio de tudo, cheio de questões e
formulações incompletas, que são como vapor de éter.
Não guardo comigo as coisas que mais protegem um
homem, são estas dinheiro e Deus. Sinto-me então às
vezes como um pequeno homem solitário num pequeno
barco, num grande mar, à mercê do tempo. Meus braços
205
até têm alguma força para remar, mas a terra firme está
longe demais. Minha vida é incontinência. Cansaço em
descansos compulsórios.
Estou aqui. Tentando me distrair com arte e afins.
Tentando extrair um mínimo de satisfação da arte.
Música e artes visuais. São elas, as artes pop, a minha
religião, onde me refugio tentando satisfazer meu nãosei-o-que. Satisfação. Alguém, em algum dia,
provavelmente uma bactéria, inventou que satisfação é o
que de fato importa na vida. A luta por satisfação pode
ser vista no comportamento de qualquer inseto, planta
ou micróbio. E de lá pra cá – desde as bactérias
primordiais – isso é tudo o que buscamos. Satisfação
pode ter como sinônimo a palavra felicidade.
Antigamente, que eu me lembre, o slogan da Coca-cola
era um simples “Coca-cola é isso aí”. Como é que
alguém conseguia vender um produto dizendo sobre ele
apenas “... é isso aí”? “É isso aí” pode ser, na verdade, a
expressão máxima irredutível da afirmação do ser. Era
eu um menino, e no dia em que eu ganhei uma camisa
da Coca-cola, numa tampinha premiada, pensei, sem ter
feito a formulação em si, mas pensei: “eu sou”. Nada
mal o trabalho daqueles marqueteiros. Depois vieram
outras frases ainda bem interessantes como a recente
“Viva o lado Coca-cola da vida”. Mas nada supera e
consegue ser mais pesado e contundente que o novo
slogan. E eles pegaram bem pesado desta vez: “Abra a
felicidade”. “Abra a felicidade”, este é o novo slogan da
multinacional. Num mundo que busca a felicidade
como algo a ser conquistado imediatamente – uma
felicidade fast food – nada poderia ser mais oportuno
206
que essa nova campanha. A felicidade nunca esteve tão
barata: o preço de uma Coca-cola. São os truques, os
mecanismos do capitalismo para multiplicar seus
ganhos e manter o povo anestesiado. É um grande
barato. Há muitas coisas baratas. Somos idiotas felizes
com uma bebida barata, e todos os tipos de felicidade
forjada e barata, como um crediário a perder de vista
para comprar uma nova TV, e assim poder ver nela, em
bom vermelho, o rótulo do refrigerante. A felicidade
que vem da TV às vezes é mesmo muito barata, como
esta coisa, essa possibilidade de extraí-la de dentro de
uma garrafa como se uma lâmpada maravilhosa fosse.
Porém o eterno e aparentemente imortal americam way
of life trazido pela televisão não é tão barato assim. Há
um vasto repertório de sonhos pré-fabricados que não
saem nada barato para os pobres do mundo. Há muitos
sonhos caríssimos. Sonhos impossíveis. Sonhos que
eram inconcebíveis antes do advento da comunicação de
massa. Sonhos que eram insonháveis e que agora
habitam nossas almas. Burguesia e plebe sonham juntos
os mesmos sonhos, porém só a primeira tem poder para
realizá-los a contento, transformando-os em, mais do
que sonhos, projetos de vida.
Confesso que fico feliz quando abro uma Coca-cola
com garrafa de vidro. Há estudos sobre a influência das
marcas no mundo contemporâneo e seu papel na
felicidade das pessoas que confirmam o que eu estou
falando, o que não faz de mim um louco varrido por me
contentar com uma coisa tão pequena como abrir uma
Coca-cola. Sou apenas mais uma vítima do mercado
mundial. Há muitas coisas bem baratas que me trazem
207
contentamento psicológico – que é o único
contentamento que existe –, como abrir uma Coca-cola,
alugar um filme na locadora, comprar um CD e ouvir as
músicas que estão nele, comprar um livro e ler o que
nele está escrito, sabendo inconscientemente de
antemão o conteúdo, pois muito do que se lê nos livros
já se sabe. Quase sempre assim: comprar, comprar,
comprar. Mas como eu faço para comprar as felicidades
mais caras – aquelas que só as pessoas da parte de cima
da pirâmide social podem comprar... O sol nasce para
todos? Tá legal. Alguém hoje em sã consciência
realmente se satisfaz com essa informação, de que o sol
nasce para todos? Entramos então naquelas velhas
novas anedotas: “O que você prefere? Aproveitar esse
sol que nasce pra todos, de pés descalços com uma
enxada nas mãos, longe da sombra num sertão sem
nuvens, ou ainda na sombra quente e insalubre de uma
fábrica, fazendo hora extra, ou preferiria olhar para esse
sol com óculos escuros de dentro de uma Mercedes
Benz conversível, com uma bela e despreocupada
mulher ao seu lado numa estrada paradisíaca?”.
Seria a Coca-cola um deus? Sei lá. De qualquer forma,
Deus abençoe a Coca-cola! A felicidade vinda desta
bela garrafa com seu belo rótulo vermelho, me custa
apenas duas moedas. Quanto ao feio líquido negro que
vem dela, que mais lembra suco de petróleo ou de cocô?
Ah, isso é o que menos importa. E quando Ele, Deus,
puder dar uma olhadinha nos trabalhadores rurais,
operários e todos os pobres compradores de aparelhos
de TV e de garrafas de Coca-cola... Que não falte
208
comida barata, diversão barata e arte barata aos pobres
do mundo.
Tudo o que eu escrevi nos parágrafos anteriores está
impregnado de ironia e tristeza, isso parece claro.
Houve, porém, um intervalo entre o tempo em que eu os
escrevia e o instante imediatamente atual, este aqui. Não
fui assistir TV. Mas fui tomar um banho em chuveiro
quente – uma dessas maravilhosas invenções que só
puderam ser disponibilizadas a todos, graças ao
nascimento e desenvolvimento da burguesia capitalista
industrial. Botei uma confortável blusa de lã, meu jeans,
meus velhos tênis adidas, e fui até o meu quintal, de
onde vislumbrei as discretas montanhas do meu bairro
com suas casas, do outro lado da ferrovia. Olhei pra
minha garagem, pro meu carrinho velho e tosco, mas,
no fundo, simpático e funcional, e pensei se eu
precisaria mesmo de um Mercedes. Voltei do quintal
mais animado. Minha doce e atenciosa esposa – uma
mulher boa, porque é, entre vários atributos, uma boa
lutadora – passa álcool no telefone. Puxa vida...
Chuveiro, ferrovia, telefone... este computador aqui...
tudo isto advém do tal capitalismo industrial. Talvez eu
ame o capitalismo mais do que presuma. Esse amor
pode trazer na bagagem toda essa minha carga de ódio.
Amor e ódio são irmãos em luta. Quem afinal não gosta
disso tudo que nos rodeia? Quem não gosta da TV?
Bobagem. Todos gostam, ainda que alguns não admitam
ou não saibam. E todos gostam da idéia do grande e
delicioso bolo – aquele quase mítico bolo que deve
crescer pra depois ser distribuído. Eu queria apenas que
o bolo fosse mais igualitariamente dividido. Eu queria
209
uma fatia maior para mim e os meus. Uma fatia mais
justa e mais irmã para todos. Mas, enquanto o bolo não
chega... Vamos trabalhando e vivendo o prazer das
“pequenas coisas”. E, pieguice ou não, o sol nasce pra
todos, sim. Abrir a janela e ver a luz do sol é, na
verdade, abrir a felicidade. E nada contra a minha
querida Coca-cola. Até porque não posso contra ela.
*
210
Quarenta anos
Quarenta anos. Quarentinha. Quarentão. Quarentena...
Estou nesse momento pensando no meu menino. No
menino que sou eu e que fui e que nunca me abandonou
– ao menos completamente. Este 20 de dezembro de
2009 é apenas e nada além de um número a mais – ou a
menos – nesse nosso calendário cristão. Acontece que
sou um homem nascido em meio às inúmeras variações
do culto ao calendário. Portanto, não estou ileso às
datas.
O que fiz nesses 40 anos? Pergunta óbvia de homem
óbvio e mediano. Não que eu me sinta óbvio e mediano,
mas num momento como o de agora eu não consigo
fugir: o que fiz da minha vida nesses 40 anos? Quantos
caminhos, descaminhos e ausência de vias visíveis, na
cegueira do dia-a-dia... Quanto aprendizado... Quanto
desaprendizado... Quantas e mortes e ressurreições...
Não sei. Talvez eu tenha morrido e nascido bem menos
do que deveria. De toda forma, vi um mundo de poesia
e de pedra dura. Vi um mundo de alternativas e de
algemas. Um mundo de belezas e de desgraças. Vi o
encantador e o assustador. Vi coisas que, tenho certeza,
só eu vi. Pois minha vida é só minha, apesar dos meus
que me cercam e a mim se achegaram com minha parte
211
de facilitação e permissão (e acaso). Eles, os meus
queridos, não sabem o que eu sei, não sabem o que eu
vi, não sabem o que eu senti. Os mais doces e os mais
amargos momentos. E, confesso, que o que vi, foi meio
que como um expectador querendo entrar no filme.
Como se o homem que sou estivesse o tempo inteiro,
em quase todos os dias desses 40 anos, projetado numa
tela, em ação, assistido da poltrona por meu clone
expectador. Como se a tela – a vida – fosse uma parte
da verdade, e a poltrona – a sobrevida – a outra.
Quarenta anos amando cada por de sol, amando cada
amanhecer, amando cada verde, cada flor, cada
caminho, cada homem e cada mulher e tentando-os
compreender e sabendo são todos eles muito confusos –
uns de beleza mais fácil, outros mais difícil. Quarenta
anos ouvindo e cantando canções a cada santo dia.
Todos os dias são santos e todos merecem música e
celebração. Daí um certo desconforto que tenho com as
celebrações formais. Eu tendo a considerá-las hipócritas
e feias, pelo fato de pensar eu que a vida inteira deveria
ser uma celebração. Além de serem, a maioria delas
(refiro-me às celebrações formais com pompa e sorrisos
obrigatórios), de uma estética muito comprometida com
feiúra e frustração plástica. Não se celebra um quadro
como se ele fosse mais forte que a verdade. Um quadro
com uma flor pode ser belo e humano e representar a
boa vontade estética dos homens, mas nunca será tão
importante quanto uma flor. Um quadro com uma
mulher nua nunca terá o calor e a verdade de uma
fêmea. Então as celebrações me parecem tentativas
frustradas de agradecer à vida, na tentativa de
212
“enquadrá-la”. Talvez toda a própria arte seja fruto da
nossa impotência de criar beleza verdadeira. Talvez a
melhor maneira de agradecer a vida seja viver.
De toda forma, estou eu aqui a escrever sobre uma data
que é apenas mais um dia após o de ontem. Sou um
homem maduro (?) e comum. E tenho uma tempestade
na alma. Uma jovial tempestade de umidade, correntes
voando, galhos se rompendo, animais correndo
assustados. Mas sou também uma árvore com raízes
bem firmes, adornada com flores amarelas sob um
ameno sol.
Neste exato momento uns passarinhos estão fazendo um
tremendo barulho aqui no meu pequenino quintal. Eles
estão em volta do pequeno pé de figo. Eles são lindos, e
o vento no quintal é lindo, e as pessoas são lindas.
Daqui a pouco devo ouvir música, com a inseparável
companhia da história que já se foi – porém nunca irá de
fato, visto que toda história é eterna e a minha não é
diferente. Venha a vida. E seja bem vinda.
213
Os ratos e o ano novo
A chuva que cai ininterruptamente aqui sobre o bairro
de Humberto Antunes, Mendes, Estado do Rio de
Janeiro, desde ontem pela manhã é cinematográfica.
Chuvas ininterruptas me dão a sensação de filme, ou de
livro. Dão uma sensação de afastamento da realidade.
Tudo está aqui. A ferrovia está aqui. As pequenas matas
– aqui quase tudo é pequeno – estão aqui. As ruas de
paralelepípedo – muita gente nem sabe o que é uma rua
de paralelepípedo – estão aqui. Os mesmos vizinhos de
sempre. O abissal silêncio das madrugadas, que só é
interrompido ora ou outra pelas locomotivas ou pela
música dos sábados – pela péssima e barulhenta música
dos sábados. Tudo está tão “aqui” que faz com que as
coisas se pareçam com um filme que é reapresentado
por tempo indefinido, como aconteceu nos cinemas com
Blade Runner, por exemplo, que ficou em cartaz por
muito tempo, voltando e voltando. Blade Runner, um
filme extraordinário. Neste filme também chove muito.
As chuvas ácidas de um dos possíveis futuros
preconizados pelo cinema.
Ontem, quarta-feira, um som no quintal quebrou o
silêncio: Lisbela, minha amiguinha canina, matava mais
um rato. São milhões de anos de instinto predatório não
perdidos, ali, no DNA de Lisbela. Mais um rato enorme.
214
O segundo em três dias. Ela sabe que nós aqui em casa
ficamos agradecidos, afinal ratos são incômodos e
transmitem doença – ratos já dizimaram milhões de
homens no curso da história. E sei que ela, Lisbela,
ficou feliz e orgulhosa com sua performance assassina.
O terreno ao lado da minha casa abriga ratos. É bonito
ver o verde do terreno, e olhar o morro e o céu por entre
as plantas que nele há e crescem em pura força verde,
mas há certos inconvenientes, como os ratos e insetos
morando ali. De manhã, quando, na minha incumbência
masculina, fui pegar o bicho e colocar em duas sacolas
– quando o correto seria enterrá-lo – eu percebi que o
rato é um animal muito bonito. Bonito mesmo. A sua
cauda nem tanto. Acho que o rato é um animal que não
ficou numa boa no processo de urbanização advindo
com o século dezenove. Acho que homem e rato têm
uma grande dívida um com o outro. Muito embora creio
que o bichinho esteja em desvantagem – assim como os
palestinos em relação aos judeus (parêntese importante
este, pois preciso ressaltar que palestinos não são ratos,
e que em muitos momentos, na dada questão geopolítica, judeus foram mais ratos, num ambiente em que
todos estão certos e errados ao mesmo tempo, sejam
homens ou homens-rato, semitas ou anglo-saxãos). De
toda forma, acho que ele, o rato, ainda está em melhores
condições que a vaca, o porco, a galinha e até mesmo
que o cavalo, que é usado pelo homem com certa
indiferença. O rato tem sua independência. Tem sua
dignidade. Um certo direito à marginalidade. Nem isso
os outros animais citados possuem, já que são tratados
muito mais como coisas que como bichos.
215
Então lá fui até um dos latões do bairro com as sacolas
de lixo não selecionado – como é o costume por aqui –
com o bichinho dentro de uma delas. Ecologicamente
incorreto, porém dentro do senso comum local – ainda
que eu seja um pequeno homem a lutar, em algumas
situações, contra o senso comum local. Na volta, o que
vejo em frente ao meu portão? Um passarinho morto.
Puxa vida. Não dá pra ter menos mortes num dia como
o de hoje, com essa chuva que mata sem parar pessoas
nas casas mal feitas, construídas em lugares mal
habitáveis por todo o país? Levanta-se aqui uma
suspeita de bruxaria no tocante ao pequeno pássaro
morto. Certa vez havia sete cigarros no chão apontados
para o meu portão, ordenados cuidadosamente, como se
apontando pra minha casa como flechas. Sempre houve
muita macumba no meu bairro. Acho um barato as
pessoas crerem nisso. Digo “um barato”, numa visão
antropológica hiper-relativista e tolerante, pois, na
verdade, sou ateu e acho que elas deveriam se ocupar
mais com ciência, com trabalho, com arte e com prazer.
Com os ratos e o passarinho e as pessoas vítimas dos
desastres pela chuva no famigerado sistema de
loteamento camponês que insiste em encurralar seres
humanos em habitações pouco-humanas para os padrões
atuais de humanidade que estas mesmas pessoas mortas
estavam cansadas de ver nas novelas, morre também o
ano de 2009. É Preciso. Tem que ser assim. Pra nascer
2010. Mas o que podemos fazer pra 2010 nascer feliz?
Encher a cara? Beber e beber e beber? Comer e comer e
comer? A frase é legal e gosto de ouvir e repetir:
“estamos de parabéns!”. Celebremos a morte e a vida do
216
calendário. Eu, aqui, com minhas mãos com o olor de
dessalgar bacalhau, tecendo minhas impressões críticas
com minha metralhadora giratória de brinquedo com
inofensivas bolinhas coloridas. Um hipócrita a mais.
Tenho convencido um amigo a tornar-se vegetariano –
pois admiro demais os vegetarianos –, falando pra ele
coisas como a nossa hipocrisia em querer salvar baleias
enquanto comermos bois como se fossem estes maçãs
caídas do pé. Quem disse que um boi vale menos que
uma baleia? O amigo disse que está indo por partes, e
que já não come mais aves e pode olhá-las agora sem
culpa. Que bonito isso! E eu na cozinha temperando
uma ave pra assar. Sou culpado. Sou mantenedor do
sistema de matança capitalista industrial. Sou poluidor.
Sou hipócrita. Sou escravo. Sou um homem. E não sou
muito diferente do rato que foi assassinado pela Lisbela.
Tenho pena do rato. Tenho pena de quase tudo.
Preciso de um final feliz para esse texto, pra ver se o
ano também termina/começa bem. Se não vão achar
quer sou pessimista. E este ano foi, na verdade, muito
bom pra mim. Final feliz é bom. Talvez finais felizes
sejam hipócritas. Talvez não. Talvez eles sejam fruto da
nossa eterna necessidade de sonhar. Essa mesma
necessidade que fez a ciência e a arte – a cultura, por
fim. A nossa necessária e companheira inseparável
imaginação. A necessidade de pensar no que é bom, a
aperfeiçoá-lo. Preferencialmente no que seja bom para
mais de uma pessoa, já que, como disse o poeta “é
impossível ser feliz sozinho”. Então vou olhar para meu
bairro imutável como bela fotografia amarelada e ver
que ele é um belo lugar, com gente feia e gente bonita,
217
como qualquer outro lugar. Com homens, mulheres e
ratos. E com uma bela chuva de final de ano. Uma
chuva que parece estar saindo do terceiro livro da série
Crepúsculo que minha menina acabou de ler, enquanto
eu releio, com mais contemplação que outrora, o
monótono – porém lindo – On The Road, a emblemática
obra de Jack Kerouack que tanto inspirou os malucos do
mundo inteiro, chegando até mim.Venha o porvir, que
eu quero é mais. Mais do bom e do melhor, e para o
maior número possível de seres vivos e mortos.
*
218
Sobre a mentira como método pra se
dizer a verdade
Em certa pesquisa internacional, dessas publicadas pela
influente, respeitada e odiada revista Veja, resultados
apontavam para um suposto fato, de que uma pessoa
comum fala, em média, 30 mentiras por dia. O número
assusta qualquer um, é claro. Aí o que a gente faz? A
gente pega e relativiza a coisa: quem sabe digamos
apenas umas 15 mentiras por dia, ou, quem sabe, 10, ou
5. Ou então não levamos em consideração tal pesquisa.
Mas... Como não considerar essas pesquisas?
Informações como esta nos levam, em maior ou menor
grau, a uma reflexão. Não tem como fugir disso. Eu
mesmo, penso agora em minha relação com a mentira.
Sei que menti muito durante toda a minha infância.
Menti bastante também durante a adolescência. Talvez
eu possa mesmo ser um bom mentiroso. Ou um
mentiroso com um talento médio, pelo menos. Também
andei mentindo um pouco já adulto – e a palavra adulto
pra mim quase sempre traz aspas implícitas. De uns
tempos pra cá, entretanto, resolvi falar só a verdade – o
que para os pesquisadores em questão deve ser algo,
dirão, impossível. No entanto, garanto que fui muito
verdadeiro nos últimos anos. Tentei, ao menos. E,
comparando-me com outras épocas, eu tenho certeza de
219
que menti bem pouco (segundo os pesquisadores,
poucas vezes a cada dia). E nisso eu não sei se fiz a
melhor opção. Minhas verdades machucaram pessoas.
Atraíram a antipatia de pessoas que antes eram
simpáticas a mim. Falar a verdade é uma barra bem
pesada. Em alguns aspectos chego a me arrepender de
ter sido tão transparente. E de que adianta sermos
transparentes se dentro de nós o que há é merda? Sim,
isso mesmo. Refiro-me a todas as merdas que nossa
cultura nos enfia pelos olhos, ouvidos e boca durante
toda a nossa vida, desde que nascemos. Resultado: hoje
procuro usar filtros mais dinâmicos para as minhas
falas. Não tô a fim de sair por aí ofendendo pessoas com
verdades, até mesmo porque são “apenas” as minhas
verdades. Nossos pontos de vista são meros pontos de
vista. Nossa visão é desgraçadamente rasteira. No
entanto também não podemos – e nem devemos –
abandonar de vez toda e qualquer verdade pessoal
construída. Se assim o fizéssemos, seríamos sinceros
como bichos. E, nada contra os bichos – pois sei que são
mais sábios que nós –, mas não podemos mais, a essa
altura do campeonato, ter a sinceridade de um animal,
num mundo tão impregnado de símbolos como este que
criamos. Temos nossas verdades, sim. E estamos presos
a elas e precisamos delas pra viver e elas são nossas
âncoras... Âncoras: não flechas. Sejamos cuidadosos
com nossas verdades, passando-as aos outros com certo
cuidado. É uma tarefa bem difícil, claro que é. E eu bem
sei.
Um bom filtro para verdades é a mentira da arte.
Quantas vezes os artistas disseram as verdades que
220
queriam dizer usando de artifícios enganosos, que são
os diversos tipos de signos artísticos? Um quadro que
não revela abertamente a intenção do pintor; uma
canção que não diz diretamente o que quer dizer; um
romance; um conto; um poema; tudo isso pode estar
ocultando verdades. Ou melhor, filtrando-as. As leis da
física são o que de mais próximo se tem da “verdade”. E
a arte, por sua vez, é o que mais se assemelha à mentira.
É o artifício, é o jeitinho dos homens e mulheres para
enganar seus próprios sentidos em prol de uma coisa
que só nós, humanos, almejamos: o bem estar estético.
Procuramos a boa música, a boa literatura, enfim, a boa
arte, pelo simples motivo de que nos falta a boa vida.
Falta-nos a verdade suprema. Falta-nos a plenitude tão
querida pelos antigos gregos. Não somos plenos em
alegria e nem em verdade. Somos frustrados nestes
quesitos. Talvez os próprios gregos tenham pretendido
tapar esses buracos com a grandiosa arte que
empreenderam. Talvez eles soubessem, já, muito bem
que nos falta essa tão ausente boa vida.
Quando escrevo um poema eu sou o homem mais
verdadeiro do mundo, e também o mais mentiroso.
Talvez a maior parte da literatura universal gire em
torno de uma abstração: o amor. A frase “eu te amo” é
um signo. Ela que dizer um monte de coisa. Ela pode
estar dizendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Ela
pode estar escondendo outras. Ela pode estar dizendo
nada. É uma das frases mais belas criadas pela cultura
humana e está presente em todos os idiomas. E não é
uma frase plena de verdade ou, ao menos, de significado
claro, como por exemplo “eu estou com fome” ou “eu
221
estou com tesão”. Contudo é, sim, bela. Ela pode ser
doce ou amarga – tudo vai depender da ocasião, do
falante e do ouvinte. “Eu te amo” é uma frase
impressionante. Como alguém poderia estar sendo
absolutamente sincero ao dizer algo tão poderosamente
carregado de simbologia? Parafraseando um grande
letrista do rock brasileiro, Cazuza: “amor é uma mentira
que a nossa vaidade quer”. Ou ainda: “mentiras sinceras
nos interessam”.
222
Recapitulando a grande estrada e o
palhaço da caixa
“(...) Eu estava curtindo uma
temporada fantástica e o mundo
inteiro se abria à minha frente porque eu não tinha sonhos.”
(On The Road, página 314, Jack Kerouak)
Eu havia dito a mim mesmo que não publicaria nada
durante estas férias, mas cá estou eu mais uma vez
quebrando pequenas promessas. Verdadeiramente, eu
não me lembro de ter feito promessa alguma a esse
respeito. Nas minhas orelhas agora o som do
Radiohead. Vejo o som do Radiohead como uma
síntese de toda a música que já foi produzida na
América (do norte). Como tenho quase zero de inglês,
em face da minha amiga de longa data preguiça, eu
consigo penetrar na música, instrumentos, voz, sem a
preocupação com a significância as palavras. O CD que
estou ouvindo é o Amnesiac, e, embora eu não entenda
as letras acho que eles não estão me mandando tomar no
cu – mas, também, se estiverem... Esta terá sido a forma
mais elegante e artisticamente bela de se xingar alguém.
O som é melancólico: ao extremo. É tão melancólico
que traz uma alegria de ressurreição dentro de si. O
último disco deles, In Rainbows, também é excelente.
223
Neste exato momento o sol ultrapassa minha varanda e
vem entrando pela janela de madeira que já está aberta,
como bom convidado, em meu quarto. O meu quarto?
Ele é o reduto de um “poeta beat” sem estrada. É
engraçado como imagino eu saber tanta coisa de estrada
tendo tão pouco caído nela. A minha estrada sempre
veio dos livros e filmes. A grande “estrada aberta” de
Whitman é tão aberta que acaba podendo abrir-se pra
dentro: mesmo pra dentro de quatro paredes ou pra
dentro da tela de um televisor. Quando Walt Whitman
escreveu seus poemas não existia televisão e o cinema
era ainda incipiente. Portanto, se dissessem a ele que um
homem no século vinte e um pegaria a estrada sem sair
de casa ele riria-se. Mas é claro que eu sei que se os
escritores beats vivessem na estrada “de fato” – de
asfalto –, eles não arranjariam tempo pra escrever tanta
coisa: Kerouak, por exemplo, acho que escreveu vinte e
três livros.
Não me sinto um bitolado em coisas virtuais – como
estradas virtuais, já que é disso que tenho falado. Acho
que apenas sou malandro e pego as estradas que me são
possíveis. Um dia contei, de improviso, numa mesa de
bar, uma parábola para um amigo. Falei pra ele que sou
como um palhaço dentro de uma caixa. O palhaço tem
uma mola forte o suficiente para arrombar a tampa da
caixa e sair. Mas por algum motivo ele não o faz. O que
ele faz? Faz furos na caixa de papelão e fica olhando lá
fora. O meu amigo ficou espantado: “que imagem mais
triste...”, disse ele. Ele estava certo. É mesmo uma
imagem triste. É a imagem de uma prisão. Mas penso:
224
os prisioneiros, numa prisão de verdade... Eles não
podem ser felizes? Claro que podem. E sei que muitos o
são. Cada pessoa é feliz à sua maneira e inventa a sua
felicidade. Há inúmeros casos de presidiários que
quando libertos não puderam “ser felizes”. Ou seja, não
puderam contemplar a plenitude esperada com a
abertura dos portões. Graciliano Ramos esteve preso e,
quando liberto, disse, em entrevista, que não fazia muita
diferença, como se sempre tivera sido livre e prisioneiro
– só muda o ambiente.
Tenho quarenta anos e minha estrada me espera. Ele
pode estar na estrada (a estrada da estrada), pode estar
em minha casa, num compartilhar com pessoas
queridas, num aprender, num novo sentir, num novo
captar, num recapitular – e voltar também é importante,
pois somos construídos de passado surpreendentemente
vivo –, num novo livro, num novo filme, numa nova
canção, ou, até mesmo, num velho automóvel, porque
não? A propósito: é o palhaço quem abre a tampa da
caixa ou é uma pessoa quem deve abri-la? Ah... Pensei
agora que as pessoas sempre se assustam com o
palhaço... Só que, para a “sorte” de todos, o palhaço,
que tem uma potente mola, não tem asas.
*
225
Desejo e prudência
A urgência para os que jogam amor, para os que estão
em “estado de amor”, para os que amam, enfim, deve
ser velada, implícita – jamais explícita. A urgência deve
estar de tal forma implícita, a ponto de, ela, a urgência,
transmutar-se, nesse mundo de sonho e representação
necessária, em não-urgência. As coisas devem esperar.
Ou não. Talvez nem precisem esperar, pois a esperança
é algo bem próximo da tristeza e da agonia. E a urgência
é como uma ejaculação precoce, como uma felicidade
incompleta e precoce, como um amor precoce.
A vida e o amor são difíceis, mas isso não os torna
menos belos. O que poderia ser mais enfadonho que um
amor fast-food? A vida e o amor precisam de entradas.
As pessoas não são hambúrgueres. Não são carne
moída, como estudantes saídos do filme The Wall.
Contudo, como adaptar-se ao balé onde dançam no
mesmo palco – ou pista – o desejo e a prudência? Qual a
fórmula matemática dessa dança? Quem dita o ritmo da
dança? O que se faz quando a vida chama pra dançar e
não sabemos nada ou quase nada daquele ritmo?
Cortamos os pés? Atiramos no DJ? Não sei. Que tal
alguns primeiros passos prudentes? Que tal observar os
grandes dançarinos, aqueles a quem, brandamente,
invejamos? Talvez o doce da vida seja aprender a
dançar.
226
Eles eram dois jovens artistas. Pelo menos viam-se
como artistas – e o importante da nossa imagem está no
reflexo que nós próprios vemos. Ela era, entre outras
coisas, dançarina. Ele? Eu não sei bem que tipo de
artista era ele. E acho que nem ele sabia. Acho que
fotógrafo. Ele enquadrava as coisas como faz um
fotógrafo. De toda forma, acho que sua arte era visual.
Mas uma coisa era certa sobre o cara: ele não sabia
dançar. Contudo eles eram artistas que não tiravam seu
ganha-pão de suas artes. Certo dia eles se conheceram
numa dessas boates da vida. Ele sabia que ela já havia
estado naquela boate. Ela sabia o mesmo dele. Os dois,
porém, não haviam tido a oportunidade de se
conhecerem. Chegara então o oportuno dia. E ele
perguntou: “Se você costuma vir aqui e eu também, é
estranho que nunca tenhamos nos aproximado, não
acha?”. Ela concordou, “sabendo” que as coisas não se
dão por acaso. Passados alguns meses eles estavam
falando sobre suas vidas na mesa de um restaurante
como velhos amigos. E houve avanços no embalo das
horas daquele belo dia azul, pois dali passaram, quase
instantaneamente, de velhos amigos para um estado de
infância, e permitiram-se deitar num gramado onde
brincaram de olhar bichos nas nuvens. Ali, naquele
gesto brincante, eles mostraram-se bons aprendizes.
Virar criança não é, definitivamente, pra qualquer tipo
de pessoa. Eles brincaram até o anoitecer. E até depois
de anoitecer.
Muita coisa acontecera. O tempo passou e os jovens
artistas continuaram jovens – e artistas nunca
227
envelhecem –, continuaram artistas, e continuaram bons
aprendizes, e bons brincantes. Então, juntos, produziram
boa arte. E se ajudaram mutuamente a aprenderem
coisas. Ele aprendeu a dançar e a ter calma no coração –
e a não fazer tantos planos pro futuro. Ela aprendeu...
Bem... Ela aprendeu muitas coisas a respeito de viver o
grande barato de ser mulher e do poder disso. E eles não
cansavam de aprender mil coisas, em delicada profusão
de conhecimento empírico e sensorial. Sobre desejo e
prudência, contudo, eles pouco puderam saber. Há
coisas nessa vida sobre as quais pouco se sabe.
*
228
Rio e Prudência
“Estranho seria se eu não me apaixonasse por você”.
Este é o verso que inicia a canção All Star, de Nando
Reis, que foi apresentada ao mundo na voz de Cássia
Eller. Isso foi depois de ela falecer. Todas as pessoas
deveriam conhecer essa canção na voz da Cássia.
É assim mesmo. Soa-me estranho não se apaixonar por
aquilo que é misterioso e ao mesmo tempo revelador,
conflituoso e harmonioso, amedrontador e também
encorajador, pleno de diversos cacos de violência
simbólica e também salpicado de carinhos e afetos
múltiplos. Carinho apaixona.
O Rio é uma dessas coisas apaixonantes. No entanto,
aquela pequena, suave e bem equalizada voz da razão –
“ voz pequena que sai do grande corpo” – recomenda
prudência. O Rio e vários outros caminhos requerem
prudentes alfinetadas de verdade (mas, de qual verdade
falamos?). Eu aceito a recomendação de prudência da
mesma forma que aceito a vida e seu grande absurdo e
maravilha incontroláveis. Aceito. O que não quer dizer
que me desapaixono.
229
Vejo o Cristo noturno da janela do apartamento. O
Cristo não tem nada de apaixonante, pois ele não
carrega em sua gênese a essência da “maravilha
mutante”: o Cristo é duro. E as coisas de verdade, as
pessoas de verdade, são moles. E se apaixonam. E são,
por isso, lindas.
*
230
Sobre Ester
Tarde de sexta-feira. Dia dos namorados. Leve frio de
começo de junho, nesse clima nunca radical do Estado
do Rio, sudeste do Brasil, sul da América, entre os
trópicos. Ponho roupa preta, acabada com meu paletó,
preto, alemão, de fino corte. É meu único paletó, usado
em ocasiões especiais apenas – e, na maioria das vezes,
nem nestas. Saio então pelas ruas. Chuva fina. Abro
meu guarda-chuva e vou, fugindo das rodas dos carros
nas poças. É uma tarde triste. Mas não estou triste,
embora meu estado seja, digamos, solene. Meu último
encontro com Ester foi na quarta-feira, na casa dela.
Naquela tarde, por horas eu a ouvi em seu lindo
quartinho branco, com flores e listras verde claro.
Não estávamos sós, eu e Ester. Éramos quatro naquele
pequeno cômodo que mais parece um pequeno templo:
eu, dois amigos e ela. Um dos amigos fazia as
perguntas. Outro apontava sua câmera de filmar fixada
em tripé. Eu apontava também uma outra câmera,
também num tripé, mas com movimentos de ida e volta
nos detalhes do corpo de Ester, que estava sentada numa
confortável cadeira. Imagens em ida e volta, zoom e
não-zoom. Detalhes das mãos que não paravam de
231
gesticular, com braços que moviam-se pela emoção
daquilo que ela nos falava, terminando em um dedo em
riste. Detalhes de sua boca com honrosos dentes
amarelados. Detalhes de seus olhos expressivos por trás
das lentes que refletiam, às vezes, e de forma mal
calculada por nós, a luz difusa de um refletor. Seus
cabelos brancos, suas rugas impregnadas de história e
poesia, dor e cultura. Cultura poderia ser o nome dessa
mulher. Uma mulher, espantosamente, não-triste. Na
quarta-feira eu não estava com meu paletó preto.
Só que hoje meu novo aguardado encontro com Ester
seria apenas virtual. Marcamos às quatro na casa do
amigo, a fim de dar uma primeira olhada nas imagens
captadas na quarta-feira. Ester na tela. Ela ficou bem na
tela. E o que ela faz na tela do televisor não pode ser
feito por qualquer mulher. Ela nos conta sobre sua
infância no Egito, sobre sua vida. Ela nos fala sobre
morte. Sobre a morte de parentes ante a foice do
nazismo na Alemanha. Sobre a morte do pai – a qual
presenciou. Sobre sua passagem na Inglaterra, por
Oxford, se não me engano. Reclama que na escola
primária, ainda no Egito, as crianças aprendiam
“apenas” três idiomas, e que o resto ela teve que
aprender sozinha. Ela tem muita história pra contar.
Muita. O muito que nos conta, vira e mexe é arrematado
com um sorriso maravilhoso – não que ela seja de rir à
toa.
Em nossa frente fotos que ela deixou em nosso poder,
para serem digitalizadas. Muitas fotos em preto e
branco, evidentemente, de pessoas em sua maioria
232
mortas. Algumas delas mortas em circunstância que não
é difícil imaginar. Acho que não me convém – nem a
mim e nem a ela – entrar em detalhes agora.
O que conto é parte da pré-produção do documentário
que começa a ser realizado numa parceria entre eu e
meu amigo Elano Ribeiro, e com a valiosíssima
colaboração de um novo amigo, Janér Baptista. Esther
(sim, com “h” no meio) é o verdadeiro nome de uma
incrível senhora que conhecemos, a qual nos oferecerá,
para um novo projeto, a matéria prima: ou seja, o “livro
aberto” de sua vida. De família Judia, nascida no Cairo,
formada na Inglaterra, Esther é uma mulher brasileira
com oitenta e seis anos. Uma cidadã do mundo. As
nuances do mundo de Esther, só poderão saber aqueles
que assistirem ao trabalho pronto, que pretendemos
entregar ao público ainda este ano.
*
*
233
*
234
Autoleitura
é um
quasearrependimento.
235
236