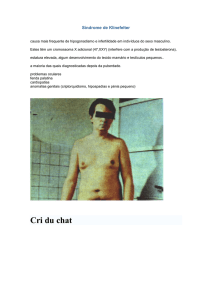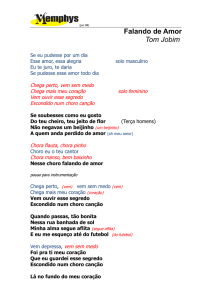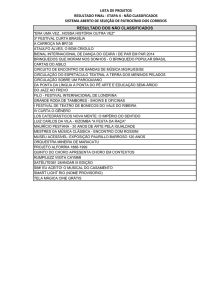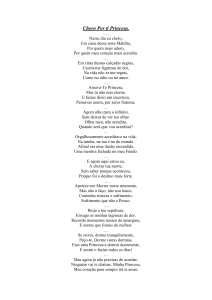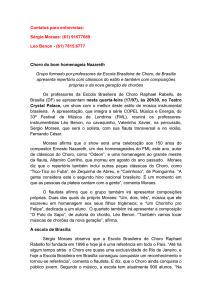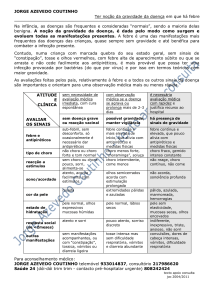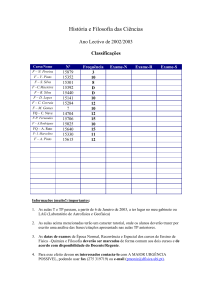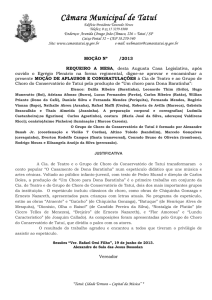UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES – INSTITUTO VILLA-LOBOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA
O BAÚ DO ANIMAL: ALEXANDRE GONÇALVES
PINTO E O CHORO
Pedro de Moura Aragão
Rio de Janeiro, 2011
O BAÚ DO ANIMAL: ALEXANDRE GONÇALVES PINTO
E O CHORO
por
Pedro de Moura Aragão
Tese submetida ao Programa de Pós
Graduação em Música da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro
como requisito parcial para a obtenção
do grau de Doutor, sob a orientação da
Professora Dra. Martha Tupinambá de
Ulhôa.
Rio de Janeiro, 2011
F385
Aragão, Pedro de Moura.
O baú animal : Alexandre Gonçalves Pinto e o choro / Pedro de
Moura Aragão, 2011.
333f.
Orientador: Martha Tupinambá Ulhôa.
Tese (Doutorado em Música) – Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
1. Choro (Música). 2. Música popular – Brasil. 3. Etnomusicologia. 4. Memória - Aspectos sociais. I. Ulhôa, Martha Tupinambá. II. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2003-)
Centro de Letras e Artes. Curso de Doutorado em Música. III. Título.
CDD – 780.420981
AGRADECIMENTOS
Aos meus colegas de doutorado.
À minha orientadora, Martha Ulhôa, pelo apoio generoso e constante.
Aos professores Luiz Otávio Braga e Nailson Simões, pela participação na
banca de ensaio e valiosas sugestões.
Aos professores Samuel Araújo e Elizabeth Travassos, que acompanharam este
trabalho desde o seu começo, e que foram fundamentais em diferentes etapas de minha
vida acadêmica. À professora Martha Abreu pela participação na banca.
Aos meus colegas do choro: Déo Rian, Luiz Otávio Braga, Mauricio Carrilho,
Anna Paes, Luciana Rabello, Sérgio Prata, Leonardo Miranda, Egeu Laus, Rodrigo
Ferrari, Simone Cit e Roberto Gnattali, que colaboraram com seus valiosos depoimentos
e sabedorias.
Aos meus familiares.
À amiga Graziella Moraes, pela revisão e comentários sobre o texto.
À minha esposa Paola e meu filho Antonio pelo carinho de sempre.
i
ARAGÃO, Pedro de Moura. O Baú do Animal: Alexandre Gonçalves Pinto e O Choro.
Tese (Doutorado em Música) – Programa de Pós-graduação em Música, Centro de
Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
RESUMO
Esta tese propõe uma releitura do livro O Choro: reminiscências dos chorões antigos de
Alexandre Gonçalves Pinto a partir de ferramentas metodológicas da memória social e
da etnomusicologia. O livro, lançado em 1936, se insere entre os primeiros discursos
sobre a música popular urbana em um período marcado por intenso processo de
solidificação da indústria fonográfica no Brasil, e aponta para a construção da memória
musical do país ao eleger uma prática musical – o choro – como fator de identidade de
uma rede formada por diversos estratos sociais do Rio de Janeiro. Escrito por um
carteiro aposentado que era também cavaquinhista e violonista, a obra apresenta cerca
de trezentos perfis de músicos populares da época, se constituindo como um dos
primeiro relatos etnográficos realizados por um insider de uma música popular urbana.
A partir dos aparatos metodológicos citados, propõe-se uma leitura da obra como um
texto polifônico, cuja linguagem pode ser caracterizada como uma trama complexa que
apresenta elementos díspares como gírias, oralidades e fragmentos de visão de mundo
de diversos estratos sociais da época. Em particular, salienta-se o fato de que o livro
representa uma memória subterrânea e subalterna de instrumentistas populares que
elegeram a polca como representante da nacionalidade em detrimento do samba que
então surgia como símbolo da música brasileira. A releitura abrange ainda aspectos
musicológicos apresentados pelo livro, tais como ensino, aprendizado e transmissão das
práticas musicais descritas, com destaque para o papel dos acervos manuscritos de
choro dos séculos XIX e primeiras décadas do século XX. Finalmente, a tese discute as
diversas re-significações do livro por parte de diferentes atores sociais da atualidade
como músicos, jornalistas, professores universitários, e amantes da música brasileira de
forma geral.
Palavras-Chave: Choro – Música popular urbana – memória social – etnomusicologia
ii
ARAGÃO, Pedro de Moura. O Baú do Animal: Alexandre Gonçalves Pinto e O Choro.
Tese (Doutorado em Música) – Programa de Pós-graduação em Música, Centro de
Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
ABSTRACT
This dissertation revisits one of the most important books about a Brazilian popular
music "O Choro: reminiscências dos chorões antigos", written by Alexandre Gonçalves
Pinto. Written in 1936, the book can be considered one of the first portrays of urban
popular music in a period marked by the phonographic industry consolidation in Brazil.
The book also provides an original approach to the construction of Brazilian musical
memory electing a musical practice – o “choro” – as an identity factor of a network
formed by various social strata in Rio de Janeiro. Written by a retired postal worker
who was also a guitarist and “cavaquinhista”, the book presents biographies of nearly
three hundred musicians of this period of time, and can be considered one of the first
ethnographic accounts written from an insider’s perspective. The dissertation reviews
the diverse readings of this historical piece by musicians, journalistas, scholars, and
music lovers in general. Relying on ethnomusicologic and social memories concepts, I
propose new readings of this work that emphasizes previously underestimated
musicological aspects, such as teaching, learning and transfer of musical practices. In
particular, I emphasize the key role of choro’s manuscripts collections of the nineteenth
and early decades of the twentieth century.
Keywords: Choro – Popular music – social memory - ethnomusicology
iii
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS E TABELAS............................................................................vi
PREÂMBULO..............................................................................................................vii
INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 1
CAPÍTULO 1 – Memória, história e etnografia: representações da obra de
Gonçalves Pinto através do tempo...............................................................................11
1.1) A historiografia da música popular urbana carioca: entre o
‘colecionismo’ e a história social
1.2) As construções das “histórias do choro”: as várias leituras do livro de
Gonçalves Pinto
1.2.1) A leitura de “O Choro” pela geração ‘colecionista’: o fichamento de
Jacob do Bandolim e os trabalhos de Ary Vasconcelos
1.2.2) Tinhorão e a história social do choro
1.2.3) As teses acadêmicas sobre o choro
1.3) Música, cultura e sociedade: questões metodológicas
1.3.1) Signos musicais e sociais: a “eterna paralela”
1.3.2) Memória e etnografia como ferramentas metodológicas
1.3.3) Bakhtin, heteroglossia, carnavalização e circularidade Cultural
CAPÍTULO 2 – Vida festiva, malandragem e folhetim............................................92
2.1) Estrutura do livro
2.2) O “choro” e a “roda” e a “velha-guarda”
2.3) O etnógrafo do choro
2.4) Os “heróis do choro” e a vida festiva
CAPÍTULO 3 – Gonçalves Pinto e os primeiros memorialistas da música popular
urbana carioca.............................................................................................................165
3.1) Influências mútuas
3.2) “O Choro” e a Indústria Fonográfica
3.3) Influências da intelectualidade: Mello Moraes, bumba-meu-boi e o choro
CAPÍTULO 4 – A práxis musical em O Choro: aspectos do aprendizado,
transmissão musical e acervos de partituras.............................................................200
4.1) Aspectos da transmissão: o oral e o escrito
4.2) Aspectos do aprendizado
4.3) O Baú do Animal: acervos de partituras manuscritas de choro
4.3.1) O Acervo Jacob do Bandolim
4.3.2) Os cadernos manuscritos da Coleção Jacob do Bandolim
4.3.4) Os cadernos de Jupyaçara Xavier
4.4) Uma musicologia popular
CAPÍTULO 5 – Representações de O Choro na atualidade....................................254
5.1) O “Retiro da Velha Guarda”
5.2) A Revista Roda de Choro e as “Histórias do Animal”
5.3) A gravadora Acari e o resgate do “choro antigo”
5.4) O Animal para as crianças
5.5) Em busca do Animal
CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................294
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................313
ANEXOS.......................................................................................................................320
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Fichamento de O Choro por Jacob do Bandolim: exemplo de uma página – pág. 40
Figura 2 - Maximiano Martins (“Max-Mar”), editor e fundador do jornal do Ameno
Resedá – pág. 104
Figura 3 – Caricatura de Raul Pederneiras – pág. 139
Figura 4 – Página do jornal do Ameno Resedá de 1917 – pág. 163
Figura 5 – “Histórias do Animal” na Revista Roda de Choro – pág. 271
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Fichamento de O Choro por Jacob do Bandolim: categorias utilizadas –
pág.42
Tabela 2 – Estrutura Geral do livro – pág. 113
Tabela 3 – Locais de Trabalho – pág. 126
Tabela 4 – Músicos Militares – pág. 130
Tabela 5 – Profissões – pág. 131
Tabela 6 – Bairros – pág. 134
Tabela 7 – Bandas, clubs, etc. – pág. 220
Tabela 8 – Organização das partituras do acervo Jacob do Bandolim – pág. 227
Tabela 9 – Coleção de cadernos manuscritos acervo Jacob do Bandolim – pág. 234
Tabela 10 – Gêneros musicais mais representativos nos cadernos manuscritos do acervo
Jacob do Bandolim – pág. 242
ǀŝ
Preâmbulo - Castelos de Memórias
Em um dia de abril de 1879, o carteiro francês Ferdinand Cheval cumpria sua
rota de entregas em uma região rural situada entre as cidades de Lyon e Valence,
quando subitamente tropeçou em uma pedra. Ficou surpreso ao constatar que a pedra
tinha uma forma bastante pitoresca e começou a procurar outras com formatos
parecidos. Com elas lhe veio ao pensamento uma idéia: a de construir um castelo.
Pelos próximos trinta e três anos de sua vida coletou pedras e, sem ter qualquer
conhecimento de arquitetura, com elas construiu seu castelo, a que denominou
“Palácio Ideal”. O exótico monumento que erigiu misturava elementos da arquitetura
hindu, de castelos medievais, de chalés suíços, bem como referências a elementos da
Bíblia, animais fantásticos e esculturas surrealistas, e foi visto com extrema
desconfiança por seus pares, que o tomavam como louco. Recebeu o reconhecimento de
artistas franceses como Andre Breton pouco antes de sua morte, em 1924, e hoje seu
nome é uma referência de arquitetura surrealista na França.
Em meados da década de 1930, um carteiro brasileiro, de nome Alexandre
Gonçalves Pinto, agindo como que “impulsionado por uma missão” que lhe parecia
“ter sido ditada pelo poder supremo de todas as coisas” começou a escrever um livro
que mostrasse às “gerações d’agora e futuras” o brilho de uma falange de músicos que
“enalteceram e elevaram as músicas genuinamente brasileiras”; sem ser um escritor, a
tarefa lhe parecia tão difícil quanto a de um “náufrago que, agarrado ao batel da
Esperança, luta sulcando o mar revolto da descrença”. Entretanto, criava em sua
imaginação, à maneira de seu colega francês, “extraordinários castelos de fantasia”,
que com o correr dos tempos, pelas dificuldades encontradas, se “desmoronavam como
bolhas de sabão”. Apesar disso conseguiu erigir sua obra: seu estilo de escrita,
bastante tortuoso e não-convencional, reúne, também à maneira de seu colega francês,
elementos díspares que confundem o leitor à primeira vista. Sua prosa, criticada à
época por não seguir a norma culta, se apresenta como uma espécie de bricolagem
onde se fundem elementos de oralidade, gírias, fragmentos de visões de mundo e
memórias vernáculas de categorias sociais à margem da história como carteiros,
lustradores, funcionários das ferrovias, etc. Tudo isso unido por uma grande paixão
pela música que descrevia. Seu livro, entretanto, caiu no esquecimento, permanecendo
como uma espécie de “contra-memória” até a década de 1970, quando foi
redescoberto pelo pesquisador Ary Vasconcelos. A partir daí passou a ser ponto de
vii
partida para uma teia de re-significações e interpretações sobre as práticas musicais e
sociais que descreve.
O castelo de pedras do carteiro Cheval é hoje uma referência mundial de
construção artística feita por um homem comum; o castelo de memórias do carteiro
Gonçalves Pinto, se não alcançou a glória de seu colega francês, nos permite
vislumbrar as práticas musicais e os feitos artísticos de centenas de homens comuns.
Esse trabalho é dedicado à memória de Ary Vasconcelos e Alexandre Gonçalves Pinto.
viii
1) Introdução
Esta tese tem como foco um dos mais instigantes livros sobre a música popular
urbana do Rio de Janeiro: o livro O Choro — reminiscências dos chorões antigos
escrito em 1936 por Alexandre Gonçalves Pinto (por alcunha “o Animal”), documento
chave para o entendimento do choro no início do século e uma das principais fontes de
pesquisa de todos os pesquisadores do gênero. Contendo “o perfil de todos os chorões
da velha guarda, e grande parte dos chorões d’agora” (Pinto, 1978) o livro pode ser
considerado como o primeiro relato de um insider sobre uma música popular urbana no
Brasil. Escrito por um carteiro que era ao mesmo tempo violonista e cavaquinhista, o
relato descreve uma gama de personagens e situações do choro no início do século, em
uma linguagem bastante peculiar. Sua edição inicial de 1936 foi de dez mil exemplares,
e embora o autor planejasse uma 2ª edição da obra, esta nunca se realizou em seu
período de vida. Em 1978, através da iniciativa do pesquisador Ary Vasconcelos, a obra
foi reeditada em versão fac-similar pela FUNARTE.
O livro se insere entre os primeiros discursos sobre a música popular urbana
em um período marcado por intenso processo de solidificação da indústria fonográfica
no Brasil. Da mesma forma que os trabalhos de Orestes Barbosa1 e Francisco
Guimarães2, por alcunha o “Vagalume” – ambos lançados em 1933 –, o livro de
Gonçalves Pinto aponta para a construção da memória musical do país ao eleger uma
prática musical – o choro – como fator de identidade de uma rede formada por diversos
estratos sociais do Rio de Janeiro.
Como indicado por Moraes (2006) o discurso destes primeiros memorialistas
da música popular têm alguns pontos em comum: 1) o fato de terem estabelecido a
“fusão entre a prática da construção da memória e a organização, compilação e
1
2
O Samba lançado em 1933.
Na roda de samba igualmente lançado em 1933.
arquivamento das diversas formas de registros sobre a música urbana, no momento em
que ela surgia como fato cultural e social” (Moraes, 2006: 120); 2) por serem tais
memorialistas “observadores participantes” (pelo menos no caso de Gonçalves Pinto e
Barbosa) ou pelo menos “testemunhas oculares” (como é o caso de Vagalume) dos
eventos musicais da época, suas visões parecem, no dizer de Moraes, “ter-lhes
concedido uma espécie de credenciamento automático para definir a seleção dos ‘fatos
dignos’ de registro, sua veracidade e a ordenação causal e temporal dos eventos (id.,
121). Tal grupo de fatores também teria mais dois desdobramentos: o primeiro seria a
possibilidade de organização, por parte destes memorialistas, de um “discurso fundador
sobre certas ‘origens, características e linha evolutiva’ da música popular (...) nas
primeiras décadas do século XX (id., ib.); e o segundo seria o de que, ao realizar um
discurso baseado nas vivências de rodas, festas, serestas etc, a narrativa que prevalece
entre tais memorialistas é em geral, fragmentada (id., ib.).
Como discurso fundador de uma representação de prática musical – o choro,
que posteriormente seria consolidado como um dos mais representativos gêneros
musicais do Rio de Janeiro ganhando, ao lado do samba, dimensão nacional –, o texto
de Gonçalves Pinto foi alvo de sucessivas “leituras” por parte de pesquisadores,
jornalistas, músicos, historiadores e sociólogos. Tais leituras de modo geral privilegiam
aspectos sócio-históricos da obra, numa abordagem que freqüentemente “substitui” o
objeto artístico pelos meios de produção com que estes são gerados3 (Hennion, 2002).
No caso específico do livro, a motivação principal do autor para escrevê-lo - sua paixão
por esta prática musical - desaparece de modo a fazer com que a obra se converta em
3
Para Hennion “a sociologia interrompe a relação sujeito-objeto artístico ao mostrar a tela social
necessário para esta projeção recíproca”. Dessa forma, a abordagem da sociologia da arte dá ênfases a
aspectos como condições de produção e de difusão, autonomização de uma profissão, etc., fazendo com
que os objetos artísticos permaneçam obliterados (Hennion, 2002: 126)
2
mera fonte primária de entendimento das condições sociais e históricas que permitiram
o aparecimento do choro (como por ex. em Tinhorão 1998a: 93 a 109).
A proposta da tese é realizar uma leitura da obra a partir de uma perspectiva
etnográfica, algo que a meu ver nunca foi feito pelos poucos estudiosos que se
debruçaram sobre ela, como Vasconcelos, Tinhorão e Cazes. Tais autores, apesar de
reconhecerem a importância do livro do “Animal”, limitaram-se a tratá-lo como uma
mera “fonte primária”, utilizando-se deste para realizar contextualizações históricas e
sociais a respeito do ambiente do choro no início do século XX, mas muitas vezes
deixando de lado aspectos musicais importantes, conforme procurarei demonstrar ao
longo da tese. Mais do que isso, creio que a principal lacuna de todos os escritos sobre o
livro passa pelo enfoque da leitura. O ponto central da tese é o de que O Choro é um
documento complexo, que não pode ser lido como uma narrativa convencional: ele não
é em essência um livro de um historiador da música popular, nem obviamente de um
profissional das letras. Quando lido assim, sua análise redunda em dois extremos
diferentes: por um lado tem-se uma atitude crítica, resultado da aparente falta de
estrutura do livro e das “incorreções gramaticais”: é esta a postura de Catulo da Paixão
Cearense ao negar-se a escrever um prefácio para o livro, conforme solicitado por
Gonçalves Pinto. É esta também a postura de críticos da atualidade, como Cazes (1998),
para quem o livro:
(...) por tantas vezes usado como fonte, é tremendamente mal escrito e cheio de
imprecisões e absurdos. Assim, vê-se literalmente na página 115 a seguinte sandice:
‘A polka é como o samba — uma tradição brasileira. (...) A polka é a única dansa
que encerra os nossos costumes, a única que tem brasilidade’” (Cazes, 1998:18)
Apesar das inúmeras “sandices”, o autor reconhece que “quando tratado do
ponto de vista estatístico e nos trechos em que fala dos ambientes do Choro, o livro
3
revela, por entre dezenas de erros de gramática, dados importantes.” (idem). No
extremo oposto, outros estudiosos adotaram uma espécie de atitude de
condescendência com um autor considerado “semi-letrado” e “sem instrução”,
advindo das classes populares, um “primitivo” que, apesar de importante, não estava
“culturalmente equipado para a tarefa que com tanto amor e dedicação se lançou”
(Vasconcelos, 1977: 29).
Este enfoque de leitura, portanto, nos leva a estes dois extremos, igualmente
equivocados em minha opinião: Gonçalves Pinto não é um ignorante que se esforça para
escrever, por um lado, e nem um “ingênuo” e pobre carteiro a quem devemos tratar com
condescendência. Por certo ele também não é um intelectual no sentido usual do termo.
Como podemos então classificá-los, a ele e sua obra?
Como já sugerido, sua escrita é uma trama polifônica e complexa que traz em
seu bojo numerosos elementos: ela mistura fragmentos da imprensa carnavalesca da
belle époque, elementos da oralidade, gírias, fragmentos de conceitos e idéias de
diferentes extratos sociais da época (incluindo temas como nacionalidade, identidade e
indústria cultural), referências a fatos históricos, políticos e cotidianos, tudo isso unido
por um único fio condutor: a paixão de seu autor por uma música. Esta paixão musical
leva o autor a fazer pela primeira vez na história da música popular urbana brasileira um
trabalho que poderíamos cunhar de etnográfico: são mais de duzentos “personagens” da
época descritos em pequenos “verbetes” ao longo do livro, além de descrições dos
ambientes musicais da época, das festas, danças, etc. Ao mesmo tempo, o livro deixa
patente o conceito de música como algo que não se resume a um discurso sonoro, mas
que engloba todo o seu entorno social – as festas, as comidas, o público ouvinte, o
carnaval, etc.
4
Lido portanto através deste prisma – o de um depoimento etnográfico escrito
por um bricoleur que faz uma espécie de mosaico de modos de discursos – a obra ganha
nova dimensão. O objetivo principal do trabalho é, portanto, o de demonstrar como o
meu objeto de estudo, um livro escrito por um velho carteiro aposentado, longe de ser
um amontoado de “recordações” mal coligidas, “tremendamente mal escritas e cheias de
absurdos”, se constitui como uma trama narrativa com objetivos bem claros: descrever
um grupo unido por uma identidade sonora, muito embora composto de pessoas de
diferentes classes sociais; fornecer uma paisagem sonora do Rio de Janeiro no início do
século, relacionando diversos bairros da cidade com a música que ali se fazia; sugerir
como os músicos definiam o que era um bom e um mau instrumentista ou compositor,
como se aprendia aquela música, de que modos era transmitida. E, mais importante,
demonstrar como redes de sociabilidade e práticas musicais se articulam e se constroem
mutuamente.
Antes de prosseguir, preciso relatar agora um pouco da minha própria
experiência em relação ao livro. Adquiri-o por acaso em um sebo em 1998 (trata-se de
uma obra relativamente difícil de ser encontrada, já que a edição da FUNARTE foi de
somente dois mil exemplares) e minha primeira impressão lendo a obra foi de
estranhamento: além dos inúmeros erros gramaticais, havia erros tipográficos,
construções de frases estranhas, e grande número de referências para mim sem sentido.
Com o tempo, à medida que passei a me interessar pela pesquisa em choro, fui
aprendendo a reconhecer a importância das informações contidas no livro, ainda que por
vezes o estranhamento se mantivesse. Posteriormente pude perceber que uma análise
detalhada mostrava não apenas um material riquíssimo sobre o ambiente musical do Rio
de Janeiro das primeiras décadas do século XX como uma descrição cuidadosa das
práticas musicais dos instrumentistas populares da época. Mais ainda, que o livro
5
desvelava aspectos musicológicos da praxis musical da época tais como relações de
ensino e aprendizagem, a relação entre o oral e o escrito, a importância dos acervos de
partituras manuscritos, a relação do choro com a indústria fonográfica, entre outros
aspectos. Esta percepção, entretanto, só me foi dada quando meu enfoque de leitura foi
modificado: ao invés de tentar identificar uma narrativa linear e coesa, passei a entender
a obra como um feixe de discursos, muitos deles fragmentados, e que portanto
demandava uma leitura igualmente polifônica e analítica. Esta leitura me propiciou
desvendar, à maneira de um novelo emaranhado, uma série de “fios” que me
conduziram às diferentes etapas de pesquisa deste trabalho.
No primeiro capítulo, intitulado Memória, história e etnografia, procuro
compreender as representações da obra de Gonçalves Pinto através do tempo,
identificando as diferentes leituras e análises do livro a partir da década de 1960.
Através de uma análise da historiografia clássica da música popular brasileira
(particularmente a carioca) e do choro em particular, procuro entender de que forma
diferentes práticas musicais do início do século XX foram posteriormente rotuladas em
“rubricas” estanques como “choro” e “samba”. No segundo tópico apresento a
metodologia utilizada como ferramenta teórica para o presente trabalho, calcada no
binômio memória-etnografia. Como base metodológica para tal tarefa, realizei uma
revisão bibliográfica de textos que julgo particularmente importantes para sua
realização. Estes textos estão relacionados com três questões básicas: 1) o problema da
leitura e da interpretação de um texto advindo de uma “classe subalterna” 2) a relação
entre identidades sociais e música; 3) o papel da narrativa neste processo — tomo aqui o
conceito Villa (1995), para quem a narrativa constitui uma categoria epistemológica que
foi tradicionalmente confundida com um gênero literário, mas que seria um dos
esquemas cognoscitivos mais importantes do ser humano. Para os dois primeiros
6
tópicos utilizo alguns textos-chave da etnomusicologia e de estudos sobre a música
popular como Blacking (1995), Middleton (1990) e Hennion (2002), além de textos
sobre memória social e recentes estudos que trabalham com as relações entre etnografia
e história (Coelho, 2009; Gonçalves, 2007; Martins, 2008); para o terceiro tópico uso
como referenciais teóricos textos de crítica literária como Bakhtin (1981, 1987) e da
micro-história como Ginzburg (2006).
No segundo capítulo, intitulado Vida festiva, malandragem e folhetim, procuro
entender de que modo a música determinava um modo de percepção de mundo para os
chorões da época. Como se verá, havia uma associação imediata entre este tipo de
música e um modo de vida festiva, com farta comida e bebida, em oposição ao dia-a-dia
de trabalho. Esta dualidade é colocada de forma recorrente, com a citação, por parte do
autor, do que ele chama de “heróis do choro”, ou seja, aqueles indivíduos que
frequentemente abandonavam o trabalho e a família para viver esta outra dimensão da
vida representada pelos choros. Procuro fazer aqui uma análise destes “anti-heróis”
citados no livro, me utilizando de dois referenciais teóricos: o primeiro diz respeito ao
mote bakhtiniano da “vida festiva” e da concepção de mundo das classes populares da
Idade Média (Bakhtin, 1987). O segundo traz uma comparação entre o escrito de Pinto e
a questão da dialética da malandragem proposta por Antonio Cândido em seu ensaio
sobre o livro Memórias de um sargento de milícias, como se verá. Além disso, procuro
fazer uma relação entre os escritos do “Animal” e a literatura folhetinesca e
carnavalesca da época: para isso comparo os escritos de Gonçalves Pinto aos de
algumas publicações da imprensa carnavalesca como os jornais lançados pelo rancho
carnavalesco Ameno Resedá.
No terceiro capítulo, intitulado Gonçalves Pinto e os primeiros memorialistas
da música popular urbana carioca realizo uma análise comparativa entre o livro O
7
Choro e outras fontes importantes que se constituem como memórias das práticas
sonoras e sociais da época tais como os escritos de Catulo da Paixão Cearense,
Francisco Vagalume, Orestes Barbosa e Mello Moraes. Ao comparar estes escritos,
procuro entender algumas das diferentes visões e leituras da música popular do período
no que tange a conceitos como gênero musical, “brasilidade”, relação com a indústria
fonográfica etc. Como se verá, os relatos deste período estão longe de apresentar uma
visão unívoca sobre a música popular e suas diversas facetas: a classificação de
“gêneros musicais”, a questão das “origens”, a relação com a indústria fonográfica, etc.
Neste capítulo procuro dialogar com os mais recentes textos acadêmicos sobre este
tema, que incluem Abreu (1998, 2007), Sandroni (2001), Braga (2002), Carvalho
(2006), etc.
O quarto capítulo, intitulado A práxis musical em “O Choro”, tem como foco
aspectos da transmissão musical do choro no período de 1870 a 1930 — período que
compreende a narrativa de Gonçalves Pinto. Estes aspectos podem ser formulados
através de uma série de perguntas: 1) de que modo os músicos aprendiam esta música?
Quais os lugares de aprendizado e de que forma este conhecimento era transmitido? 2)
De que modo os músicos reconheciam um bom instrumentista e de que forma se
inseriam os chamados “facões” (músicos fracos) na roda, e qual a importância destes?
3) de que modo os músicos de choro contribuíram para o nascimento e o
estabelecimento de um cânone de compositores e de repertório do gênero?; 4) de que
modo esta música era transmitida? Como se verá, o livro fornece informações preciosas
a respeito dos arquivos de partituras dos chorões, algo que a meu ver foi pouco
abordado pela bibliografia sobre o gênero até hoje. Pelo seu relato, sabemos que a
leitura e a escrita de partituras era algo importante para a transmissão do choro, sendo
que muitos músicos escreviam álbuns de partituras que eram frequentemente copiados
8
uns pelos outros, em uma verdadeira rede de informação. A partir deste fato, procuro
discutir aspectos da transmissão oral e escrita no choro, tomando como referencial
teórico textos da musicologia (Treitler, 1992) e da etnomusicologia (Nettl, 1985) sobre
o tema. Este aspecto nos chama ainda a atenção para o gigantesco acervo de partituras
manuscritas da época e que hoje se encontram em instituições públicas e particulares
(veja-se por exemplo a coleção Jacob do Bandolim do Museu da Imagem e do Som do
Rio de Janeiro, bem como o acervo Donga, de posse de sua família), material a meu ver
pouco analisado até o presente trabalho. Ao longo do capítulo procuro fazer um
mapeamento e uma análise das coleções manuscritas de choro encontradas nestes
acervos.
Finalmente, o quinto capítulo trata da rede de significações do livro na
atualidade. O primeiro item é dedicado ao “Retiro da Velha Guarda”, espécie de reunião
semanal de músicos de choro que perdurou até a década de 1970, alguns dos quais
chegaram ainda a ser retratados no livro O Choro, como Napoleão de Oliveira e Léo
Vianna. Meu objetivo é analisar de que forma aspectos do ambiente da “roda”
ressaltados no livro se mantiveram ou não nestes encontros entre antigos músicos. O
segundo tópico do capítulo é dedicado à Revista “Roda de Choro”, publicada na década
de 1990 e editada pelo livreiro Rodrigo Ferrari e pelo designer Egeu Laus. A revista
continha uma seção dedicada às “Histórias do Animal”, onde o carteiro “reaparecia” nos
tempos atuais para contar “causos” do seu livro e também histórias da atualidade,
narradas “ao estilo” do carteiro. O terceiro tópico é dedicado ao movimento de
“redescoberta” do choro antigo (ou seja, de compositores e obras de finais do século
XIX e primeiras décadas do século XX entendidos como ligados ao choro) por um
grupo de músicos ligados a gravadora Acari, tendo o livro de Gonçalves Pinto como
referência principal. O quarto tópico é dedicado ao livro infantil “Pedro e o Choro”, de
9
autoria de Simone Cit (com direção musical de Roberto Gnattali), uma espécie de
paródia do clássico de Sergei Prokofiev “Pedro e o Lobo”, onde a figura do lobo é
substituída pelo “Animal”, ninguém menos do que o carteiro Gonçalves Pinto.
Como a análise da linguagem do livro é um dos pontos principais desta tese,
optei por preservar integralmente a grafia e a gramática utilizadas no original, sem
apontar para qualquer desvio da norma culta. Da mesma maneira, como o objetivo é
dialogar com o texto e as referências e transcrições de trechos do livro são constantes,
optei por identificá-las apenas pelo número da página. Tal indicação remete sempre à
edição fac-similar da FUNARTE de 1978.
10
Capítulo 1
Memória, história e etnografia: representações da obra de Gonçalves
Pinto através do tempo
O tema da música popular urbana no Rio de Janeiro no período da belle
époque – finais do século XIX e inícios do século XX – exerce ao mesmo tempo um
enorme fascínio sobre pesquisadores e amantes da música em geral e uma
multiplicidade de discursos e posições, muitas vezes ideológicas, sobre o significado
das práticas musicais da época em esferas mais amplas. Período em que surgem gêneros
musicais que serão considerados fundadores de uma ansiada “identidade nacional”,
como o maxixe, o choro, e – em maior escala – o samba, é, justamente por tal motivo,
também um período prenhe de significados e desafios para pesquisadores da atualidade.
Tanto os discursos da época em suas variadas instâncias – fontes primárias como jornais
e revistas, livros publicados, gravações etc. – como os discursos posteriores sobre este
período são repletos de conceitos como música e nacionalidade, “autenticidade”,
“origens”, “ancestralidade”, formando uma espécie de caleidoscópio onde muitas
imagens, representações, discursos e mitos podem ser vislumbrados. Mais do que isso,
representações da história são moldadas a partir de signos culturais (incluindo aí
também certamente os signos sonoros) para a produção de discursos. Este processo
envolve uma verdadeira “rede” de mediadores formada por diversos atores sociais, que
ao longo deste período se entrelaçam através de uma teia complexa que envolve fatos
sociais, memória, história, interpretação, paixão musical, entre outros elementos.
Em última análise, as próprias palavras normalmente utilizadas para designar o
que chamamos de “gêneros musicais” podem ser interpretadas como instâncias
mediadoras pelas quais abarcamos um conjunto de signos culturais, sociais e sonoros.
“Samba”, “tango”, “maxixe”, etc, são termos que tentam de certa forma transformar em
conceitos unívocos o que na verdade se constitui como uma teia de significados.
Como explicado na introdução, este trabalho tem como objeto de estudo
justamente um relato em forma de livro que se intitula “O Choro”. Por trás deste nome
há sem dúvida um mundo de significados. Usualmente definido pela bibliografia como
sendo primeiramente o nome pelo qual se designava o conjunto formado por violões,
cavaquinhos e flautas surgidos nas últimas décadas do século XIX (ou o lugar onde o
conjunto tocava), posteriormente seria o nome dado ao gênero musical decorrente da
interpretação peculiar que estes grupos davam à execução de danças européias, tais
como polcas, valsas, schottischs, quadrilhas, entre outros. Nesta passagem de nome de
conjunto para gênero musical, a bibliografia ressalta sempre uma “influência africana”
que teria funcionado como uma espécie de catalisador no processo de “nacionalização”
destas danças européias (analisaremos esta questão no decorrer do capítulo)
No entanto, por trás desta definição aparentemente monolítica, para qualquer
um que esteja minimamente familiarizado com a história da música popular brasileira, a
simples menção da palavra “choro” remete a um conjunto de significados que podem
incluir itens diversos como nomes de compositores (Pixinguinha, Ernesto Nazareth,
Chiquinha Gonzaga, etc.), instrumentos musicais (flauta, cavaquinho, violão), memórias
sonoras (músicas de choro, sonoridade dos instrumentos), situações sociais (festas,
rodas de choro), etc. Obviamente estas associações mudam de acordo com o ponto de
vista de cada indivíduo ou grupo social que evoque a palavra. Para um músico de choro
da atualidade, a palavra pode estar ligada a um repertório, a determinadas práticas
musicais realizadas em conjunto ou mesmo ao desempenho mecânico e técnico do
instrumentista necessário para executar determinado repertório. Para um jovem de
classe média do Rio de Janeiro de finais da década de 1990, a palavra poderia estar
12
ligada à ideia de boemia, diversão e mesmo associada a certos locais da cidade, como a
Lapa (bairro boêmio do Rio de Janeiro que presenciou neste período um dos muitos
“renascimentos” do gênero). Ao mesmo tempo, a palavra já esteve (ou ainda está,
dependendo do ponto de vista) associada a um gênero “antigo”, praticado por velhos
músicos, ou a um repertório muito restrito de músicas. Toda esta teia de significações,
que está em permanente mutação, resulta em grande parte desta cadeia de mediadores
que inclui músicos, compositores, ouvintes, animadores culturais, jornalistas,
pesquisadores, acadêmicos, etc. Mais do que isso, esta cadeia atua de forma sincrônica e
diacrônica: estruturas do passado (relatos, depoimentos, composições) são sempre
“recuperadas” para “validar” discursos do presente.
Meu principal objetivo neste capítulo é procurar descrever o processo de como
um relato específico – o livro O Choro de Alexandre Gonçalves Pinto – pode
representar ao mesmo tempo uma polifonia de discursos sobre as práticas musicais e
sociais da época e se constituir como parte de uma cadeia de significações posteriores.
Em outras palavras, o discurso do “Animal” incorpora opiniões e visões de mundo de
seus companheiros e amigos músicos da época – visões nem sempre livres de
contradições, como se verá. Ao mesmo tempo, seu discurso é usado por praticamente
todos os escritos sobre o choro da segunda metade do século XX para validar e para
“re”-significar o choro, muitas vezes com finalidades distintas.
No primeiro item deste capítulo, procuro entender de que forma o relato de
Gonçalves Pinto foi interpretado de maneira diversa por pesquisadores, acadêmicos e
músicos ao longo do século XX. Como introdução a este tema, faço uma pequena
análise da historiografia da música popular urbana brasileira desde as primeiras décadas
do século XX, incluindo os autores “clássicos” das décadas de 1940 a 1960 e as novas
perspectivas abertas pela literatura acadêmica a partir da década de 1990. Em seguida,
13
foco minha análise na historiografia específica sobre o choro, procurando entender de
que forma foram construídas diversas representações históricas sobre este termo e quais
os diferentes papéis que a obra de Gonçalves Pinto assumiu neste processo. Esta revisão
bibliográfica, que inclui também a literatura acadêmica mais recente, nos aponta
caminhos possíveis que vão além de uma “história-social” do choro, como se verá. No
segundo tópico do capítulo discuto o modelo metodológico que será adotado ao longo
do trabalho.
1.1) A historiografia da música popular urbana carioca: entre o
“colecionismo” e a história social
Comecemos com algumas reflexões sobre a historiografia da música popular
urbana carioca. Embora gêneros considerados “nacionais” já existissem desde meados
do século XIX, como a modinha e o lundu, é somente a partir da década de 1930 que
surgem os primeiros “historiadores” destas músicas, realizando ao mesmo tempo um
trabalho de construção de memória e de “institucionalização” destas práticas musicais.
Ao contrário do que se poderia supor, este movimento não parte da intelectualidade
musical brasileira – a discussão sobre a música popular urbana está totalmente ausente
ou, quando muito, abordada de modo apenas marginal na obra de historiadores da
música ou musicólogos brasileiros como Guilherme de Melo, Renato Almeida, Mário
de Andrade, Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e Oneyda Alvarenga.
Sem o aval dos intelectuais, este movimento acaba por partir de escritores
normalmente ligados a atividades jornalísticas, como era o caso, no Rio de Janeiro, de
Francisco Guimarães (por alcunha o “Vagalume”) e Orestes Barbosa – autores dos dois
primeiros livros sobre a música que se tornaria o símbolo nacional por excelência: Na
14
roda de samba e Samba, respectivamente, ambos lançados em 1933. Ou ainda de
músicos populares, como é o caso do próprio Gonçalves Pinto, cuja obra é o alvo deste
trabalho. Estes primeiros memorialistas tinham em comum o fato de serem testemunhas
“oculares” e até certo ponto participativas destas práticas. No entanto, seus discursos
eram antagônicos em muitos pontos. No que se referia à indústria cultural nascente (o
disco e o rádio), por exemplo, Vagalume era um verdadeiro opositor daquilo que ele
considerava a “mercantilização” do samba, e não hesitava em atacar figuras como
Francisco Alves e Ary Barroso, classificando-os depreciativamente como “sambestros”,
ou seja, estranhos ao ambiente da “verdadeira” roda de samba. Já Orestes Barbosa
defende o rádio como o mais importante meio de difusão do samba e exalta as “novas”
figuras como Noel Rosa e Lamartine Babo (tal tema é alvo de discussão de diversos
trabalhos recentes como por exemplo Sandroni 2001, Napolitano 2000 e Moraes 2006).
Gonçalves Pinto, conforme veremos ao longo deste trabalho, fará um contraponto
ambíguo a estes dois outros escritores, por um lado criticando, por outro enaltecendo os
artistas do rádio. Analisaremos de forma mais aprofundada o trabalho destes primeiros
memorialistas no capítulo três.
De toda forma, são os escritos destes cronistas e o fortalecimento da indústria
cultural na década de 1930 – o rádio e o disco principalmente – que fazem com que as
diferentes práticas musicais da cidade se consolidem em uma espécie de “instituição”: a
música popular brasileira. Instituição complexa, que envolvia não só a prática sonora,
mas conceitos mais amplos como identidade, nacionalidade e ancestralidade; instituição
“polifônica”, que trazia em seu bojo uma série de discursos muitas vezes antagônicos,
como mencionado. E como toda instituição, portadora de uma “história” – ou de várias
“histórias” possíveis – e de personagens principais e “mitos”.
15
Como conseqüência deste processo de historicização, surgem, a partir da
década de 1950, os primeiros acervos sistemáticos de música popular brasileira.
Formados por especialistas que eram também muitas vezes “atores” da música popular,
como o radialista e cantor Almirante (Henrique Foréis Domingues) e o instrumentista
Jacob Pick Bittencourt (Jacob do Bandolim), ou simplesmente pesquisadores, como
Mozart Araújo, Jota Efegê e Lúcio Rangel, tais acervos tinham como principal objetivo
serem uma espécie de salvaguarda da memória musical nacional, através de suportes
materiais – gravações, partituras, fotos, documentos históricos – que não só ilustrassem
esta história, mas que determinassem com pretensões científicas as “verdades dos fatos”
da música popular: o que incluía temas como suas “origens”, o estabelecimento de uma
linha evolutiva desta música, questões de autoria (as célebres discussões sobre a autoria
de músicas como Pelo Telefone e Luar do Sertão, por exemplo) e outros fatores, todos
com forte cunho ideológico e nacionalista.
Esta geração de “pesquisadores/colecionadores” tem papel fundamental na
“institucionalização” da música popular brasileira, mas sua relevância ainda suscita
muitas questões. Por um lado, os escritos desta geração1 são apontados como tendo
caráter essencialmente biográfico ou com ênfase nas obras artísticas – ou seja, se
resumiriam a uma espécie de arrolamento de biografias e obras de músicos e
compositores (ver a este respeito Contier, 1988). Ainda que considerados importantes
por terem “no mínimo, mapeado autores, repertórios, sublinhando características de
épocas” (Braga, 2002: 4), este corpus permaneceria de certa forma na categoria de obras
de caráter “não científico”. Para Napolitano e Wasserman (2000), estes pesquisadores
poderiam ser classificados sob a denominação de “folcloristas urbanos”. Segundo estes
autores, a geração de Almirante e Jota Efegê, não tendo encontrado no pensamento
1
Poderíamos apontar como exemplos destes escritos obras como No tempo de Noel Rosa, de Almirante,
Sambistas e Chorões de Lúcio Rangel e Figuras e coisas da música popular de Jota Efegê.
16
intelectual da época (notadamente no de Mário de Andrade) um apoio para estabelecer
uma tradição reconhecida e legítima do samba como eixo central da música popular
brasileira, tomou para si “a tarefa de consolidar um pensamento historiográfico
sistematizado em torno da música urbana. (...) Dialogando com as posições de
Francisco Guimarães, mas imbuídos de um espírito “científico” de coleta e preservação,
estes jornalistas e radialistas acabarão por demarcar o espaço de um inusitado
‘folclorismo urbano’” (Napolitano e Wasserman, 2000). Sob a denominação
“folclorismo urbano” subjaz sem dúvida a ideia de folclore como uma atividade
excluída de um corpus acadêmico. No dizer de Vilhena (1997:22)
(...) o folclorista se tornou o paradigma de um intelectual não acadêmico ligado por
uma relação romântica ao seu objeto, que estudaria a partir de um colecionismo
descontrolado e de uma postura empiricista. Dessa forma, os estudos de folclore são
freqüentemente vistos como uma disciplina ‘menor’ ou como um recorte temático
inadequado, praticados fora das instituições universitárias por ‘diletantes’.
Mais do que um simples “colecionismo”, o trabalho desta geração estabeleceu
uma filiação – ainda que controversa – com o pensamento nacionalista que norteou os
trabalhos da musicologia brasileira desde o início do século XX. Este verdadeiro
paradigma nacionalista estava associado à ideia de que a identidade nacional só seria
encontrada na aquisição de um perfil próprio, desvinculado dos moldes europeus. No
cerne deste processo estaria a “crença na existência de uma força interna a cada povo,
sua alma ou personalidade, que se manifesta na história, na língua, nas instituições
sociais, nas formas de governo e de expressão artística” (Travassos, 1997:7). Em outras
palavras, as classes que tinham menos contato com a “civilização” e o contexto urbano
conservariam uma “pureza” latente em seus costumes, que configuraria sua
“identidade” como povo, e que, portanto, deveria ser “recuperado” pelo homem urbano
e “civilizado”. Ao mesmo tempo, são sempre identificadas as contribuições de cada uma
das “raças” formadoras no processo de formação musical da nacionalidade. É esta, em
17
termos genéricos, a orientação subjacente aos trabalhos de Mário de Andrade (1934,
1939), Renato Almeida (1926), Luiz Heitor Corrêa de Azevedo (1939, 1950, 1954),
Oneyda Alvarenga (1960), entre outros.
A filiação de estudiosos da música popular urbana brasileira ao pensamento
nacionalista calcado na valorização da música rural e “folclórica” é sem dúvida um
processo que envolve rupturas e paradoxos. Como já mencionado, o pensamento da
intelectualidade musicológica brasileira primou sempre pela valorização das músicas
produzidas fora do contexto urbano em detrimento das músicas taxadas como
“popularescas”, isto é, marcadas por modismos, pela superficialidade e pela
transitoriedade. Conforme afirma Mário de Andrade:
O documento folclórico, na sua prática, pode durar apenas uns poucos anos e
desaparecer totalmente, esquecido da maioria dos cantadores. Mas isto não impede
que ele guarde sempre, por sua natureza, a condição de sua tradicionalidade. Ele
continua sempre excluindo de si a noção da moda, e o seu elemento de
transitoriedade no tempo. Ele foi esquecido, mas isto não implica que tenha
passado. E se revivido pela memória dum cantador, ninguém reage folcloricamente
contra ele. Ao passo que o documento popularesco, pelo seu semi-eruditismo,
implica civilização, implica progresso, e com isso, a transitoriedade, a velhice, a
moda. O documento folclórico, por prescindir do tempo, se torna eterno e sempre
utilizável. (Andrade In: Coli, 1998:178-179)
De que forma então poder-se-ia superar o paradoxo entre a “pureza folclórica”
e a “transitoriedade” dos gêneros populares urbanos? Em outras palavras: como conferir
aos gêneros populares urbanos foros de autenticidade que ao mesmo tempo os livrasse
do estigma de transitoriedade subjacente ao modo com que eram disseminados (ou seja,
através da indústria cultural em expansão: o disco, o rádio, as editoras de partituras, etc.)
e garantisse a eles uma “tradicionalidade” de modo a validá-los como músicas
representativas da nação?
Este processo se deu através de uma diversidade de discursos e
posicionamentos nem sempre congruentes. Em primeiro lugar, procurou-se conferir
18
historicidade aos gêneros populares urbanos, ligando-os às mesmas “raízes” apontadas
pela intelectualidade como formadoras de uma síntese nacional. Assim, o surgimento de
gêneros como o samba e o choro está diretamente ligado à ideia de “africanidade”,
desde autores como Vagalume e Gonçalves Pinto (como veremos), passando por
Almirante, Jota Efegê, Mozart de Araújo e outros, como já fartamente demonstrado pela
bibliografia (ver p. ex. Sandroni, 2001 e Vianna, 1995). Em processo paralelo,
procurou-se apontar “raízes folclóricas” – ou seja, filiações com músicas rurais
produzidas fora de contexto urbano – para explicar as gêneses destes mesmos gêneros.
Um exemplo bastante claro é o livro No tempo de Noel Rosa de Almirante (citado por
Napolitano e Wasserman, 2000), em que o autor inicia sua biografia sobre o compositor
de Vila Isabel traçando uma linha que liga o samba às tradições musicais nordestinas
trazidas para a cidade por músicos e “personalidades” como João Pernambuco e Catulo
da Paixão Cearense2. Este processo será intensificado pela geração de historiadores da
música popular das décadas de 1960 em diante – notadamente Ary Vasconcelos e José
Ramos Tinhorão –, sobre a qual falaremos posteriormente.
Em segundo lugar procurou-se encontrar uma por vezes difícil conciliação
entre a validação de gêneros musicais populares urbanos e a criticada “transitoriedade”
das músicas veiculadas através do disco e da rádio. Este processo se deu na contramão
das críticas contundentes ao processo de “mercantilização” com que gêneros como o
samba e o choro eram absorvidos pela indústria cultural em expansão – sendo a epítome
deste discurso o já citado livro do “adorniano” Vagalume (ver p. ex. Sandroni 2000,
Braga, 2002, entre outros), para quem as instâncias originárias do samba, as “rodas” e o
“morro” seriam os símbolos da pureza do gênero, em contraposição ao ambiente
deletério da comercialização da indústria cultural. Na raiz deste processo de legitimação
2
No primeiro capítulo do livro, significativamente intitulado “Antecedentes Folclóricos”, o autor inicia
seu texto citando autores “clássicos” do estudo de folclore do início do século como Silvio Romero, Melo
Morais Filho, Pereira da Costa, entre outros.
19
dos gêneros “nacionais” através da grande indústria cultural, dois fatores podem ser
apontados: o primeiro reside no fato de muitos de seus cultores serem eles mesmos
representantes do disco e da rádio, como Orestes Barbosa e Almirante. Barbosa,
parceiro de nomes como Noel Rosa e Silvio Caldas em clássicos como Positivismo e
Chão de Estrelas, fará a defesa do rádio em seu livro Samba de 1933:
O rádio. O samba tem no rádio um grande servidor. O rádio é no momento um
problema descurado por parte do poder. A cidade, que tanto lhe deve, precisa
igualmente voltar pra ele as suas vistas, prestigiando, colaborando para que ele
cumpra as suas finalidades em prol do progresso geral (Barbosa, 1933: 188).
Almirante, por sua vez, orientará toda a sua carreira radiofônica para a função
de produtor de programas de cunho nacionalista, muitos deles voltados para a história (e
a exaltação) da música popular urbana, tais como “Histórias de Orquestras e Músicos”
(1944) e “O Pessoal da Velha Guarda” (1947).
O segundo fator deste processo seria o estabelecimento de um cânone de
autores e obras que seriam consideradas “clássicas”, representantes da mais “pura”
nacionalidade e que por isso mesmo estariam fora da transitoriedade inerente aos
modismos e à velocidade com que novos gêneros musicais eram lançados pela indústria.
Para que se alcançasse este objetivo era necessário validar a música popular urbana
como “música artística”, ou pelo menos relativizar a primazia desta última:
Há quem pense, com um partidarismo absurdo, que toda e qualquer música popular
não presta, e que só as grandes obras clássicas, as sinfonias, os quartetos, as sonatas,
etc. etc., que prestam. Pois estão redondamente enganados. Há muita obra de grande
autor considerada até legítima droga. Por outro lado, sabemos também que boa
parte da música popular também não vale grande coisa, mas em compensação, há
no gênero legítimas obras-primas, que como perfeição, como expressão de arte,
nada ficam a dever às obras tidas como clássicas no repertório musical de todo o
mundo (Almirante, texto do programa O Pessoal da Velha Guarda transmitido em
17/03/1948; grifo meu).
A partir deste reconhecimento valorativo da música popular estabelecer-se-iam
diversos cânones de representação: linhas evolutivas de compositores, arranjadores e
20
intérpretes que conteriam, da mesma forma que a música “folclórica e pura”, os
elementos representativos de uma esperada brasilidade. Não nos esqueçamos da
importância, neste processo, da figura do arranjador, responsável pela mediação entre os
sons apresentados pelos compositores e o padrão sonoro exigido pelas instâncias de
mídia (ver a este respeito os trabalhos de Braga, 2002 e Aragão, 2001). O
estabelecimento destes cânones estava então diretamente ligado à constituição de
acervos com material histórico e sonoro que os validassem de forma “científica”, como
já dissemos. É neste sentido que podemos entender a constituição das coleções como as
do próprio Almirante, Jacob do Bandolim, Lúcio Rangel, Mozart de Araújo entre
outros.
Seria possível então utilizar a expressão “folcloristas urbanos” para designar
esta geração de pesquisadores, conforme proposto por Napolitano e Wasserman (2000)?
Certamente há pontos comuns entre estas duas vertentes de pesquisa, a ponto de haver
em meados da década de 1940 uma espécie de “disputa” velada entre intelectuais
ligados ao movimento folclórico e os novos “doutores em samba” conforme designação
de Mário de Andrade. Como apontei em trabalho anterior (Aragão, 2006: 69-80), surge
no Rio de Janeiro no ano de 1941 uma “Comissão de Pesquisas Populares”, que
congregava intelectuais como Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Marisa Lira, Joaquim
Ribeiro, Brasilio Itiberê e Renato Almeida; seu objetivo era a formatação de uma equipe
multidisciplinar que teria como objeto de pesquisas justamente o estudo do “folclore
urbano”. Entre os locais de pesquisa da Comissão estavam lugares típicos do samba
carioca, como a Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, de onde Mariza Lira,
em artigo sobre a expedição, salienta a importância do compositor Angenor de Oliveira,
o Cartola. O que se percebe de maneira geral no discurso da Comissão é uma
contradição entre a aceitação de gêneros denominados “puros” ou “tradicionais” e um
21
enfoque extremamente crítico da divulgação destes mesmos gêneros através do rádio e
do disco. Mais ainda, haveria uma espécie de legitimação do papel do “verdadeiro
folclorista”, conforme se nota neste depoimento de Mariza Lira:
O povo irá ter a compreensão do que é folclore e talvez se apague essa crença, que
os menos avisados do rádio têm espalhado, que folclore é música popular e que
folclorista é o artista de rádio ou colecionador de trovas. O folclore cada vez mais
alarga o âmbito de suas investigações e a música, o canto e as danças populares são
partes deles (Lira, 1953:17, grifo meu).
A crítica velada parece ter como alvo o radialista Almirante, que, na época,
transmitia programas radiofônicos com o tema do folclore musical brasileiro, inclusive
realizando trabalhos de “coleta” musical através de uma espécie de campanha entre os
ouvintes (Cabral, 1990: 175-180). O mais contraditório no discurso, entretanto, é a foto
que ilustra o texto de Lira, mostrando um concerto organizado pela Comissão de
Pesquisas Populares. Com a legenda intitulada “Estudo retrospectivo da música do povo
carioca num concerto organizado, em 1940, por Mariza Lira, nos estúdios da Rádio
Mayrink Veiga”, a foto traz entre as figuras de Mário de Andrade, Pixinguinha, Mariza
Lira, o cantor Ciro Monteiro, Luiz Heitor, Carleton Sprague Smith, diretor da seção de
música da Biblioteca Pública de Washington e as cantoras Odette Amaral e Cinara Rios
(Aragão, 2006). Ou seja, em que pesem as críticas ao rádio, os intelectuais da Comissão
acabavam usando dos mesmos meios de comunicação para divulgar suas ideias e
eventos; ao mesmo tempo, o fato já prenuncia as dificuldades de delimitação de termos
como “folclore” e “música popular” a partir da segunda metade do século XX.
Conforme apontado por Napolitano e Wasserman (2000), as décadas de 1950 e
1960 acabarão por unir figuras oriundas do folclore e da música popular urbana na
defesa de gêneros musicais brasileiros, contra o que era percebido como influência
deletéria das músicas estrangeiras. Um claro exemplo disso é a Revista de Música
22
Popular3, comandada por Lúcio Rangel, que reunia artigos tanto de nomes como Marisa
Lira e Renato Almeida quanto os de Almirante e Jota Efegê. Ou ainda o I Congresso
Nacional do Samba de 1962, organizado pela Companhia de Folclore Brasileiro, com o
objetivo de “preservar as características do samba sem tirar-lhe as perspectivas de
modernidade e progresso” (op.cit.).
Uma nova vertente de estudos sobre música popular nasce na década de 1960
a partir da obra de autores como José Ramos Tinhorão. Embora contendo ainda
elementos que podem ser apontados como resquícios do “colecionismo” da geração
anterior, suas obras têm por bases as metodologias da história social e do materialismo
histórico comuns a este período. Fatos históricos e políticos da nação brasileira passam
a ser entendidos como “estruturas” definidoras das condições sociais e artísticas que são
desenhadas em diferentes períodos. A música aparece então como “supra-estrutura”
determinada pelas condições econômicas e políticas da nação; mais do que isso, ela
resulta do enfoque das lutas de classe e de estágios de dominação em diferentes níveis,
regidos por forças nacionais e internacionais.
De uma forma bastante genérica, pode-se dizer que o cerne da obra de
Tinhorão está calcado na relação entre grupos sociais e a ideia de “autenticidade”
cultural, por oposição a outros grupos sociais que se afastariam, por injunções
econômicas e políticas, desta. Entre os grupos portadores desta “autenticidade” estariam
os contingentes negros e proletários da população que em finais do século XIX e
primeiras décadas do século XX se estabeleceu no Rio de Janeiro, em regiões como a
Cidade Nova e o Estácio. A condição de “autenticidade” está essencialmente ligada às
raízes folclóricas rurais percebidas como “matrizes” deste grupo. Por outro lado, à
medida que a música brasileira se afasta historicamente das manifestações culturais
3
A Revista de Música Popular teve 14 edições entre 1954 e 1956. (Napolitano e Wasserman, 2000)
23
promovidas por este grupo e recebe influências de instrumentos de “dominação
cultural” como o rádio e posteriormente a televisão, ela perderia seu caráter original e
nacional:
No caso especial do Brasil, a realidade desse mecanismo de dominação cultural [o
mercado internacionalizado] gerou uma intervenção contínua no processo evolutivo
da música urbana, tornando-se mais forte à medida que a classe média se foi
apropriando dos gêneros criados pelas camadas populares das cidades que se
nutriam do material folclórico estruturado após quatro séculos de vida rural
(Tinhorão, 1969:9 apud Napolitano e Wasserman 2000)
Uma das mais importantes obras do autor, sua História Social da Música
Popular Brasileira, lançada na década de 1990, exemplifica de modo mais significativo
esta linha de pensamento. Dividido em sete partes – A cidade em Portugal, Brasil
Colônia, Brasil Império, Brasil República, O Estado Novo, O Pós Guerra, e Regime
Militar de 1964 –, o livro tem como eixo central a dicotomia entre apropriação e
expropriação cultural dentro de um contexto de dominação política e ideológica a que,
segundo o autor, o país estaria condicionado desde o período de colonização até os dias
atuais. Com extensa pesquisa documental – muito embora não fiquem muitas vezes
claras, para o leitor, as procedências das informações citadas pelo autor – o livro é sem
dúvida referência fundamental na abordagem da história da música popular sob o
prisma da história social, em que pesem as críticas já suficientemente apontadas sobre
os reducionismos inerentes ao materialismo histórico usado pelo autor (ver a este
respeito Souza, 1998 e Braga, 2002).
A partir das décadas de 1970 e 1980, as pesquisas acadêmicas sobre a música
popular urbana brasileira ganharão novos contornos com influências metodológicas de
outras disciplinas como literatura, antropologia, história, sociologia e semiótica. Nas
instituições universitárias de música novas perspectivas serão abertas a partir da
influência da etnomusicologia. Obviamente, foge ao objeto deste estudo realizar um
balanço completo dos estudos acadêmicos deste período, mas de um modo geral
24
podemos apontar algumas destas novas diretrizes pesquisas – o que nos ajudará a situar
nosso próprio trabalho. Em primeiro lugar, houve um deslocamento do eixo central dos
objetos de estudo: ao invés da procura pelas origens étnicas formadoras de uma
identidade nacional, passou-se a uma postura crítica dos estudos sobre a origem. Tal
postura envolvia também o questionamento do clássico modelo proposto pela
intelectualidade brasileira (ver Andrade, 1939) de utilização da música “folclórica”
como substrato para uma “música artística”, bem como o próprio questionamento destas
categorias previamente dadas, tais como “música folclórica”, “artística” e “popular” (v.
Travassos, 2003). Em última análise, relativizou-se mesmo o conceito de “música”, tal
como percebido através de uma postura eurocêntrica: sob o prisma da etnomusicologia,
o conceito passa a ser fragmentado e entendido como um sistema de comunicação
envolvendo sons estruturados produzidos por membros de uma comunidade e
identificado por estes como sons musicais por oposição aos sons da natureza e aos
ruídos (Seeger, 1991).
Em segundo lugar, os temas da indústria cultural e da circulação das práticas
culturais em contextos pós-industriais emergem como foco de grande número de
trabalhos. O advento da fonografia e os diversos processos de mercantilização e
consumo passam a ser analisados como parte integrante da compreensão musical do
século XX em suas diversas teias sociais. No dizer de Zan (2001), a indústria cultural
não pode ser encarada como uma estrutura fechada, mas como “um processo de
produção e consumo de bens culturais cujos efeitos devem ser analisados como
movimentos tendenciais impregnados de contradições e conflitos”. Este processo é
identificado em última análise como uma poderosa ferramenta de “mediação social”,
termo que resulta em parte da visão de Adorno sobre o objeto de arte como “elemento
na qual a sociedade se objetiva”. Em outras palavras, a música estaria diretamente
25
ligada a hábitos cognitivos, formas de consciência e desenvolvimentos históricos da
sociedade (De Nora, 2000:2).
Em terceiro lugar, as visões panorâmicas sobre vastos períodos históricos são
substituídas por leituras mais focadas em recortes temporais e temáticos mais reduzidos
ou estreitos. Finalmente, intensificam-se as pesquisas que têm como tema os nexos
entre música, cultura e sociedade, sob uma variedade de prismas metodológicos que
envolvem etnografia, história, estudos de crítica literária, entre outros. Este tema será
desenvolvido de uma perspectiva mais abrangente no segundo tópico deste capítulo. No
que tange à música popular urbana carioca, a grande maioria dos trabalhos publicados
versa sobre o samba e sua consolidação como símbolo da música nacional. Neste
processo, é dado ao choro uma espécie de papel coadjuvante, quase que uma etapa na
“linha evolutiva” do samba. Obviamente, foge ao objetivo desta tese fazer uma análise
exaustiva de todas as pesquisas sobre música popular, mas apontaremos de forma
sucinta os principais trabalhos, dirigindo nossa análise para o seguinte questionamento:
de que forma o choro é representado nestes trabalhos mais recentes sobre o samba?
No seu artigo “Getúlio da Paixão Cearense”, Wisnik (1982) procura analisar as
diferentes instâncias de representação da música popular urbana nas três primeiras
décadas do século XX, através de um complexo jogo social que envolve intelectuais
ligados ao programa nacionalista de Mário de Andrade, instâncias políticas que
culminarão com o Estado Novo em 1937 além de instâncias da indústria cultural, como
o rádio e o gramofone, tudo isso tendo por pano de fundo um mosaico de diferentes
práticas musicais populares, advindas de diferentes regiões da cidade. Para o autor este
jogo de representações é simbolizado pelo que ele chama de “biombos” culturais4, ou
seja, territórios culturais de passagem que permitiam articulações entre diferentes
4
Originalmente a expressão “biombos culturais” foi cunhada por Roberto Moura em seu livro Tia Ciata e
a Pequena Àfrica no Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultural, Dep. Geral de Doc. e Inf. Cultural,
Divisão de Editoração, 1995.
26
camadas sociais. Tomando como base a estrutura física da casa da Tia Ciata, a célebre
babalaô baiana que corporifica a ideia de “africanidade” no Rio de Janeiro da época,
Wisnik cria uma espécie de leque de espaços culturais que iam do plano “erudito” (sala
de concerto) aos espaços de “afirmação de contingentes negros” (op.cit. 158) - os
terreiros de candomblé -, passando por diversas instâncias “intermediárias”: o sarau, o
salão de baile, o quintal do samba, etc. Estes diferentes “espaços”, separados por
“biombos” (ou seja, dividindo o território mas ao mesmo tempo permitindo trocas e
interpenetrações) formariam uma espécie de painel onde as lutas de classes seriam
escamoteadas em um jogo de imagens “de um paternalismo de novo tipo onde cultura
dominante e culturas do povo buscam referendar-se num espelhamento” (op. cit. 160).
Tal painel se tornaria ainda mais complexo por dois fatores: a ideologia cíviconacionalista do Estado Novo, com projetos de integração que passavam necessariamente
pela afirmação de uma “identidade” nacional-musical (demandando, portanto, um
discurso sobre autenticidades e origens) e as forças do mercado que “inviabilizavam a
manutenção de uma tradição purista, unívoca e linear” (Napolitano e Wasserman,
2000). O samba seria então o ponto de encontro entre estas duas forças divergentes, a
única possibilidade de interseção entre o desenfreado apelo do mercado e uma estética
de autenticidade procurada pela intelectualidade e pelo Estado.
Para o autor, o choro ocuparia, neste processo, um “lugar paralelo e elástico
entre o samba, o salão e o sarau” por conter um duplo significado: ao mesmo tempo em
que “tangenciava a batucada”, aspirava eventualmente a um status erudito. Em outras
palavras, o choro seria uma espécie de “coringa” musical, podendo se configurar como
uma música apta a ser tocada tanto nos “grandes salões” quanto na mítica casa de Tia
Ciata. Um exemplo claro disso seria dado pelo chorão Sátiro Bilhar, violonista e
funcionário da Estrada de Ferro Central, que, segundo depoimento de Donga, citado por
27
Wisnik, “estilizava a mesma composição (entre as poucas que tinha), conforme as
conveniências do público a quem tocava, em gradações nuançadas entre o erudito e o
popular” (op. cit. 158).
Visões semelhantes do choro nos dão os trabalhos de Vianna (2007) e
Sandroni (2001). O trabalho de Vianna é definido pelo próprio autor como um estudo
das relações entre cultura popular e construção da identidade nacional através da análise
do que o autor denomina o “mistério do samba”, que poderia ser expresso da seguinte
forma: por que motivo um gênero musical apontado pela bibliografia como
“perseguido”, isto é, reprimido pelas elites como “música espúria” (Efegê, 1980: 24) se
torna de uma hora para outra música símbolo da nacionalidade? Para Vianna este seria
“o grande mistério da história do samba: nenhum autor tenta explicar como se deu essa
passagem (o que a maioria faz é constatá-la), de ritmo maldito à música nacional e de
certa forma oficial” (Vianna: 2007: 29). Assim, o objetivo do autor é mostrar como a
transformação do samba em música nacional não foi um processo repentino, como quer
a bibliografia, mas sim o “coroamento de uma tradição secular de contatos (...) entre
vários grupos sociais na tentativa de inventar a identidade e a cultura popular
brasileiras”. (Vianna, 2007: 34).
O livro tem como base metodológica o conceito de “invenção de tradição” do
historiador Hobsbawm (1990); a transformação do samba em música nacional não é
entendida, portanto, como “descoberta de nossas verdadeiras ‘raízes’ antes escondidas,
ou ‘tapadas’ pela repressão, mas sim como o processo de invenção e valorização dessa
autenticidade sambista” (op. cit: 35). Vianna cita ainda o conceito de hibridismo de
Canclini, para afirmar que não considera a cultura popular invenção de um único grupo
social – ou seja, o samba não seria apenas a criação de grupos “negros pobres
moradores dos morros do Rio de Janeiro”. Na raiz do conceito de hibridismo de
28
Canclini “o popular se constitui em processos híbridos e complexos, usando como
signos de identificação elementos procedentes de diversas classes e nações” (Canclini:
1992: 205 apud Vianna 2007).
Possíveis críticas ao trabalho de Vianna, não obstante sua fundamental
importância, poderiam ser feitas a partir da problematização de algumas premissas
teóricas utilizadas por ele no decorrer da análise. Em primeiro lugar a noção
paradigmática do samba como “concepção tópica”, no dizer de Sandroni (2001:114), ou
seja, como “herança negra” previamente dada, já existente nas “noites de senzala”, nos
“terreiros de macumba ou nos morros do Rio de Janeiro” (op. cit), embora
preponderante na bibliografia clássica sobre o gênero (Vianna e Sandroni citam
trabalhos de Arthur Ramos, Oneyda Alvarenga e Sérgio Cabral, Jota Efegê, entre
outros), já é questionada, ainda que isoladamente, desde pelo menos finais da década de
1940. Veja-se por exemplo esta fala do radialista Almirante:
Há um erro em torno do nosso samba, em torno daquilo que deveríamos chamar de
música popular carioca, e [que] tem perdurado devido à despreocupação ou à
ignorância daqueles que tem escrito ou que tem informado àqueles que escrevem
em jornais, em revistas ou em livros, a respeito desta nossa arte popular. Este erro
está em afirmar-se que o samba nasceu no morro, ouvintes. Isto não é verdade.
Ajudem-me a desfazer esta lenda, que além de ser mentirosa contribui para
emprestar à nossa música popular os foros de barbarismo que certos escritores,
certos jornalistas, certos cronistas tanto apreciam, sem investigar coisa alguma,
sem se terem aprofundado no assunto, sem querer ter o trabalho honesto de estudar
antes de afirmar. Certos cavalheiros nos quais o povo acredita, vão publicando
tolices e mentiras deste jaez, e que tanto depois prejudicam o estudo das origens da
nossa música popular (Almirante, programa O Pessoal da Velha Guarda, fins da
década de 1940, grifo meu).
Fica claro neste texto do radialista a crítica à ideia do samba como uma criação
“autêntica” dos morros cariocas; é também muito interessante notar a crítica aos
“escritores, jornalistas e cronistas” que, ao identificarem o morro como lugar de origem
do samba, estariam sub-repticiamente contribuindo para propagar almejados “foros de
29
barbarismo” à música popular. Almirante continua sua fala apontando a origem do
samba como uma espécie de instância mediadora surgida a partir do encontro entre as
práticas musicais da comunidade afro-bahiana da Cidade Nova e os primeiros
compositores populares urbanos. Vale a pena a longa transcrição:
O samba, ouvintes, não nasceu no morro. Quando ouvirem isto, desmintam e
mandem os caras conversar [sic] comigo. Foram as bahianas que se instalaram no
Rio, nos fins do século passado e princípios deste, que realizavam nas festas meio
candomblé que realizavam freqüentemente nas suas casas, que começaram a
difundir por aqui o ritmo curioso do “baiano”, que já era o samba, nas suas duas
modalidades que eram o dançado, que se chamava partido alto, e o cantado que se
chamava raiado. Freqüentavam as casas destas bahianas, principalmente a casa de
tia Ciata, que era na rua Visconde de Itaúna 117, os primeiros compositores
populares que depois se incumbiram da propagação do ritmo baiano entre os
cariocas. Foram eles, pois, os que revelaram ao povo o samba, que até então ficava
restrito às quatro paredes das casas das bahianas. A modalidade espalhada então por
aquela gente, por aqueles primeiros compositores, tinha um aspecto já um tanto
diferente do que se ouvia nos candomblés das bahianas. Eram músicas que já
possuíam duas partes distintas e inalteráveis, partes diferentes portanto dos sambas
primitivos que só possuíam uma parte estável, a outra parte ficava sujeita às
variações e aos improvisos do momento. Os primeiros cultores do samba foram
Donga, Sinhô, Pixinguinha, Chico da Bahiana, China, Hilário. Mais tarde vieram
Freitas, Souto, Careca e outros. Mais tarde ainda Ary Barroso, João de Barro,
Wilson Batista, Ataulfo Alves e mil outros. Pois bem ouvintes, daqueles primeiros,
dos segundos e dos terceiros, nenhum deles, notem bem, nenhum deles foi de
morro. O morro muito mais tarde teve cultores do samba, e mesmo bons
compositores, mas isso não dá direito a que se afirme esta inverdade, que o samba
veio de morro. (Almirante, op.cit)
.
Obviamente a meta do radialista nesta fala é desmentir a ideia de samba como
tendo “origem no morro”, mas note-se que, ao fazê-lo, ele já aponta para o samba como
fruto de um processo de mediação. Por um lado haveria uma “instância original”
representada pelas práticas musicais ligadas aos candomblés das tias bahianas; por
outro, a mediação de compositores urbanos que teriam propagado o gênero musical para
além das quatro paredes das casas das bahianas, alterando, entretanto, sua forma
original. Note-se que não há nenhuma menção às instâncias repressoras do samba neste
processo.
30
Em segundo lugar, conforme salientado por Sandroni, a utilização do termo
“invenção de tradição” aplicada ao samba tenderia a esvaziar o termo de toda sua carga
de significação sonora e social, convertendo-o em uma “música neutra, despida de
marcas culturais potencialmente conflitivas (...) um produto, por assim dizer,
completamente artificial – criação arbitrária, isenta de quaisquer heranças, atavismos e
etnicidades” (op. cit: 114-115). Ou seja, Vianna tenderia a acentuar o extremo oposto da
bibliografia tradicional: o samba não é mais visto como uma “herança afro-bahiana” em
essência, mas se converteria em uma construção artificial inventada por diversas classes
sociais do Rio de Janeiro. Apesar disso, o próprio autor acaba por cair em contradição
ao afirmar que, embora o samba não possa ser considerado “criação de grupos de
negros”, as participações de outras classes, raças e nações se deram pelo menos como
“relação exterior” ao “mundo do samba”, o que acaba por reificar a noção de mundo do
samba como “universo negro” em essência – conforme também assinalado por
Sandroni.
Visto sob o prisma de estudos mais recentes sobre memória social (veja-se p.
ex. Peralta, 2007), a teoria da “invenção das tradições”, ainda que válida na medida em
que contribui para rebater versões “naturalizadoras” ou “essencialistas” de tradição ou
de identidade, tenderia a reduzir a percepção do passado a uma construção unívoca,
determinada, regida e coercitivamente imposta exclusivamente por uma constelação de
poderes pré-determinados (governos, entidades, instituições políticas etc)5. Se é certo
que a construção social do passado encerra, sempre, relações de poder e de dominação,
não se pode por outro lado ignorar outras instâncias de memórias “espacialmente
localizadas em paralelo com as memórias oficiais” (op. cit).
5
Para uma abordagem crítica do conceito de “invenção das tradições” veja-se também Burke 2008:111.
31
Finalmente, poderíamos problematizar também a aplicabilidade do conceito de
hibridismo. Como salienta Kartomi (1981), termos como hibridismo, “crioulo” e
“mestiço” seriam criticáveis na medida em que salientariam as características de
parentesco e de “ancestralidades” das práticas musicais como categorias “científicas”,
tomadas de empréstimo aos campos das ciências naturais (como biologia e agricultura),
em detrimento da percepção destas práticas como válidas por si mesmas. Em última
análise poder-se-ia argumentar que o conceito de hibridismo como artefato cultural que
usa “signos de identificação elementos procedentes de diversas classes e nações” pode
ser aplicado às diversas “categorias” de músicas, incluindo as de tradição européia, e
não apenas às “músicas populares”.
Detive-me de modo mais detalhado na análise do trabalho de Vianna pelo fato
de que grande parte das discussões a respeito do samba são também, a meu ver,
pertinentes ao universo do choro. Em última análise as fronteiras entre os dois gêneros
são também tênues, pelo menos durante um largo período da história da música popular
urbana carioca; não por acaso os dois personagens principais - pelo lado dos músicos
populares - no encontro que é o mote principal do livro de Vianna são Pixinguinha e
Donga, músicos que se dedicavam tanto ao choro como ao samba. O que se pode
apontar é o fato de que, no fundo estas duas categorias “samba” e “choro”, ainda não
estavam separadas de forma estanque nas duas primeiras décadas do século XX – algo
que iria acontecer somente a partir da década de 1930, conforme veremos. Certamente
havia várias grandes correntes de práticas musicais no período: uma ligada à tradição
dos compositores de música instrumental já oriunda do final do século XIX e derivada
em grande parte das danças européias (polcas, schottischs, valsas, etc), formadas por
agrupamentos instrumentais que se chamavam choros e com uma relação forte com os
registros musicais escritos, conforme demonstrarei ao longo deste trabalho. Outra
32
corrente seria representada pela comunidade afro-bahiana da Cidade Nova, como suas
práticas musicais que seriam posteriormente apontadas como “instâncias de origem” do
samba: as chulas, partidos, cânticos de candomblé, etc. Some-se a isso outras correntes
como a que era representada pelo surto de “músicas regionais”, particularmente
nordestinas, no Rio de Janeiro, que teria representantes ilustres como João Pernambuco
e, tempos depois, grupos nordestinos como o Turunas da Mauricéa, ou ainda a onda do
jazz-band que se constituiu como uma verdadeira febre em todo o Brasil nas duas
primeiras décadas do século XX. Estas correntes se interpenetravam e se influenciavam
mutuamente. Músicos como Pixinguinha e Donga estavam portanto imersos neste
universo plural e sua caracterização como simplesmente “sambistas” no encontro entre
intelectuais descrito por Vianna é, neste sentido problemática. A dicotomia entre
“intelectuais” representados por Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Hollanda e o
“povo”, representado pela “turma de Pixinguinha” (Vianna, 2007: 29), também o é em
parte, na medida em que contrapõe um pensamento “intelectual” e portanto “culto”, a
uma matriz “popular”, subentendida como “inculta”. Ora, Pixinguinha e Donga eram
músicos que representavam instâncias mediadoras das correntes musicais descritas
acima e neste sentido poderíamos dizer que estavam também imersos em uma tradição
“culta” musical: ambos sabiam “ler e escrever” música, eram detentores de acervos de
partituras que remontavam ao século XIX etc.
O texto de Sandroni é focado na mudança estilística do samba a partir de finais
da década de 1920 com o advento de um novo paradigma rítmico que ficaria associado
ao bairro do Estácio, calcado em forte tendência contramétrica: este seria o samba que
se consolidaria verdadeiramente como “representação nacional”. Em um trabalho que o
próprio autor classifica como de “etnografia histórica”, Sandroni realiza uma revisão da
bibliografia sobre o samba e seu surgimento, identificando de forma crítica as lacunas e
33
as falsas premissas dos escritos sobre gêneros vistos como antecessores do samba, como
o lundu e o maxixe. Para o presente trabalho é particularmente importante a análise que
o autor faz do processo de nacionalização da polca, baseado em análise de partituras da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro: ele servirá como referência para o terceiro
capítulo, onde discutiremos as transformações nos padrões de acompanhamento de
choro a partir da década de 1930.
Também deve ser ressaltado o fato de que Sandroni talvez seja o autor que
realiza de forma mais aprofundada uma análise da relação entre o samba e o choro,
problematizando a dicotomia, presente na bibliografia clássica (Máximo e Didier, 1990;
Silva e Oliveira Filho, 1989), entre o choro como prática semiculta da baixa classe
média (Cidade Nova) em oposição ao samba como música “primitiva” dos descendentes
de africanos (Estácio). Para o autor, as relações entre música e classe social seriam mais
complexas do que sugeriam estas polarizações (Sandroni, 2001: 139): as
interpenetrações entre estas diferentes práticas musicais são ressaltadas, assim como a
importância de figuras mediadoras destes processos, como Pixinguinha, por exemplo.
Entretanto, ainda que não seja esta a intenção do autor, a análise histórica de
todos os gêneros que “antecederam” o samba do Estácio acaba por levar o leitor
inadvertido a identificar uma espécie de “linha evolutiva” das práticas musicais
cariocas, onde estágios predecessores – lundu, polca, choro, maxixe – desembocariam
finalmente no ápice da contrametricidade atingida pelos compositores do novo estilo de
samba do final da década de 1920. Neste sentido o choro fica implicitamente colocado
como uma etapa na consolidação do verdadeiro mainstream da música nacional: o
samba.
O que pretendo sugerir ao longo do trabalho, e particularmente no terceiro
capítulo, quando discutiremos as transformações nas práticas musicais do choro a partir
34
de sua inserção na indústria do disco e da rádio é que: a) o choro teve papel decisivo nas
transformações de contrametricidade surgidas no Estácio através de figuras mediadoras
como Benedito Lacerda (figura pouco lembrada na bibliografia tradicional sobre samba
mas que teve, a meu ver, papel decisivo na configuração e divulgação deste novo
padrão) e Pixinguinha e; b) que o choro também foi influenciado, de forma paralela e
complementar ao samba, por esta contrametricidade apontada por Sandroni como
símbolo do Estácio. Não por acaso os primeiros arranjos do “novo samba” que
preservaram suas características contramétricas em detrimento da síncope característica
do maxixe foram feitos por Pixinguinha; também não por acaso o conjunto regional
com maior atuação nas gravações do novo samba desde o final da década de 1920 até
praticamente a década de 1970 será o conjunto formado pela trinca Canhoto
(Waldomiro Tramontano) – Dino (Horondino José da Silva) e Meira (Jayme Florence);
a princípio reunidos como “regional de Benedito Lacerda” e depois como “Regional do
Canhoto” a partir da década de 1950.
1.2) As construções das “histórias do choro”: as várias leituras do livro de
Gonçalves Pinto
Neste tópico faço uma análise dos diversos discursos formadores das
“histórias” sobre o gênero choro. Meu objetivo principal é identificar de que modo um
“discurso fundador” – o livro de Gonçalves Pinto – foi sucessivamente lido e
interpretado ao longo de diversas gerações por diversas categorias de atores sociais –
pesquisadores, acadêmicos, músicos, animadores culturais. Mais do que isso, pretendo
entender as razões pelas quais este livro exerceu e ainda exerce tamanho fascínio em
35
diferentes gerações de pesquisadores e músicos. Obviamente esta análise não pode ser
feita sem que se realize uma revisão bibliográfica sobre os escritos sobre o choro.
De um modo geral, a historiografia sobre o choro apresenta as mesmas
características da música popular brasileira apontadas no tópico anterior: os textos das
décadas de 1940 a 1960 (com reflexos até os dias atuais, diga-se de passagem) são
calcados na busca de etnogêneses, nas possíveis definições etimológicas do termo
“choro”, e no arrolamento de obras e compositores do gênero desde sua formação. No
que diz respeito às origens etimológicas do nome as interpretações variam entre cinco
hipóteses: a) a versão de Cascudo (Cascudo, 1962) que vê a palavra como corruptela do
termo xolo, identificado como designação africana para “bailes de negros realizados em
dias de festas”; b) a versão de Mozart de Araújo, para quem a palavra viria da
“expressão dolente, chorosa da música que aqueles grupos executavam.” (apud
Carvalho, 1972); c) a versão de Vasconcelos, para quem a palavra seria derivada da
expressão choromeleiros, “corporação de músicos de atuação importante no período
colonial brasileiro” (Vasconcelos, 1961); d) a versão de Batista Siqueira (1969), para
quem a expressão viria da corruptela da expressão latina chorus, empregada
erroneamente em um dos catálogos da Casa Edison; e) a versão do musicólogo Curt
Lange (1980), que aponta para uma possível incorporação do termo alemão chöre,
utilizado para designar grupos corais e instrumentais do sul do país que teriam se
propagado para outras regiões, tornando-se dessa forma sinônimo de agrupamentos
instrumentais.
No que diz respeito às etnogêneses, a bibliografia clássica sempre ressalta que
o choro nasceria como um jeito de se tocar as danças européias, sendo que este jeito
pressupunha sempre algo ligado à sincopação tida como africana. Assim, para Lira, o
que diferenciaria a interpretação de Callado
36
não eram os desenhos que traçava com a melodia, nem o ritmo, tão pouco as
variações do contra canto; era tudo isso, repousando numa preguiça, indecisão
propositada, espécie de ‘ganha tempo’. Não se percebia bem se era soluço ou
pretexto transformado em síncopa. Síncopa original, preparo de modulações que se
emaranhavam num sussurro, caricioso ou num cascatear álacre (Lira, 1940-41:
211)
Esta sincopação de origem indefinida seria vista por alguns como herança dos
“músicos barbeiros”, normalmente escravos libertos que no período colonial se reuniam
em agrupamentos instrumentais para ganhar a vida nas cidades:
“Por volta de 1870 – ano em que termina a Guerra do Paraguai – surge, no Rio de
Janeiro, o choro, inicialmente não propriamente um gênero, mas um conjunto
instrumental e logo um jeito brasileiro de se tocar a música européia da época (...)
Aos grupos instrumentais, geralmente formados de dois violões e um cavaquinho –
uma evolução da “música dos barbeiros” – superpõe-se, agora, geralmente a flauta
(...) Com o decorrer do tempo, essa composição de instrumentos passa a variar,
mas sempre sobre a mesma estrutura básica. O gênero, ou melhor, o repertório, vai
sendo enriquecido com a colaboração de novos músicos-compositores”
(Vasconcelos, 1977: 13-14, grifo meu)
Veremos ao longo de nossa análise que o próprio texto de Gonçalves Pinto
salienta esta origem do choro, fazendo uma relação com o que ele denomina “nossos
antepassados africanos” e a música dos barbeiros. O que se pode concluir destas buscas
por etnogêneses é o fato de que não há como dissociá-las de categorias de discursos que
procuram de alguma forma legitimar e conceder “autenticidade” ao choro, através de
construções que procuram historicizá-lo e identificá-lo a partir de mitos de origem.
Conforma salienta Bastos (1997), os discursos sobre as músicas tradicionais urbanas
latino-americanas tenderiam sempre a identificá-las sob a égide das três raças –
portuguesa, africana e ameríndia – onde o elemento índio seria “monolitizado e mais ou
menos descartado” e o mundo negro-africano tratado genericamente como uma espécie
de “infraestrutura ou sensibilidade (sob a senha de um ritmo obsessivamente binário) de
uma musicalidade cuja superestrutura ou inteligibilidade (melodia, harmonia) é
Ocidental ibérica (id:8). Esse processo de construção de discursos é realizado por
musicólogos e acadêmicos, como os listados acima, mas também pela própria tradição
37
oral do choro, da qual nosso carteiro é um dos porta-vozes. O fato da filiação do choro
com as músicas dos barbeiros se encontrar presente tanto no discurso de pesquisadores e
musicólogos, como Vasconcelos e Tinhorão, quanto no de um instrumentistas populares
da década de 1930 como Gonçalves Pinto, é algo bastante simbólico, que a meu ver
salienta o quanto estes discursos de origem são “realimentados” por uma cadeia que
envolve diferentes atores e estratos sociais ao longo do tempo. Cumpre agora
identificarmos de que forma nosso objeto de estudos foi ele mesmo objeto de partida
para estas mesmas cadeias de discurso de origem.
1.2.1) A leitura de “O Choro” pela geração “colecionista”: o fichamento de
Jacob do Bandolim e os trabalhos de Ary Vasconcelos
No que se refere à obra de Gonçalves Pinto, talvez a primeira pesquisa
detalhada sobre o livro seja o fichamento elaborado por Jacob Pick Bittencourt, o Jacob
do Bandolim. Bandolinista e compositor dos mais importantes das décadas de 1940 a
1960, Jacob foi também um destacado pesquisador da música brasileira, podendo ser
colocado ao lado de Almirante e Mozart de Araújo na “geração colecionista” descrita
em tópico anterior. Tendo iniciado sua carreira tocando na Rádio Mauá em 1947, Jacob
logo ganha um programa exclusivo como solista, onde atende inclusive a pedidos de
ouvintes. Sua correspondência revela que muitos destes ouvintes lhe enviavam
partituras de autores antigos, o que fez com que Jacob iniciasse a constituição de um
acervo de partituras que é hoje uma das maiores coleções do gênero, principalmente no
que diz respeito ao século XIX e às primeiras décadas do século XX (analisaremos com
mais detalhes esta coleção no capítulo quatro).
38
Pesquisas por mim realizadas em seu acervo, hoje parte do Museu da Imagem
e do Som do Rio de Janeiro, revelaram uma pasta catalogada como “Fichamento do
livro ‘O Choro’”. Contendo cerca de 70 páginas (datilogradas e manuscritas) o
fichamento é uma espécie de índice onomástico e índice de assuntos abordados no livro,
catalogados com o “rigor científico” característico desta geração. Além de criar um
índice onomástico, Jacob elabora listagens com tópicos diversos, como a relação de
bairros, cemitérios, bandas, clubes, sociedades dançantes e carnavalescas, gírias, locais
de festas e pontos de encontro, locais de trabalho, instrumentos, etc., sempre
relacionando os temas às pessoas citadas. Aparentemente este trabalho foi elaborado na
década de 1960: uma das folhas utilizadas como rascunho manuscrito por Jacob é de
uma agenda datada de 1961. Certamente o trabalho não visava à publicação e
permaneceu inédito até os dias atuais, mas ele é particularmente importante por dois
motivos: em primeiro lugar, o fichamento nos permite ter uma “visão panorâmica” dos
dados propiciados pelo livro, informações que ficam dispersas pela estrutura
fragmentada da narrativa. Em segundo lugar, abre caminho para uma série de estudos
“histórico-sociais” que vão identificar o livro como um vasto cabedal de informações
que serão “interpretadas” por analistas de modo a comprovar relações e esquemas
sociais.
Figura 1 – Fichamento de O Choro por Jacob do Bandolim – exemplo de
uma página
39
Este trabalho de fichamento será analisado com maiores detalhes no próximo
capítulo: por ora pretendo apenas oferecer uma “visão panorâmica” das categorias
utilizadas por ele. A tabela 1 foi elaborada por mim justamente com este propósito: o de
demonstrar quais as categorias criadas e quantas ocorrências existem em cada uma
delas. Saliente-se novamente que Jacob relacionava cada pessoa citada no livro à
categoria em questão: assim, sabemos que são 29 os bairros citados ao longo da obra, e
temos o nome de cada uma das pessoas que habitavam cada bairro (ver fig. 1). Através
da listagem sabemos que são citados bairros de todas as regiões da cidade, incluindo as
partes “nobres” (como Botafogo, Copacabana e Gávea), passando pelo centro e região
portuária (Cidade Nova, Gamboa e Saúde), zonas norte e oeste (Vila Isabel, Andaraí,
40
Jacarepaguá) e subúrbios (Piedade, Engenho de Dentro, etc). A categoria “bandas,
clubes, etc” inclui tanto bandas militares e civis (como a banda do Corpo de Bombeiros
e do Arsenal de Guerra) como agrupamentos sociais carnavalescos e “sociedades
dançantes” (orquestras de ranchos como o “Ameno Resedá”, “Flor do Abacate”, o
“Pragas do Egito”, este último fundado pelo próprio Gonçalves Pinto, etc.).
Há duas categorias que se referem à vida profissional dos biografados: o item
“locais de trabalho” inclui repartições públicas como Correios e Telégrafos, Alfândega,
Ministério da Guerra, etc. Nem sempre fica claro no texto de Gonçalves Pinto qual a
função que o biografado exercia nestas repartições – normalmente ele nomeia as
hierarquias funcionais daqueles empregados nos Correios, sem dúvida por ser ele
mesmo carteiro. A outra categoria, “profissões”, parece estar ligada a atividades liberais
como jornalistas, médicos, tipógrafos e mesmo palhaços.
Por oposição à “vida profissional” há uma categoria intitulada “Locais de
Festas, pontos de encontro etc.”, em que são arrolados 46 itens que determinam espaços
de sociabilidade em torno da música: praças, confeitarias, lojas de músicas e mesmo
casas de pessoas. Há outra categoria que de certa forma se confunde com esta: é a
denominada “Ponto dos chorões”. Ao contrário das outras categorias anteriores, que
foram nomeadas por Jacob e cujos itens se encontram de forma esparsa através do livro,
esta categoria é original do autor: na página 95 do livro, sob o título “Ponto dos
Chorões”, o autor estabelece uma listagem dos lugares onde “os grandes chorões” eram
procurados por aqueles que promoviam ocasiões festivas.
Tabela 1 – Fichamento de O Choro por Jacob do Bandolim – Categorias utilizadas
Categorias
Número de ocorrências
41
Bairros
29
Bandas, Clubs, etc
34 [inclui bandas militares e civis, bandas de
ranchos e sociedades carnavalescas, etc]
Cemitérios
2
Gírias, significados, etc.
9
Locais de Festas, pontos de encontro, etc.
46 [inclui casas de pessoas, praças,
confeitarias, lojas de músicas, etc]
Locais de trabalho
25 [inclui repartições públicas como
Telégrafos, correios, etc.]
Músicas [nomes de músicas citadas no livro]
84
Profissões
9 [não inclui funcionários públicos mas
profissionais liberais como médico, jornalista,
etc]
Cantores
123 [inclui tanto cantores profissionais do
rádio, como Carmen Miranda, como chorões
que também cantavam]
Atores
12
Poetas, declamadores, etc
16
Instrumentistas - Cavaquinho
38
Instrumentistas - Violão
72
Instrumentistas - Flauta
109
Instrumentistas - Bandolim
7
Instrumentistas - Banjo
1
Instrumentistas - Bombardão
6
Instrumentistas - Bombardino
13
Instrumentistas – Cítara
2
Instrumentistas - Clarinete
11
Instrumentistas – Contrabaixo
1
42
Instrumentistas - Fagote
1
Instrumentistas – Guitarra ?
1
Instrumentistas – Harmônica ou Harmonium
3
Instrumentistas – Oficleide
22
Instrumentistas - Oboé
2
Instrumentistas - Ocarina
1
Instrumentistas - Órgão
1
Instrumentistas - Piano
19
Instrumentistas - Piston
14
Instrumentistas - Pandeiro
1
Instrumentistas - Requinta
4
Instrumentistas - Saxofone
10
Instrumentistas - Trombone
18
Instrumentistas - Violino
9
Instrumentistas - Violoncelo
1
Instrumentistas – Viola
1
No que se refere aos instrumentistas, o fichamento nos dá uma visão muito
clara da popularidade de instrumentos como a flauta (109 instrumentistas), violão (72) e
cavaquinho (38), mas também se pode observar a grande quantidade de cantores, o que
sugere que as práticas musicais do choro sempre envolveram o canto e seus gêneros
relacionados, como a modinha e o lundu. A listagem de cantores mistura tanto
profissionais, que tinham carreira no rádio na década de 1930, como Carmen Miranda e
Francisco Alves, como instrumentistas de choro que também cantavam nas festas.
Instrumentos de metal, como trombones, trompetes e oficleides também aparecem de
43
forma significativa na listagem, por oposição a instrumentos exóticos como ocarina (1
ocorrência), cítara (2), harmonium (3).
Como dito, este trabalho de fichamento elaborado por Jacob será analisado de
forma detalhada ao longo da tese. Por ora, cumpre apenas assinalar que este foi o
primeiro trabalho sistemático que encontrei a respeito do livro; aliás, tudo indica que foi
a primeira abordagem sobre o livro após o seu lançamento em 1936. Minhas pesquisas
em fontes primárias (jornais, revistas etc.) sobre a recepção da obra nas duas décadas
posteriores ao seu lançamento não encontraram qualquer referência a ela: como
veremos no segundo tópico deste capítulo, neste sentido o livro pode ser caracterizado,
pelo menos até a década de 1960, como uma obra de “contramemória”. Escrito por um
carteiro que era praticamente um anônimo quando comparado a celebridades como
Orestes Barbosa e Francisco Vagalume (jornalistas de renome no cenário da época) e
Catulo da Paixão Cearense, ele terá pouca repercussão até a década de 1970, quando,
graças ao trabalho de uma série de mediadores, passará de “contramemória” para
“memória oficial do choro” – processo que será analisado com maior profundidade no
capítulo cinco, dedicado às leituras da atualidade sobre o livro.
Ora, ainda que se possa dizer que o fichamento de Jacob inaugura de alguma
forma este processo de “recuperação” do livro, ele ficou também restrito ao acervo
particular do bandolinista até os dias atuais. Na realidade, o principal responsável pela
redescoberta da obra será o jornalista e pesquisador Ary Vasconcelos, não apenas pelo
fato de ter sido o responsável pela reedição do livro em 1978 pela FUNARTE, mas
porque se serviu dele como base e inspiração para uma linha de estudos que se
estendem por uma série de livros de sua autoria como Panorama da Música Popular
Brasileira, Raízes da Música Popular Brasileira, A nova música da República Velha, e,
especialmente, Panorama da Música Popular Brasileira na Belle Époque. Esta linha de
44
estudos previa o estabelecimento de uma espécie de catálogo histórico e biográfico de
músicos, instrumentistas, compositores e letristas populares. Exatamente como no livro
de Gonçalves Pinto, as obras citadas acima trazem “verbetes” sobre diversas
personalidades musicais; entretanto, o objetivo é fazer (ao contrário da obra do carteiro)
um fichamento “científico”, provendo o leitor do máximo de informações possíveis
sobre a biografia de cada personagem. Este gigantesco esforço de catalogação, que se
assemelha a uma espécie de arqueologia musical, visava um fim específico: construir
uma história dos músicos populares situados à margem da história da música brasileira,
em uma perspectiva que foi sem dúvida aberta pelo livro O Choro, ainda que
Vasconcelos lamentasse o fato de Gonçalves Pinto não fosse “culturalmente equipado”
para esta tarefa:
Foi realmente lamentável que tantos vultos históricos importantes não tivessem
encontrado, a tempo e a hora, o seu biógrafo, ou, pelo menos, quem deixasse
indicações precisas aos que, no futuro, quisessem fixar essas vidas. Que pena que
Alexandre Gonçalves Pinto, por exemplo, não estivesse culturalmente equipado
para a tarefa a que, com tanto amor e dedicação, se lançou! (Vasconcelos, 1977:
28-29).
Boa parte do esforço de Vasconcelos, particularmente em obras como
Panorama da Música Brasileira na Belle Époque, será o de tentar complementar os
dados biográficos dos músicos retratados em O Choro, muitas vezes a única fonte de
informação sobre estes. Este processo envolvia buscas nem sempre bem-sucedidas a
outras fontes que pudessem complementar as informações do “Animal”, que aliás são
extensamente citadas no livro (com algumas exceções onde o autor efetivamente
conseguiu complementar os dados dos biografados) e uma tentativa de localizar no
tempo e no espaço estas figuras, ainda que de forma aproximada:
Não me restou outro recurso, com os poucos elementos disponíveis, do que fazer
corresponder a cada nome – ou fragmento de nome, apelido, diminutivo – uma data
aproximada, um local possível de nascimento e morte, naturalmente, nesses casos,
colocando sempre um ponto de interrogação (op. cit. 28)
45
A ideia, em outras palavras, era “arrumar a casa”, no sentido de não deixar que
figuras históricas ficassem “flutuando irrealmente no espaço e no tempo”, ainda que
este processo envolvesse aproximações e suposições históricas. O foco, entretanto,
residia mais nas informações biográficas sobre os “atores musicais” do que em análises
históricas e sociais minuciosas sobre música popular - embora o autor não se furtasse a
fazê-las. É bastante significativo observar que a maioria dos livros de Vasconcelos é
divida em duas partes: na primeira, de menor extensão, o autor faz uma
contextualização histórica do período a ser abordado. Esta contextualização envolve
revisão e crítica bibliográfica, por um lado, mas também novas propostas de
periodizações históricas da música popular (sendo uma das mais importantes a proposta
de divisão de “gerações” do choro). A segunda parte, de maior extensão e de caráter por
assim dizer enciclopédico, é sempre dedicada às biografias, apresentadas em formas de
verbetes da mesma forma que o livro de Gonçalves Pinto (buscando-se naturalmente,
um viés “científico” calcado na metodologia histórica tradicional). Ainda que
reconhecendo que a falta de referências impedia uma visualização de todas as peças
deste quebra-cabeça, o autor agia na perspectiva de que seus estudos pudessem ser
complementados por futuros pesquisadores ou mesmo por colaboradores eventuais
amealhados entre seus leitores (familiares ou amigos dos músicos antigos, etc.).
Em suma, podemos dizer que o livro de Gonçalves Pinto é redescoberto em
grande parte devido ao trabalho de Ary Vasconcelos; em contrapartida, boa parte da
obra deste pesquisador é baseada na premissa aberta pelo livro do carteiro. É a partir
dele que se abre a perspectiva de um rico filão de estudos sobre a música popular: o
resgate dos músicos e instrumentistas populares marginalizados pela história.
46
1.2.2) Tinhorão e a história social do choro
Importante contribuição ao estudo do choro foi dada por José Ramos Tinhorão
em seus textos publicados a partir da década de 1970 tendo por diretriz uma história
social da música popular brasileira, e mais especificamente tomando por base o
materialismo histórico, como apontado em tópico anterior. Dois textos são
particularmente importantes para o presente estudo. O primeiro é o capítulo intitulado
“A nacionalização sonora pelo choro” da já mencionada História Social da Música
Popular Brasileira (1998a); o outro é intitulado simplesmente O Choro e faz parte do
livro Música Popular: um tema em debate (1998b). Estes textos me interessam
particularmente pelo fato de que neles o livro de Gonçalves Pinto funciona como
verdadeira “chave” para que o autor possa analisar as condições históricas e sociais do
Rio de Janeiro de fins do século XIX que permitiram o aparecimento do choro. Ao
mesmo tempo, as características naïves do livro do carteiro são ressaltadas:
Em 1936 apareceu no Rio de Janeiro, impresso na Tipografia Glória, da Rua Lêdo,
n. 20, um livro de uma enorme ingenuidade, mas que se tornaria,
surpreendentemente, o maior repositório de informações sobre centenas de
compositores e músicos dos antigos choros cariocas. Chamava-se o livro, vendido
ao preço de quatro mil réis (a tiragem foi de dez mil exemplares), O Choro –
reminiscências dos chorões antigos, e seu autor assinava-se Alexandre Gonçalves
Pinto. Como documento sociológico, o livrinho do bom Alexandre revela-se
precioso desde sua apresentação (Tinhorão, 1998b: 93, grifos meus).
Convém assinalarmos de início dois fatos: em primeiro lugar, como já dito, o
analista enfatiza os aspectos “primitivos” do livro e de seu autor. O leitor toma
conhecimento de um objeto – um livro, no caso – a partir de uma contradição: por um
lado seria “um livro de uma enorme ingenuidade”, mas ao mesmo tempo –
“surpreendentemente” – muito importante como “documento sociológico”. A
condescendência do analista para com o autor do livro também é bastante clara na
referência ao “livrinho do bom Alexandre”. Neste simples adjetivo “bom” já se passa ao
47
leitor a ideia de que não se pode levar o livro e nem o seu autor muito a sério; fica
subentendido o fato de que ambos, livro e autor, são ingênuos, ou pelo menos, “bons
primitivos”. Entretanto – e aí entra o segundo fator a ser ressaltado – a partir da análise
das entrelinhas históricas e sociais presentes no texto, o analista descortinará ao leitor a
importância do livro como “documento sociológico”. Em última análise, poderíamos
dizer que o texto em si não importa muito, mas sim as entrelinhas desveladas pela
análise.
Obviamente exagerei um pouco no “estranhamento” da análise de Tinhorão
para ressaltar esta característica básica das interpretações histórico-sociais, conforme
apontado por Hennion (2002: 126): a interrupção da relação sujeito-objeto artístico por
uma espécie de “tela social” necessária para que o leitor compreenda esta projeção
recíproca. Em outras palavras, a análise social da arte consistiria em substituir os
objetos analisados pelos “mecanismos coletivos de produção subterrânea mediante os
quais os fazemos aparecer” (id., ib.). O que importa então não é o “livrinho” ingênuo do
“bom Alexandre” mas sim as condições históricas e sociais, desveladas pela análise, que
permitiram o aparecimento das práticas musicais descritas no livro.
Tais condições histórico-sociais, diga-se de passagem, são brilhantemente
descortinadas por Tinhorão nos dois trabalhos citados, tornando-os referências
obrigatórias nos trabalhos acadêmicos sobre o choro a partir da década de 1990. O autor
apresenta o período que compreende o final do século XIX e início do XX como um
período de intensas modificações políticas no país, modificações que acarretaram
transformações expressivas no cenário urbano da capital federal. Fatores econômicos
como o aumento da exportação de café a partir de 1869 e os primeiros ensaios de
industrialização no país permitiram uma série de melhoramentos na capital. Entre estes
estavam o telégrafo (1852), as primeiras linhas da estrada de ferro entre Rio e Petrópolis
48
(1855), o sistema de bondes puxados a burros em 1859, o gasômetro para iluminação da
cidade a gás em 1860, obras de canalização de esgotos em 1864, primeira linha
telefônica em 1877 e, finalmente, luz elétrica em 1879. Tais modificações se
intensificariam na década seguinte com dois acontecimentos políticos marcantes: a
abolição da escravatura e a proclamação da República, fatores decisivos para o
aparecimento de uma nova e mais complexa estrutura de divisão de trabalho. Ainda
segundo Tinhorão, este fato se traduziria:
no aparecimento, ao lado da moderna figura do operário industrial, das camadas
algo difusas dos pequenos funcionários de serviços públicos —repartições civis e
militares, Correios e Telégrafos, Alfândega, Casa da Moeda, Arsenal da Marinha,
Estrada de Ferro Central do Brasil —, e de empresas particulares da área dos
transportes urbanos, da produção de gás e da iluminação pública (Tinhorão, 1998a:
194).
É nesta nova classe social, representada por estes “pequenos funcionários”,
que o choro, segundo Tinhorão, se desenvolveria: sem contar com um espaço próprio no
acanhado quadro social herdado do império – representado pela antiga divisão entre
senhores e escravos –, estas novas camadas sociais tiveram que criar espaços próprios
de participação na vida social, o que incluía certamente novas formas de lazer. Assim,
segundo o analista, enquanto as camadas mais abastadas iriam procurar “equiparar-se à
pequena burguesia européia”, as camadas médias e baixas passariam a encontrar
diversão nos bailes familiares produzidos por músicos amadores que tocavam
instrumentos populares como a flauta, o violão e o cavaquinho. Em um período em que
a produção de discos ainda era incipiente e a rádio ainda não existia, estes
instrumentistas populares cumpririam o papel de levar diversão às camadas formadas
por pequenos funcionários públicos; o virtuosismo de alguns destes músicos, segundo o
autor, “correria de boca em boca, até firmar-se, espontaneamente, no consenso da
população, o seu conceito de grandes tocadores” (Tinhorão, 1998b: 101).
49
Ora, todo este quadro social é, sem dúvida, corroborado pelo livro de
Gonçalves Pinto, e Tinhorão utiliza o texto para comprová-lo. Assim, o analista destaca,
com precisão estatística, que dos cento e vinte e oito músicos com profissão definida no
livro, cento e vinte e dois músicos eram funcionários públicos de diversas instituições
(bandas militares, repartições públicas federais, etc) sendo quarenta e quatro
provenientes dos Correios e Telégrafos. É ressaltado ainda o fato de que, em sua quase
totalidade, estes músicos não eram remunerados nos bailes populares em que tocavam
(casamentos, aniversários, batizados, etc.); o “pagamento” se dava apenas através dos
comes e bebes tão largamente citados no livro de Pinto, como se verá no segundo
capítulo deste trabalho.
Também muito importante é a constatação de que as práticas musicais do
choro dificilmente chegavam às camadas mais baixas da população: o autor salienta o
fato de que a simples possibilidade de aquisição de um instrumento musical
representava “prova de um poder aquisitivo que as maiorias (onde a pobreza
confrontava às vezes com a miséria) estavam longe de alcançar” (Tinhorão, 1998a:
201). Assim, as práticas musicais do choro, realizadas em grande parte em festas
noturnas, só eram possíveis graças à “relativa suavidade” dos empregos públicos, com
seus “horários flexíveis”. Mais problemática, entretanto, é a afirmativa de Tinhorão
sobre a relação entre as práticas musicais do choro e questão “racial”: após constatar
que o choro não era acessível à maior parte da população de mais baixa renda,
representada em grande parte por negros recém-libertos, o autor afirma que não teria
existido “qualquer preconceito de cor” entre estes primeiros chorões, pelo fato de que o
“mestiçamento” aparecia em grande escala nestas camadas médias que seriam o habitat
natural do choro. E para comprovar este fato o autor usa uma passagem do texto de
Gonçalves Pinto em que este, descrevendo um músico negro, se referiria à cor da pele
50
apenas para acrescentar “mais um dado à figura do biografado”. A descrição de
Gonçalves Pinto é a seguinte:
João da Harmônica era de cor preta, conheci-o em 1880 morando na Rua de
Santana nos fundos de uma rinha de galos de briga. Exercia a arte culinária, bom
chefe de família e excelente amigo e grande artista musical, conhecido chorão pela
facilidade com que executava as músicas daquele tempo em sua harmônica
Embora a passagem seja bastante elogiosa ao músico descrito, não há nada
nela que nos permita fazer a afirmação generalizante de que não havia “preconceito de
cor” entre os músicos de choro. Este trecho exemplifica, aliás, um dos problemas
recorrentes nas análises sobre o livro de Gonçalves Pinto: como procurarei demonstrar
nos capítulos subseqüentes, as descrições do carteiro procuram caracterizar o “grupo do
chorões” da forma mais homogênea e “positiva” possível, omitindo ou atenuando
(conscientemente ou não) possíveis heterogeneidades comuns em qualquer agrupamento
social, como rivalidades e críticas. Esta não será a postura de outros cronistas da época,
como Catulo da Paixão Cearense, por exemplo, que não hesitará em formular descrições
críticas dos instrumentistas da época, como será mostrado no terceiro capítulo deste
trabalho.
De qualquer forma, a análise de Tinhorão aponta para o choro como uma
construção de um grupo social específico: as camadas médias do Rio de Janeiro
surgidas a partir do início da industrialização e do desdobramento de um
“funcionalismo público” surgido a partir da proclamação da república. Não há dúvida
que este é um fato corroborado por diversas fontes históricas, inclusive o livro de
Gonçalves Pinto, fartamente usado como prova dos esquemas sociais citados nas
análises. Entretanto, o que pode ser apontado como crítico na análise de Tinhorão e no
seu uso da narrativa de Pinto? Alguns fatores podem ser apontados. Em primeiro lugar,
as relações entre música e classes sociais são apresentadas ao leitor como “dados”
preexistentes, e o processo pelo qual música e sociedade se inter-relacionam não ficam
51
totalmente claros. O choro surge no vácuo de uma classe social recém-formada que não
dispunha de opções de lazer em um quadro social recém implantado pela república: não
tendo opções musicais para o seu divertimento, esta nova classe procura imitar as
práticas musicais das elites “ao som da música mais comodamente posta ao seu alcance:
a dos tocadores de valsas, polcas, schottischs e mazurcas à base de flauta, violão e
cavaquinho” (op. cit: 195). Ou seja, seria uma espécie de apropriação particular da
música de uma classe alta por uma classe média: entretanto não há maiores informações
sobre como se dá este processo. Ilações sobre as relações entre músicos e classes sociais
são por vezes feitas a partir de dados “ocultos” ou não compreensíveis para os leitores,
como é o caso da afirmação sobre a ausência de preconceito de cor entre os músicos de
choro citada acima.
Em segundo lugar, estas classes médias são apresentadas como um grupo
homogêneo, e neste ponto Tinhorão parece aceitar sem maiores questionamentos a
descrição de Gonçalves Pinto sobre os chorões como um grupo coeso, sem
heterogeneidades. Este grupo seria ao mesmo tempo homogêneo e “mestiço”, ficaria
situado entre as elites e as camadas mais pobres da população em uma espécie de limbo
cultural; sem ter, por um lado, acesso à alta cultura dos teatros e dos concertos de ópera
e nem mesmo aos espetáculos de classe média alta dos cabarés que apresentavam
música ligeira européia (como era o caso do Alcazar Lyrique da Rua da Vala, citado por
Tinhorão como local de apresentação das lorettes francesas) e sem terem sido, por outro
lado, influenciados por uma indústria cultural que ainda não existia (no caso do rádio)
ou ainda era por demais incipiente (no caso do disco), este grupo social cria, numa
espécie de passe de mágica, a música mestiça que seria considerada nacional por
excelência. Em outras palavras, o grupo social responsável pelo nascimento do choro se
torna uma espécie de “povo puro”, como aqueles míticos povos idealizados pelos
52
folcloristas: sem dúvida é esta a leitura que Tinhorão faz do “bom” (por ser uma mescla
de “puro-ignorante-autêntico”) Alexandre Gonçalves Pinto.
Em ambos os textos citados, Tinhorão conclui sua análise mostrando as
condições históricas e sociais responsáveis, segundo ele, pelo fim deste período que
poderia ser caracterizado como o “choro antigo”. Para o autor, a partir da década 1920,
o advento do capitalismo industrial com seus avanços tecnológicos e a popularização do
samba como “avassaladora” contribuição das “camadas baixas” da população, por um
lado, e o interesse da classe média pelos jazz-bands norte-americanos, por outro,
fizeram que os músicos chorões percebessem que “seu tempo havia passado” (Tinhorão,
1998a: 202). Descontadas as posições extremistas do autor, que aborda a novidade do
jazz-band como “um primeiro sinal de alienação forçada pela realidade da dominação
econômico-cultural que se instalava no país”, podemos afirmar com relativa segurança
que o final da década de 1920 marca a transição de um período em que as práticas
musicais do choro estavam ligadas a músicos diletantes (que tocavam em festas, bailes,
casamentos, etc., mas que tinham efetivamente outras profissões) para um período de
profissionalização do músico de choro, do qual a geração de Pixinguinha e Donga será a
maior representante. Não há dúvida que o livro de Gonçalves Pinto será em parte uma
espécie de pranto de saudade por este período passado; entretanto é preciso assinalar
alguns dados importantes: 1) a análise de Tinhorão estabelece uma espécie de turning
point da história do choro; por um lado haveria uma espécie de “choro antigo”, o choro
do século XIX até fins da década de 1920, caracterizado pelo diletantismo acima
descrito; por outro, o “choro moderno”, fruto da profissionalização dos músicos e da
fusão com elementos “estranhos” como a jazz-band, o rádio, o disco, fusões com outros
gêneros etc. 2) há na análise do “choro antigo” uma tentativa de caracterizá-lo como
“puro”: ele representaria uma fusão positiva (porque fora do eixo da indústria cultural)
53
das influências européias e de influências “rurais” (como a música dos barbeiros); este
seria o verdadeiro processo de “nacionalização sonora pelo choro” que dá nome a um
dos textos citados. Tinhorão se apropria então do texto de Gonçalves Pinto para
caracterizá-lo como uma espécie de “bom primitivo” que pranteia este “tempo perdido”;
entretanto, o discurso do carteiro, como se verá ao longo deste trabalho, pode ser
caracterizado como uma via de mão dupla: em parte pranteia o tempo passado e em
parte saúda o advento do rádio e aplaude os músicos de choro que fazem sucesso pelo
rádio; ele é, em última análise, um discurso mediador entre os dois períodos do choro.
Mais duas observações me parecem importantes: o diletantismo (porque não
ligado a atividade profissional-musical) característico deste “choro antigo” continuou ao
longo da segunda metade do século XX de forma paralela ao movimento de
profissionalização do choro e continua até hoje; este fato pode ser comprovado através
dos diversos “clubes de choro” – em atividade em várias regiões do país, fundados e
mantidos em muitos casos por não-profissionais –, além das rodas de choros mantidas
até hoje por não-profissionais. Por outro lado, o diletantismo destas primeiras gerações
foi freqüentemente confundido pela bibliografia (inclusive a acadêmica, como
apontaremos no próximo tópico) com uma etapa “primitiva” e, portanto, “menos
sofisticada” (Garcia 1997: 99), no que se refere ao seu conteúdo musical. Esta é uma
visão equivocada, fruto em parte do desconhecimento do repertório destes primeiros
músicos de choro, mas também resultado de uma tentativa de se estabelecer uma
espécie de “linha evolutiva” do gênero, que identificaria gerações mais modernas como
mais desenvolvidas em relação às primeiras (Pixinguinha seria então visto como
“superior” a Callado, por exemplo). Voltaremos a este tópico posteriormente.
De tudo o que foi dito acima em nossa análise dos textos de Tinhorão podemos
concluir que, não obstante a importância do aparato da história social para a
54
compreensão de práticas musicais, esta ferramenta não está isenta de estabelecer
reducionismos como os apontados acima. Mais grave do que os reducionismos,
entretanto, questiona-se a oclusão dos mediadores e seus discursos sobre as práticas
musicais em favor da “revelação” das condições sociais e históricas que, na visão de
analistas como Tinhorão, seriam as únicas causas de seu aparecimento (tanto das
práticas musicais quanto dos mediadores). Em última análise, pode-se perguntar: como
analisar a paixão de Gonçalves Pinto e seus parceiros pelas práticas sonoras por ele
descritas sem reduzi-la unicamente a uma história-social?
1.2.3) As teses acadêmicas sobre o choro
Resta-nos agora fazer uma análise das teses acadêmicas sobre o choro, em sua
maioria escritas a partir da década de 1990, e compreender de que modo o livro de
Gonçalves Pinto foi utilizado e interpretado por estes trabalhos. Pesquisa no banco de
teses da Capes6 com a entrada “choro” revelou 61 dissertações de mestrado e 11 teses
de doutorado sobre o gênero ou afins. Boa parte destes trabalhos versa sobre
compositores específicos, o uso de determinados instrumentos no choro (análises do
violão de 7 cordas ou do saxofone, por exemplo), ou ainda possibilidades didáticas do
gênero em educação musical. Foge ao objetivo desta tese fazer uma análise exaustiva de
todo este material, mas apontaremos de forma sucinta os principais trabalhos que têm
por foco o choro de maneira mais ampla.
Um primeiro trabalho a ser analisado é a tese de doutorado de Marcelo
Verzoni, intitulada Os primórdios do choro no Rio de Janeiro. A partir de uma análise
das biografias e obras de três compositores das primeiras gerações do choro (Joaquim
6
Pesquisa realizada em 30/4/2010 no site da Capes http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
55
Callado, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazareth) o autor realiza uma “confrontação de
posicionamentos sobre os primórdios do fenômeno ‘choro’” (Verzoni, 2000: 7). O
objetivo específico seria o de demonstrar que os compositores citados não classificaram
suas obras como choros, mas sim através das designações de gêneros da música
européia como polca, schottischs, quadrilhas etc; e que a designação “choro” teria sido
adotada a partir de pressão dos editores de partituras a partir da década de 1920. No
primeiro capítulo o autor aborda a questão da etimologia da palavra choro através de
uma revisão de autores como Mozart de Araújo, Luís da Câmara Cascudo, Ary
Vasconcelos e Marisa Lira, indicando as recorrências e discordâncias nas concepções
sobre a palavra – tema já citado em tópico anterior, e que será também recorrente nas
teses acadêmicas sobre o choro, conforme veremos. Após constatar que, ainda que a
definição etimológica seja controversa, a maioria dos autores classifica o choro como
um modo brasileiro de interpretar a música européia, Verzoni questiona então, com
bastante propriedade, qual seria a substância musical deste “jeito de tocar que
transformaria polcas em choros” (op. cit, 12).
Entretanto, os capítulos que se seguem não fornecem pistas sobre a questão
levantada: o desenvolvimento do trabalho segue um perfil biográfico focado nos três
compositores citados – Nazareth, Chiquinha e Callado. Através de uma listagem de
obras destes compositores, o autor procura demonstrar que pouquíssimas vezes as
composições eram classificadas por seus próprios autores como “choros”. Certamente
este é um fato histórico, já bastante apontado pela bibliografia tradicional: como já
citado, até a década de 1920, pelo menos – e é difícil precisar uma data exata desta
transformação – a palavra choro designava o conjunto ou o lugar onde se tocava esta
música. No entanto, a tese de que a adoção do nome “choro” teria se dado
exclusivamente por pressão da “indústria cultural” é sem dúvida infundada, já que o
56
autor em nenhum momento apresenta dados concretos que comprovem esta prática. Da
mesma forma, as análises das biografias dos compositores citados se baseiam, em
grande parte, mais em suposições do autor do que em análises de fatos históricos que as
comprovem. Assim, Nazareth é apontado como um compositor que não teria tido
contato com o ambiente do choro:
Achamos curioso o fato do nome de Ernesto Nazareth aparecer regularmente em
listas de compositores que teriam produzido músicas classificadas genericamente
como choros. Sabemos que nunca fez parte de grupos de chorões e que, em seus
manuscritos, não chamava as suas peças de ‘choro’. Ao que tudo indica, não se
sentia pertencente àqueles grupos. É bem provável que se considerasse um músico
mais refinado (op. cit. 61, grifo meu)
Da mesma forma, o fato de Nazareth ter escrito composições em tonalidades
consideradas “difíceis” pelo autor, como sol sustenido menor, o colocaria “numa
posição mais próxima dos compositores de formação acadêmica” (op. cit 71).
Reducionismos deste tipo, envolvendo questões como “erudito” por oposição ao
“popular” estão presentes em vários trechos do trabalho: mais do que apontar
simplesmente erros históricos, o que se questiona é a validade de argumentos expostos
sem comprovações que os sustentem.
O estudo de Thomas Garcia The Brazilian Choro: music politics and
performance de 1997, tem como objetivo analisar “o desenvolvimento histórico e
estilístico do choro de 1870 a 1950, do seu desenvolvimento inicial até o seu
desaparecimento do cotidiano musical do Brasil.” A ênfase do trabalho reside na
história da “prática de performance”, algo que constituiria, segundo o autor, uma lacuna
na bibliografia sobre o gênero. E de fato este é um dos primeiros trabalhos acadêmicos a
focar no aspecto da análise de gravações de choro de diversos períodos. Entretanto, a
tese segue em grande parte o modelo tradicional da bibliografia musical popular
brasileira, caindo por vezes nos mesmos reducionismos raciais e em afirmativas
questionáveis sobre os mitos de “origem”, já devidamente apontados em tópico anterior.
57
Assim, na introdução o autor reafirma o conceito clássico do choro como sendo
“originalmente um estilo de se tocar danças populares de origem européia – como a
polca, a valsa e o schottisch – praticada por músicos amadores”, sendo que
posteriormente este estilo se transformaria em gênero musical, graças à “influência da
música africana e os gostos locais” (Garcia, 1997: 6). Entretanto, sua análise neste
tópico é predominantemente histórica, e o autor não explica de maneira palpável como
se deu este processo de influência rítmica africana. E mesmo na parte histórica há
afirmações errôneas, como a de que os escravos no Brasil (ao contrário de outros países,
como os EUA) eram mantidos em seus grupos tribais e também “autorizados a
manterem suas linguagens” (op. cit: 20).
Os dois primeiros capítulos do trabalho são focados nas origens e definições
do choro. No primeiro o autor faz uma revisão histórica de gêneros que poderiam ser
considerados, segundo ele, antecessores do choro, em uma espécie de linha evolutiva
que começaria com o lundu e a modinha, passaria por influências européias como a
polca e o schottisch e terminaria com a nacionalização destes gêneros, que é visto como
um processo de reação ou resistência à dominação européia (op. cit: 6). O autor não cita,
entretanto, nenhum documento ou fragmento de discurso de época que comprove este
viés. Em seguida há mais uma vez uma discussão sobre as origens etimológicas da
palavra choro, com remissão à bibliografia já citada (Vasconcelos, Araújo, Cascudo,
etc). Particularmente importante é a caracterização do choro como um gênero de
transmissão oral por excelência; esta particularidade é repetida diversas vezes ao longo
do trabalho: “Muitos dos melhores chorões, particularmente das primeiras gerações, não
podiam ler música e baseavam-se unicamente na transmissão oral para aprender” (op.
cit: 86); “músicos das primeiras gerações do choro (...) usualmente não podiam ler
música, mas apesar disso desenvolveram a habilidade de improvisar “de ouvido”. (op.
58
cit.92); “em sua maior parte, entretanto, o choro das primeiras gerações não era escrito,
mas passado oralmente de músico a músico, ocasionando os tipos de alteração que se
poderia esperar deste jogo de ‘telefone sem fio’ musical” (pg 137). Conforme veremos
no capítulo quatro, esta noção do choro como gênero de tradição oral por excelência
precisa ser relativizada: veremos como o livro de Gonçalves Pinto nos ajuda a situar os
acervos manuscritos de partituras dos instrumentistas de choro como uma importante
forma de transmissão do gênero.
Outro fator a ser questionado na análise de Garcia é a visão do que ele
denomina early choro (“choro antigo”) como uma etapa “primitiva” em uma linha
evolutivo-musical. Assim, a música destes primeiros chorões seria “relativamente pouco
sofisticada em ritmo, harmonia, melodia e forma” (op. cit 159) e nomes como Callado e
Anacleto de Medeiros são analisados depreciativamente como compositores de músicas
para diletantes: este tipo de afirmativa, bastante problemática, revela o desconhecimento
de um corpus de repertório das primeiras gerações do choro que era bastante comum até
pouco tempo, mesmo entre músicos e intérpretes do choro. A tentativa de qualificar
estas músicas como “pouco sofisticadas” leva o autor a conclusões evolucionistas no
mínimo questionáveis:
A conclusão inevitável é a de que o gênero choro evoluiu – ganhou estrutura –
apenas quando perdeu suas associações com formas de dança européias
características das primeiras gerações do choro, graças à combinação de influências
do nacionalismo, o desenvolvimento do rádio e das indústrias de gravação e a
subseqüente profissionalização do choro (op. cit.: 160; tradução minha).
O livro de Gonçalves Pinto é mais uma vez visto sob um duplo aspecto;
embora o autor reconheça que o livro “traz um grande número de informações”, críticas
são feitas à “prosa desconexa” e à “falta de coesão gramatical”. Mais uma vez é
enfatizada a importância da narrativa como “história social” mais do que como fonte de
entendimento sobre as práticas musicais:
59
O livro de Pinto é, entretanto, válido como uma história social, mais do que como
discussão sobre a música. Embora o autor dê informações a respeito de
instrumentos e grupos de performance (assim como de habilidades de intérpretes
individuais) pouca informação é oferecida sobre a ‘música em si’ (op. cit.: 138:
tradução minha).
A tese de Tamara Elena Livingston, Choro and music revivalism in Rio de
Janeiro, Brazil (1973-1995) traz uma perspectiva diferente das teses anteriores. O
enfoque é o que a autora chama de “revivalismo” do choro na década de 1970 que é
abordado com um duplo objetivo: demonstrar de que maneira a música funciona como
recurso chave para ações sociais e instrumento político, e realizar uma análise
comparativa de diferentes “revivals” musicais como forma de teorizar sobre a natureza e
a função deste fenômeno típico do século XX, apontado ao mesmo tempo como produto
e reação contra a modernidade.
Samuel Oliveira, em sua dissertação Heterogeneidades no Choro: um estudo
etnomusicológico (2001), apresenta talvez pela primeira vez um estudo do gênero sob o
aparato metodológico da etnomusicologia. Seu foco de estudo são as práticas musicais
heterogêneas realizadas na Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, no começo do século
XXI. Utilizando um quadro teórico calcado na noção de campo de Bourdieu, Oliveira
procura entender como funciona a complexa teia de relações entre instrumentistas de
choro, relacionados como pertencentes a diferentes “famílias” ou “clãs”. Na primeira
parte de seu trabalho, o autor procura problematizar as diferentes escritas do que ele
afirma ser “uma história oficial do choro”, realizando uma leitura crítica dos textos de
Cazes (1998), Vasconcelos (1977) e Verzoni (2000), bem como depoimentos como o de
Jacob do Bandolim. Apontando diferenças em cada discurso, Oliveira constata que uma
pretendida “autenticidade chorística”, presente em diversos textos e depoimentos, seria
na verdade uma construção ficcional, utilizada de diferentes formas por grupos ou
60
famílias do choro, cada qual procurando legitimar suas respectivas práticas (Oliveira,
2001: 172). O autor cunha o termo capital acústico, que se inscreveria dentro do
conceito de capital simbólico de Bourdieu, para caracterizar uma série de instâncias
legitimadoras pela qual os instrumentistas se valorizariam perante seu próprio clã e
também perante outras famílias de chorões: entre estas instâncias estariam domínio de
um determinado repertório, habilidade de improvisação, prêmios recebidos etc. Apesar
de o autor citar eventualmente o trabalho de Gonçalves Pinto, não há uma reflexão
maior (e certamente o trabalho não se propunha a isso) sobre sua possível influência no
modo de percepção da história do choro por parte dos instrumentistas da atualidade.
Contudo, a caracterização do choro como uma prática plural, que abrigaria em seu
interior uma série de lutas internas e a ideia de que os instrumentistas de choro se
agrupariam em estruturas familiares ou clãs, de acordo com suas posturas e discursos
sonoros e verbais sobre o choro são, a meu ver, contribuições importantes para a
compreensão da dinâmica do choro na atualidade. Como possível reflexão, entretanto,
caberia pensar de que forma o trabalho seria lido pelos próprios “nativos” do choro,
para nos servirmos de um termo próprio da antropologia. Ao apontar lutas internas e
disputas entre as famílias de chorões, Oliveira chega a apresentar um quadro onde
instrumentistas são nomeados e distribuídos entre os clãs construídos pelo autor; no
entanto não há na dissertação nenhuma “voz” de retorno destes instrumentistas que
conteste ou corrobore este quadro específico, o que nos leva, de forma mais ampla, ao
problema das premissas da autoridade etnográfica tal como discutidas por Clifford
(1998).
Finalmente, cumpre analisarmos a tese A invenção da música popular
brasileira: de 1930 ao final do Estado Novo, de Luiz Otávio Braga. Trata-se de um
trabalho de grande importância para o presente estudo, uma vez que uma parte
61
significativa é dedicada ao estudo da obra de Gonçalves Pinto, e constitui um dos mais
completos trabalhos sobre a obra do carteiro que pude encontrar na literatura acadêmica.
Várias das questões desenvolvidas ao longo dos próximos capítulos foram delineadas na
tese de Braga, que tem como foco a invenção da música popular brasileira. Para o autor,
a construção da música popular urbana brasileira se dá em um período marcado por
grandes inovações tecnológicas (advento de novas técnicas de gravação, intenso surto
industrial, etc.) e por profundos questionamentos sobre conceitos como nacionalidade e
miscigenação; neste conturbado período em que se configura uma sociedade de massas
no Brasil, músicos populares teriam se articulado “com muito espírito de oportunidade
em torno da invenção de uma tradição artística” que viabilizasse a música urbana como
fator identitário da nação. Este processo envolvia, obviamente, tensões com outros
setores da sociedade, como, por exemplo, as instâncias de criação “erudita”.
Dividida em quatro capítulos, a tese apresenta de início uma reflexão sobre o
impacto das inovações técnicas sobre a criação artística do período, incluindo em
especial o processo de radiodifusão que possibilitou pela primeira vez a formação de
uma sociedade de massas. O segundo capítulo é dedicado ao estudo da mediação
cultural, que o autor identifica como “indispensável a todo o estudo de cultura popular”:
são enfatizadas as relações de intertextualidade, e ao mesmo tempo as tensões, entre a
intelectualidade brasileira, a criação “erudita” (representada por compositores como
Luciano Gallet e Villa-Lobos) e a música popular urbana. O terceiro capítulo, dedicado
à memória da música popular urbana do Rio de Janeiro, é o que mais nos interessa para
o presente estudo: através de uma análise das obras de Francisco Vagalume, Orestes
Barbosa e Alexandre Gonçalves Pinto, Braga procura salientar de que forma cada um
destes três autores procurou “moldar” uma construção sobre memória privilegiando
“explícita e cuidadosamente determinadas imagens em detrimento de outras”, em um
62
processo que envolvia escolhas que evidenciavam os “valores de época em relação aos
autores e músicos dessa música urbana de que falam.” (Braga, 2002: 165).
A análise da obra de Gonçalves Pinto aborda diversos aspectos como a questão
da circularidade cultural no ambiente das práticas musicais do choro, apontada como
resultado das aproximações entre diversos níveis de mediação intelectual e de estratos
sociais distintos (id. 199); a relação aparentemente ambígua do carteiro com a indústria
da rádio e do disco, por um lado pranteando um relativo “esquecimento” do choro, e por
outro não perdendo a oportunidade de louvar suas aparições nos novos ambientes de
mídia (id. 200); a discussão sobre as origens da música, presente no verbete “Alvorada
da música”, que Braga identifica como uma filiação que o carteiro estabelece entre o
choro e as tradições de festas populares animadas em grande parte por bandas formadas
por escravos negros (id. 211-212); e finalmente, e talvez mais importante, o aspecto de
construção e resgate da memória de instrumentistas populares que seriam a finalidade
principal do livro (id. 196). Por todos estes aspectos, trata-se de um texto de grande
importância, com o qual procurarei dialogar com mais intensidade ao longo do trabalho,
e mais especificamente nos capítulos dois e três, dedicados à análise da estrutura do
livro e às possíveis comparações com outras fontes de época.
2) Música, cultura e sociedade: questões metodológicas
Neste tópico discutirei questões metodológicas que servirão como ferramentas
teóricas para uma análise do livro de Gonçalves Pinto que nos leve além das discussões
tradicionais sobre etnogêneses e transformações do choro e de uma sócio-história do
gênero (ainda que, como se verá, estas discussões não deixem de ser abordadas ao longo
63
do trabalho). Como ponto de partida, parte-se da dupla premissa etnomusicológica da
compreensão plural de música como “resultado das práticas que um grupo social
particular define como ‘musicais’” por um lado, e pela aposta na inteligibilidade entre
signos musicais e linguagem escrita, em que pese as “limitações inerentes à dupla
tradução: entre culturas e entre os sistemas semíóticos sonoro-corporal, de um lado, e
verbal, de outro” (Travassos; 2006). Este quadro se torna ainda mais complexo pela
adição de uma perspectiva diacrônica, com todos os problemas metodológicos inerentes
a uma análise que se desenvolve em períodos de tempos mais largos, como apontado
por estudos da história cultural (Burke, 1998), sociológicos (Martins 2008) e
antropológicos (v. por ex. Sahlins, 2008). Voltaremos a este tópico posteriormente.
A proposta específica é discutir de que modo o livro do “Animal” engloba
categorias de discurso de membros de grupos culturais da época reunidos através de
signos sonoros específicos (as práticas musicais do choro), demonstrando, ao mesmo
tempo, que tais signos não estavam restritos a uma única camada social, como nos quer
apontar a história-social. Eles eram reapropriados de diversas formas e estas
reapropriações circulavam entre diferentes classes em uma espécie de caleidoscópio
cultural7. Não se pode ver, portanto, o livro de Gonçalves Pinto como simplesmente um
representante da classe dos carteiros da época; ele o é, sem dúvida, mas seu discurso
tem fragmentos de conceitos apropriados de outras classes. Ele formula (e se apropria
de) ideias sobre as origens da música, política, nacionalismo, relação entre danças,
signos musicais e sociedades, gírias de época, oralidade, relação com a indústria
fonográfica, como se verá ao longo deste trabalho. Em todos estes conceitos, suas
memórias refletem sua própria visão de mundo, mas também a de outros segmentos da
sociedade da época; veremos ao longo dos capítulos dois e três como instâncias
7
Neste sentido este trabalho se insere na linha de estudos sobre cultura popular que utilizam o conceito de
circularidade cultural para justificar trocas entre classes sociais como Burke, 1989; Ginzburg, 2006 e
Bakhtin, 1987.
64
diversas, como o linguajar dos folhetins, as crônicas publicadas em jornais dos ranchos
cariocas (particularmente a do Ameno Resedá, como veremos), conceitos de poetas
considerados “semi-eruditos” como Catulo Cearense e intelectuais como Mello Moraes
Filho influenciarão a escrita do carteiro. Para fundamentar esta análise faremos neste
tópico uma breve revisão bibliográfica de textos sobre: a) nexos entre signos culturais e
sociais; b) abordagens da memória social; c) questão da etnografia sob uma perspectiva
diacrônica e; d) questão da circularidade cultural.
2.1) Signos musicais e sociais: a “eterna paralela”
Como relacionar música, cultura e sociedade? Este é sem dúvida um dos temas
principais da (etno) musicologia e dos estudos interdisciplinares entre música (e “artes”
de uma forma mais ampla), história, sociologia e antropologia. Para De Nora (2000), a
primeira tentativa de se estabelecer um “sistema geral”, que estabelecia nexos entre
música e sociedade foi feita por Theodor Adorno. Dedicado a explorar a hipótese de que
a organização musical é um simulacro da organização social, a obra de Adorno concebe
a música como formativa de uma consciência social. Neste sentido, sua obra
representaria o mais significativo desenvolvimento, no século XX, da ideia de que
música é uma ‘força’ na vida social, um material de consciência e de estrutura social
(op. cit. 2). Sem dúvida esta ideia teve reflexos em estudos musicológicos e
etnomusicológicos que procuraram estabelecer “grandes nexos” ou “sistemas gerais”
(que De Nora denomina “grand approachs”) que procurassem englobar em larga escala
a relação entre músicas e sociedades.
65
Um exemplo claro na etnomusicologia seria dado por John Blacking que
cunhou o termo “grupos sonoros” (sound groups) para designar um grupo de pessoas
que compartilham uma linguagem musical comum, assim como ideias comuns sobre a
música e seus usos. Tais “grupos sonoros” independeriam de fatores como constituição
social, nacionalidade, idioma para a obtenção de uma identidade. (Blacking, 1995). Este
conceito pode ser considerado um pouco vago em sua estrutura, particularmente num
contexto de pós-modernidade em que a produção massiva faz com que as pessoas
estejam expostas a uma diversidade imensa de gêneros musicais. Na base deste preceito
está a ideia do símbolo musical como constituidor de uma estrutura social, no sentido de
uma “musico-sociologia” ao invés de uma “sociomusicologia”:
Se a música pode ser uma força ativa na constituição social, devemos procurar as
evidências que mostrem como o uso de símbolos musicais ajudam a construir,
assim como refletir, padrões culturais e sociais. Isso deve ser feito, entretanto, sem
que se caia no simplismo da relação causa e efeito e levando-se em conta a
possibilidade de que símbolos musicais podem ser transformados em outros
símbolos, e vice-versa, sem a mediação da convenção social (Blacking, 1995).
A grande questão apontada por De Nora, entretanto, reside em identificar de
modo preciso o processo pelo qual signos musicais podem formatar estruturas sociais,
sem que se caia em conceitos reificados como “cultura” e “sociedade” (op. cit. pg 3).
Em outras palavras, se a demonstração clara do processo que cria nexos entre práticas
sonoras e sociais não pode ser feita, então a análise periga, nas palavras da autora,
“fundir-se à fantasia acadêmica e o nexo música-sociedade se torna ‘visionário’ ao invés
de ‘visível’” (id. Ib). Dessa forma, a sociologia da música muitas vezes estaria vagando
em uma espécie de espaço vazio entre duas paralelas: símbolos sonoros versus símbolos
sociais.
66
De que modo, então, poder-se-ia estabelecer uma análise focada no processo
que forneça nexos palpáveis entre estas duas paralelas? Richard Middleton, a partir
uma releitura de Gramsci, utiliza o que ele denomina “princípio da articulação”. Neste
princípio elementos sonoros estariam continuamente se articulando em diferentes
contextos sociais, basicamente de duas maneiras: através da combinação de elementos
sonoros já existentes em novos “modelos” e através da formulação de conotações
diferentes para os mesmos elementos (Middleton, 1990). Como afirma Pablo Vila, “a
teoria da articulação preserva a ideia da autonomia relativa dos elementos culturais e
ideológicos, mas também insiste que os padrões combinatórios mediatizam padrões que
existiriam na formação sócio-econômica através de uma luta contínua pela conformação
do sentido.” (Vila, 1995). Ou seja, haveria uma via de mão dupla em que elementos
sonoros podem gerar identidades sociais, mas fatores sociais também moldam
identidades sonoras, num processo de “luta continua”, ou de “articulação contínua”.
Sem querer negar a validade do princípio de articulação, Pablo Vila sugere que
a discussão sobre identidades sonoras passa necessariamente por uma instância na qual
o enfoque narrativo é primordial. Segundo ele a narrativa constitui uma categoria
epistemológica que foi tradicionalmente confundida com um gênero literário, mas que
seria um dos esquemas cognoscitivos mais importantes do ser humano (Vila, 1995).
Através dela “moldamos” identidades utilizando uma série de argumentos (trama
argumental, como ele a chama) para selecionar as características de nossa identidade
sonora. Além disso, Vila chama a atenção para o fato de que a música popular não se
expressa somente através do som, mas também através do que se diz a respeito dela.
Citando também Middleton:
É certamente claro que palavras sobre música — não apenas a descrição analítica,
mas também a crítica, o comentário jornalístico e mesmo a conversa casual —
67
afetam seu significado. Os significados sobre ragtime, rock’n’roll ou punk rock não
podem ser separados dos discursos que os rodeiam (Middleton, 1990:221)
Desta forma, a posição de vários “eus discursivos” gerando tramas narrativas,
muitas vezes contraditórias, sobre determinada prática musical, estaria na base desta
“célula orgânica” que seria a identidade sonora. Esta definição parece bastante
interessante por abrigar também as diferenças na constituição das identidades. Aquilo
que chamamos “gênero” musical seria mais propriamente um feixe de discursos e
muitas vezes de contradições sobre determinada práxis musical do que um conceito
“fechado” e rígido que não abriga diferenças.
Para além da relação entre gêneros musicais e identidades, Vila chama a
atenção para o fato de que a narrativa representa também uma forma de ordenamento e
construção de mundo: através da narrativa “o sujeito extrairia da infinitude de eventos
que habitualmente envolvem toda a atividade humana aqueles que contribuem
significativamente à história que está sendo construída.” (Vila, 1995)
Este processo seria ao mesmo tempo sincrônico e diacrônico: para conferir
sentido a uma situação do presente, é necessário que se lance mão de uma narrativa que
explique o percurso pelo qual o sentido atual se formou:
...we repeatedly rehistoricize ourselves by telling a story; we relocate ourselves in
the present historical moment by reconfiguring our identities relationally,
understanding that identity is always a relational category and that there is no
subject who pre-exist the encounters that construct that subject. Identity is an effect
of those encounters — identity is that set of effects which develop from the
collision of histories. It is not an abstraction. It’s an extraordinarily complex kind of
sedimentation, and we rehistoricize our identities all the time through elaborate
story-telling practices… And those story telling practices themselves are ways of
trying to interrogate, get at, the kinds of encounters, historical moments, the finds of
key moments of transition for us — both individually and collectively (Bhavnani
and Haraway apud Villa 1995)
É evidente que na base destas tramas narrativas e destes processos de “rehistorização” estão tentativas de se legitimar e validar discursos e práxis; é desta forma
68
que se deve, a meu ver, interpretar um texto como o de Alexandre Gonçalves Pinto,
análise que comporta duas instâncias: em um primeiro momento temos o próprio autor
“reordenando” suas memórias e dando sua visão pessoal sobre a música que se fazia no
Rio de Janeiro nas últimas décadas do século XIX e início do XX. Tal visão, como já
demonstrado no trabalho de Carvalho (Carvalho, 2006) abarca contradições e
ambigüidades com outros relatos importantes da época; neste sentido a narrativa de
Pinto deve ser entendida como uma das vozes que formam uma polifonia de discursos
da época, cada qual procurando legitimar e validar uma visão pessoal. Na outra ponta
desta história temos uma teia de personagens sociais (pesquisadores, jornalistas,
acadêmicos, músicos, etc) que “reconfiguram” tal narrativa sob diferentes perspectivas,
recorrendo a ela para “rehistoricizar” o passado, conforme demonstrado em tópicos
anteriores.
Voltando à discussão sobre signos sociais e musicais, trabalhos como os De
Nora (2000) e Hennion (2002) apontam (de forma bastante congruente com o
pensamento de Vila), para análises em que os próprios atores sociais definem e
conceituam a música em sua vida social. Assim, ao invés de estudos que estabeleçam
“grandes nexos” e teorizações sobre cultura e sociedade, a ênfase é dada na percepção
do que os próprios atores sociais definem como nexo entre significações musicais e
sociais.
Isso significa uma mudança de foco dos objetos estéticos e seus conteúdos
(processo estático) para as práticas culturais através das quais materiais estéticos
são apropriados e usados para produzir vida social (processo dinâmico) (De Nora,
2000).
Desta forma, a etnografia teria papel chave neste processo: aplicado ao nosso
objeto de estudos o desafio é estabelecer uma metodologia que “não esmague a
69
realidade analisada com os instrumentos de análise” (Hennion, 2002); em outras
palavras, o desafio é analisar o livro de Gonçalves Pinto respeitando suas próprias
mediações, sem convertê-lo por um lado em mera história social e sem, por outro lado,
cair na tentação de estabelecer conexões que vão além do que o texto quer nos dizer,
como numa espécie de “truque divino” acadêmico (De Nora, 2000: 3). Ou seja, é
preciso ouvir as diferentes vozes que emergem do texto do “Animal” sob uma
perspectiva polifônica e não unívoca; é preciso ir além da visão “histórico-social” que o
trata como um “bom primitivo” - e ao mesmo tempo sem cair no extremo oposto de
idealizá-lo como um intelectual da música popular. Ouvir as diferentes vozes que
emergem do seu texto implica em considerá-lo sob um duplo prisma: o de um
documento de memória social e o de uma etnografia; é neste aparato metodológico que
este trabalho se baseia. Veremos as implicações desta assertiva no próximo tópico.
2.2) Memória e etnografia como ferramentas metodológicas
Neste tópico procuro analisar de que forma os estudos de memória social e a
perspectiva da etnografia podem servir como ferramentas para uma análise do livro de
Gonçalves Pinto que não o transforme em um mero apanhado de fontes primárias e nem
o reduza a uma coletânea de fatos bases para uma história social, como já
suficientemente apontado.
Um primeiro conceito extremamente útil será o de “memória coletiva”, de
Halbwachs (2006). Como o ato de recordar pressupõe uma atividade essencialmente
individual, será Halbwachs o primeiro intelectual a conceber a memória como
construção coletiva, e, portanto, como objeto de estudos das ciências sociais (Peralta,
2007). Na raiz do conceito está a ideia de que a função primordial da memória,
enquanto imagem compartilhada do passado é a de
70
promover um laço de filiação entre os membros de um grupo com base no seu
passado coletivo, conferindo-lhes uma ilusão de imutabilidade, ao mesmo tempo
em que cristaliza os valores e as acepções predominantes do grupo ao qual as
memórias se referem. (...) Holbwachs considera, assim, que a memória coletiva é o
locus de ancoragem de identidade do grupo, assegurando a sua continuidade no
tempo e no espaço (op. cit.).
Este é sem dúvida um conceito chave para entendermos a obra de Gonçalves
Pinto: a escrita do carteiro estabelece uma coletividade. Suas memórias se baseiam em
parte em sua própria experiência e conhecimento do grupo de músicos ligados ao choro,
mas também em grande parte na memória coletiva que se formou entre estes músicos.
Isso fica claro nas referências que Pinto faz a músicos que ele não conheceu, mas cuja
importância já estava assentada na memória de seus contemporâneos mais antigos: é o
caso de Joaquim Callado, por exemplo. A descrição sobre Callado é inteiramente feita
através da memória coletiva que se tinha dele, e é baseada em assertivas como:
“Contavam alguns daquelles tempos que tambem já dormem o somno dos justos, que
Callado foi chamado para um concerto (...)”, ou “Diziam os musicos daquelle tempo que
Callado, na sua maviosa flauta (...)” (Pinto, 1978: 12, 87). Callado talvez seja o exemplo
extremo de construção de memória coletiva da história do choro: suas composições se
tornaram extremamente populares, conforme se atesta pela quantidade de cópias
presentes nos arquivos de partituras do início de século XX (conforme veremos com
mais detalhes no capítulo quatro). A partir da segunda metade do século XX suas
composições caem em um quase completo ostracismo (exceto pela polca “Flor
Amorosa” que vai se tornar uma espécie de símbolo de antiguidade do choro): sua
memória, entretanto, será continuamente citada a ponto de torná-lo uma espécie de
“mito” do choro. Esta é uma construção coletiva baseada em uma cadeia de mediadores:
para boa parte da geração de Gonçalves Pinto, que não conviveu com Callado, sua
popularidade devia-se ainda às suas composições: esta popularidade devia-se também a
histórias míticas de sua habilidade como instrumentista, histórias que eram recontadas
71
certamente através da tradição oral e escrita (como é o caso da própria descrição que
Gonçalves Pinto faz de Callado em seu livro). Para as gerações de músicos atuantes na
segunda metade do século XX a obra de Callado passou a ser praticamente
desconhecida, mas sua memória permaneceu e seus feitos se incorporaram a uma
espécie de narrativa mítica de origem do choro.
Há outros exemplos que demonstram como Gonçalves Pinto recorria à
memória coletiva para redigir alguns dos perfis biográficos do livro. É o caso do
flautista Arthur Fluminense:
De saudosa memória foi carteiro, flautista dos bons. Dizia o que sentia em seu
instrumento. Apesar de não o ter conhecido pessoalmente pude pegar algumas
pequenas informações, sabendo que elle privou com os grandes flautas da
antiguidade; sua morte causou grande claro entre seus amigos daquella época.(op.
cit. 17, grifo meu).
A repetida alusão, como na citação acima, aos “grandes flautas da
antiguidade”, ou seja, aos flautistas da geração de Callado e Viriato, indica remissão a
um passado que o carteiro não conheceu pessoalmente, mas que vivia ainda na memória
de vários dos músicos de sua época. Assim, em alguns casos, não é possível estabelecer
com precisão se o carteiro descreve seu biografado com base no seu conhecimento
pessoal ou na memória de outros músicos. Um exemplo disso é o perfil de Bacury:
Tambem flauta respeitado da antiguidade, grande compositor de Chôros. Era
Bacury, guarda-fiscal da Prefeitura, que já dorme o somno derradeiro ha mais de
cincoenta annos, tendo as suas ricas producções cahido no esquecimento no
correr de tantos annos. Elle privou com os antigos chorões do seu tempo, que
tantos prodigios conquistaram (op. cit. 23)
Mais uma vez a menção aos “antigos chorões do seu tempo” parece indicar
que Gonçalves Pinto não conheceu Bacury pessoalmente, mas que o descreve com base
na lembrança de outros, embora isso não fique completamente claro na passagem citada.
72
Ainda que a percepção de que lembranças individuais e coletivas se fundem na redação
de Gonçalves Pinto seja importante, o cerne da questão a ser apontado no uso do
conceito de “memória coletiva” é justamente a configuração de identidade de um grupo
a partir de um passado comum. Esta construção de identidade implica em valorização
das semelhanças em detrimento das diferenças: “(...) na memória [coletiva], as
semelhanças passam para o primeiro plano. No momento em que examina seu passado,
o grupo nota que continua o mesmo e toma consciência de sua identidade através do
tempo.” (Halbwachs, 2006: 108). Apresentar o grupo social do choro como um grupo
homogêneo será sem dúvida um dos objetivos mais importantes do livro de Gonçalves
Pinto, conforme veremos com mais detalhes nos capítulos dois e três. Através do
conceito de Halbwachs poderíamos afirmar que a consciência de identidade entre os
músicos e apreciadores das práticas musicais que depois se identificariam como “choro”
da geração de Gonçalves Pinto seria intensificada na medida em que: 1) os membros do
grupo envelheciam e morriam; 2) paradoxalmente, as condições em que estas práticas
musicais se davam socialmente eram submetidas a mudanças (como o advento do disco
e do rádio tão bem demonstrados por Tinhorão). Isso implica dizer que a percepção de
identidade do grupo que se denominava “choro” se consolidou nas duas primeiras
décadas do século – e seguramente o livro de Gonçalves Pinto é um dos fatores (mas
não o único) que contribui para esta consolidação.
Dessa forma, quando se pensa em nosso objeto de estudos, poder-se-ia afirmar
com relativa facilidade que Gonçalves Pinto teria contribuído de forma decisiva para a
construção do choro como gênero nacional; mas há que se fazer certas ressalvas para
que fique claro que ele não foi, obviamente, a única instância deste processo. Não há
nenhuma dúvida no fato de que um dos objetivos do livro de Gonçalves Pinto é o de
conferir legitimidade às práticas musicais do choro em um momento em que o samba se
73
consolidava como música-símbolo nacional. No entanto ele é apenas um elemento em
uma cadeia de mediadores que procurarão moldar, cada qual à sua maneira, sua
representação histórica do gênero; além disso, seu discurso é em última análise uma
mediação de visões de mundo da época. É por isso que ao longo do livro há, ao mesmo
tempo, críticas e elogios aos novos meios de comunicação como o rádio, de acordo com
o perfil do “personagem” biografado por seu autor; alguns dos retratados espelham
visões críticas a respeito dos “novos” instrumentistas e gêneros musicais enquanto o
próprio Alexandre tece elogios entusiásticos a estes mesmos instrumentistas e gêneros
(é o caso do samba, por exemplo. Conforme veremos no terceiro capítulo, Gonçalves
Pinto critica o samba no verbete em que descreve Catulo, mas tece elogios gerais ao
gênero quando trata de Donga, por exemplo). Em suma, há uma escrita polifônica com
objetivos vários, um dos quais (mas não o único), o de legitimar o choro como prática
musical nacional no contexto da década de 1930
Aliás, o fato de Gonçalves Pinto escrever seu livro em um contexto em que o
samba se delineava como música nacional, ganhando cada vez mais espaço no rádio, no
disco e na imprensa (sem contar os livros “inaugurais” sobre a música popular urbana
brasileira, os já citados Samba de Orestes Barbosa e Na roda de samba de Francisco
Vagalume), o coloca em uma espécie de “contracorrente” cultural. Neste sentido seu
discurso poderia ser lido através do conceito de “contra-memória” de Foucault (1977),
por incorporar em sua representação do passado a voz daqueles que foram silenciados
ou marginalizados pelo discurso dominante. Ao escrever seu livro três anos após o
lançamento das obras de Barbosa e Vagalume, Gonçalves Pinto se coloca de certa forma
em uma posição “contra-hegemônica” ao dar voz a centenas de instrumentistas
populares para quem as práticas musicais do choro poderiam ser caracterizadas, tanto
como o samba, como música nacional. “A polca é como o samba, uma tradição
74
brasileira”, dirá o carteiro em meio ao livro. (Esta é outra frase fundamental para nossa
análise e será desenvolvida no segundo capítulo deste trabalho).
Classificar o livro de Pinto como “contra-memória” implica perceber que “a
análise das representações do passado deve incluir a relação existente entre a ordem
hegemônica e as memórias vernáculas dos grupos sociais” (Peralta, 2007). Ou seja, em
meio à construção de um discurso hegemônico do samba por parte da imprensa, do
rádio e do disco, (e de forma ainda incipiente, mas com cada vez mais força, de
instâncias governamentais), a obra do carteiro irá representar a memória vernácula do
grupo social dos instrumentistas e apreciadores do choro, em uma espécie de
contracorrente à ideologia dominante. Na contramão das bibliografias históricomusicais (tanto da “alta cultura” – os livros sobre a “grande música” européia – quanto
da “baixa cultura” – os livros de Barbosa e Vagalume, por exemplo) que procuram
destacar somente os pontos culminantes de cada gênero ou estilo (os grandes
compositores e instrumentistas) este será certamente o primeiro livro em que se
retratam, sem distinção, tanto os melhores quanto os piores instrumentistas; tanto
amadores quanto profissionais; tanto instrumentistas quanto não instrumentistas (ou
seja, apreciadores do gênero); tanto intelectuais e músicos ligados a “alta cultura”
(como Mello Moraes Filho, Visconde de Ouro Preto e Villa Lobos) quanto músicos
ligados a classes operárias (como Benigno Lustrador e Leopoldo Pé de Mesa).
Isso nos leva ao segundo tema deste tópico, o de considerarmos a obra de
Gonçalves Pinto como uma narrativa etnográfica. No entanto é preciso ainda fazer uma
observação importante a respeito da questão da “contra-memória”. A aplicabilidade do
conceito ao nosso objeto de estudo é realçada (como já sugerimos anteriormente)
quando observamos que o livro teve aparentemente pouca ou nenhuma repercussão nos
grandes meios de comunicação da época – o que não é de se estranhar quando se leva
75
em conta o fato de que Alexandre Gonçalves Pinto era um completo anônimo quando
comparado a outras “personalidades” que também editaram livros sobre música, como
Vagalume e Orestes Barbosa (renomados jornalistas) e Catulo da Paixão Cearense,
celebridade da poesia nacional. Pesquisa realizada por mim em periódicos importantes
de 1936, como O Jornal do Brasil e O Globo8, não encontrou nenhuma referência ao
lançamento do livro; também não foi possível encontrar nenhuma referência a ele nas
décadas de 1940 e 1950, o que indica que a obra teria permanecido no esquecimento até
pelo menos a década de 1960, quando foi alvo do fichamento elaborado por Jacob do
Bandolim descrito em tópico anterior. É a partir do relançamento da obra em 1978 por
Ary Vasconcelos, que se dará uma mudança significativa de perspectiva: de “contramemória” o livro se tornará, através da cadeia de mediadores que o adotarão como fonte
de pesquisa sobre compositores, obras ou história social, “memória oficial”.
Analisaremos este processo com maiores detalhes ao longo da tese; por ora cumpre
apenas enfatizar que o livro permaneceu como “contra-memória” até pelo menos a
década de 1970.
Entramos agora no segundo tema deste tópico, a perspectiva etnográfica.
Cumpre de início discernir a etnografia como constituição “científica”, elaborada por
acadêmicos ligados à antropologia e às ciências sociais a partir da década de 1920
(Clifford, 1998) da ideia de etnografia como conceito mais amplo (e mais antigo
historicamente) de descrição verbal de práticas sociais não necessariamente ligadas à
academia. A ideia de etnografia como atividade ligada essencialmente ao campo das
ciências sociais e, particularmente, da antropologia, é historicamente recente: conforme
afirma Clifford (1998:26), em termos esquemáticos, “antes do final do século XIX, o
8
A pesquisa é dificultada pelo fato de não termos a referência exata do mês em que a obra foi lançada. Na
parte final do livro, Gonçalves Pinto afirma que o livro deveria ter sido lançado “muito antes do
carnaval”, mas que problemas na gráfica onde ia ser impresso o levaram a lançá-lo “só agora”. Este “só
agora” implica sem dúvida uma data depois do carnaval, mas não há mais nenhuma informação concreta
que nos indique o mês exato.
76
etnógrafo e o antropólogo, aquele que descrevia e traduzia os costumes, e aquele que era
o construtor das teorias gerais sobre a humanidade, eram personagens distintos”. Esta
perspectiva é corroborada por Seeger para quem a etnografia musical não
corresponderia necessariamente a uma antropologia da música, uma vez que
a etnografia não é definida por linhas disciplinares ou perspectivas teóricas, mas
por uma abordagem descritiva da música que vai além da transcrição musical dos
sons para uma escrita de como os sons são concebidos, gerados, apreciados e
influenciam outros indivíduos, grupos e processos sociais e musicais (Seeger,
1992: 89, tradução minha).
A ausência de definição de perspectivas teóricas e a caracterização de
etnografia da música como uma descrição verbal daquilo que um grupo social define
como “musical” não implica em ausência de caráter interpretativo, uma vez que
qualquer descrição redunda necessariamente em análise e interpretação (Seeger, 1992,
Travassos, 2007). Em outras palavras, o movimento de “textualização” subjacente à
ideia de etnografia implica necessariamente em um processo de escolha e interpretação:
como o mundo não pode ser apreendido diretamente, ele é sempre inferido a partir de
suas partes, que são apreendidas e descritas através do trinômio experiênciainterpretação-textualização (Clifford, 1998: 40).
Chegamos assim a outro pressuposto básico da etnografia clássica: a
observação participante. No modelo antropológico de etnografia surgido a partir da
década de 1920, a observação participante será, ao lado das premissas científicas de
análise da estrutura do “todo cultural” através das suas partes, uma das condições
fundamentais para a legitimação da autoridade etnográfica:
A observação participante serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o
‘interior’ e o ‘exterior’ dos acontecimentos: de um lado, captando o sentido de
ocorrências e gestos específicos, através da empatia; de outro, dá um passo atrás,
para situar esses significados em contextos mais amplos. Acontecimentos
singulares, assim, adquirem uma significação mais profunda, ou mais geral, regras
estruturais, e assim por diante. (op. cit., 33 e 34)
77
Do que se viu até aqui, fica claro que o livro de Gonçalves Pinto pertence à
categoria de etnografia “não acadêmica”, o que não implica em afirmar que sua obra
tenha um papel meramente descritivo. Ela é sem dúvida resultado não apenas de uma
observação participante, mas do ponto de vista de um nativo. Cumpre ressaltar apenas
que o “passo atrás” da etnografia escrita pelo carteiro é dada não pelo afastamento físico
do “campo”, mas pela passagem do tempo. Rememorando as relações entre práticas
musicais e sociais do passado é que o autor restabelece biografias, eventos, situações,
gírias, oralidades, etc; sem dúvida é a passagem do tempo, e a transformação dos
costumes que permite ao autor definir com precisão grupos sociais que se unem em
torno de determinadas práticas musicais: “Foi por isso bom amigo leitor, que
pertencendo e convivendo no meio desses vencedores da arte musical, é que me veio ao
pensamento escrever algo sobre os chorões da antiga e nova guarda” (207, grifo meu).
Neste sentido, a obra de Gonçalves Pinto pode ser entendida em parte como uma
“etnografia histórica”, já que o autor não escreve apenas sobre o “presente etnográfico”,
mas sobre acontecimentos que remontavam há quarenta anos. Esta significativa
passagem de tempo confere distanciamento ao nosso etnógrafo do choro, que passa a
identificar seus colegas como um grupo coeso: os “chorões”.
Cumpre agora aprofundarmos a relação entre etnografia e história. Estes dois
termos, aparentemente antagônicos, uma vez que a etnografia clássica tradicionalmente
implicou na construção de um “presente etnográfico” (Clifford, 1998: 26; Fabian:
1983), têm sido cada vez mais utilizados em trabalhos recentes nos campos das ciências
sociais. Conforme assinalado por Castro e Cunha (2005), ainda que exista entre o senso
comum (e na própria academia) a ideia de que o trabalho antropológico implica
necessariamente na pesquisa de campo, percebe-se com cada vez mais intensidade o
fato de que antropólogos têm realizado trabalhos de pesquisa baseados em arquivos
78
vários, enfoque normalmente associado ao historiador ou ao arquivista. Desta forma, o
“campo” se transforma no arquivo, e perspectivas e metodologias antropológicas são
utilizados como ferramentas teóricas para análises de documentos, periódicos, e todo o
vasto arsenal de objetos do passado preservados em museus e coleções.
É esta também a perspectiva adotada por Coelho (2009:182) em sua tese sobre
as viagens dos Oito Batutas à América Latina na década de 1920. Para o autor, a relação
entre a antropologia e a questão dos arquivos pode ser vista sob um duplo aspecto: na
indagação sobre qual o estatuto dos arquivos como fontes de dados para o trabalho
antropológico ou, ainda, em quais implicações são assumidas ao se tomar fontes
arquivísticas como discursos nativos, de um lado, e na apropriação dos mesmos
arquivos pelos nativos em um contexto de pós-modernidade, por outro. Este último
aspecto estaria ligado à crise no interior da disciplina surgida a partir da década de 1980,
quando críticas cada vez mais contundentes colocaram em xeque diversas premissas da
antropologia clássica, a começar pelo questionamento sobre a autoridade etnográfica do
antropólogo (cf. Clifford, 1998:17-59). Não creio que seja preciso, no âmbito deste
trabalho, aprofundar este ponto já bastante repisado por estudos recentes: no entanto, ele
nos interessa na medida em que coloca em evidência a importância de etnografias
nativas, como é o caso do nosso objeto de estudos (idem: 58).
No primeiro aspecto, Coelho procura explicitar as premissas metodológicas de
uma pesquisa de campo onde os “nativos” são habitantes de “aldeias-arquivos” e estão
irremediavelmente aprisionados no passado. Estes “trobriands de papel”, para usar a
expressão do autor, estariam completamente infensos às invectivas do antropólogo, cuja
única esperança seria a de “tentar fazer-lhes as perguntas certas” (Coelho, 2009:184).
Na prática, o que se coloca em questão é: de que maneiras se devem interpretar
informações e narrativas que nos chegam do passado sob um viés antropológico? Para
79
Coelho, fontes primárias como jornais e periódicos não podem ser lidos apenas como
simples suportes para transmissão de um conteúdo a ser transmitido. Pelo contrário,
uma simples página de jornal do passado representaria um campo de forças regido por
uma relação dialética entre vários “personagens” e instituições9. Desta forma a trajetória
dos Oito Batutas na Argentina e no sul do Brasil é recomposta através da perspectiva
polifônica das notícias de jornal que nem sempre apresentavam visões unívocas sobre o
conjunto. Visão bastante semelhante é apresentada por Renata Gonçalves (2007) em seu
estudo sobre os ranchos cariocas, pesquisa baseada, nas palavras da própria autora, em
uma “etnografia retrospectiva dos ranchos” a partir de textos publicados no Jornal do
Brasil. O jornal é aqui também analisado como um espaço de mediação entre diversas
instâncias que muitas vezes atribuíam diferentes significações às práticas dos ranchos de
carnaval:
A partir das narrativas ‘interessadas’ de divulgação de boletins policiais, dos
licenciamentos para o funcionamento e desfile das sociedades carnavalescas, das
crônicas menos ou mais elogiosas, dos anúncios de aluguel de janelas no
carnaval, da venda de fantasias ou da confecção de estandartes por artistas
publicados no Jornal do Brasil, chega-se aos indícios das negociações e relações
aí presentes. Esses ‘interesses’, conflitos, presenças e ausências de determinados
atores convergem para a constituição do que vem a ser os ‘ranchos’, sendo uma
forma privilegiada de problematizar as fontes e de torná-las reveladoras de um
determinado conjunto de relações sociais e de significações culturais (Gonçalves
2007: 75).
O estudo de Gonçalves será de grande utilidade não apenas pelo fato de se
constituir como uma “etnografia histórica”, mas porque, conforme mostraremos no
segundo capítulo, havia uma intensa ligação entre os ranchos carnavalescos e os chorões
retratados pelo “Animal”, sendo ele mesmo diretor de um rancho de nome Pragas do
Egito. Neste sentido, apontaremos empréstimos e influências das linguagens utilizadas
por cronistas carnavalescos e pelos jornais editados pelos próprios ranchos (como era o
9
Coelho inspira-se no pensamento do teórico francês Maurice Moulliaud, para quem o jornal pertenceria
a uma rede de informações em perpétua modificação. Neste sentido, o jornal seria parte de uma rede que
não impõe ao mundo “apenas uma interpretação hegemônica dos acontecimentos, mas a própria forma do
acontecimento” (Moulliaud apud Coelho, 2009: 185)
80
caso do Ameno Resedá, um dos ranchos mais importantes da época) na linguagem de
Gonçalves Pinto.
No âmbito da sociologia também podemos apontar pelo menos um estudo
recente que traz como foco a questão da etnografia histórica: o livro do sociólogo José
de Souza Martins, A aparição do demônio na fábrica (2008). O estudo é baseado no que
o próprio autor denomina “sociologia retrospectiva”: tendo iniciado sua carreira
profissional como contínuo em uma fábrica do ABC paulista em meados da década de
1950, Martins rememora, a partir de suas lembranças pessoais e do cotejo com o
depoimento de outros funcionários colhidos cerca de trinta anos depois, um
acontecimento marcante ocorrido em uma manhã de 1956 – a aparição do demônio para
um grupo de operárias.
No cerne desta sociologia retrospectiva estaria o uso crítico das lembranças do
autor como uma espécie de banco de dados de memórias catalogadas sociologicamente
a posteriori. Em outras palavras, seria como se o autor fizesse uso retrospectivo da
observação participante: “Recupero e interpreto os dados, portanto, como membro dos
grupos sociais de referência nesta análise, grupos vicinais e de trabalho, dos quais fiz
parte, e não como estranho, que é o que normalmente ocorre com o pesquisador”
(Martins, 2008: 63). As condições de cientificidade desta dupla condição de nativo e
etnográfo seriam dadas, segundo Martins, por dois fatores: o primeiro seria o de que sua
função de contínuo, uma dos cargos menos importantes na hierarquia da fábrica, o
colocava em uma posição de quase “invisibilidade social”, ao mesmo tempo em que
possibilitava seu acesso a praticamente todas as seções da fábrica. O segundo seria o
fato de que a passagem do tempo entre os acontecimentos rememorados e a escrita do
estudo (cerca de trinta anos) conferiria não apenas um simples distanciamento, mas uma
81
verdadeira “alternação biográfica”10: o autor deixara há muito de pertencer às esferas
sociais da qual fora parte na juventude. Dessa forma:
Esse deslocamento biográfico nos põe diante de momentos de nossa história
pessoal que se tornaram distantes e ‘externos’ para nós, numa relação de certo
modo objetiva, como a de um etnógrafo em relação ao grupo que o estuda. Nessa
relação de ‘exterioridade’ no tempo biográfico (...), uma ocorrência como a que
examino neste estudo pode então ser relembrada e interpretada pelo próprio
protagonista, ou pela própria testemunha, a partir de um sistema de significados
diverso daquele que deu sentido às relações sociais e aos acontecimentos no
momento em que foram vividos. (...) De certo modo, o homem comum está
continuamente na situação de etnógrafo amador de suas próprias experiências
sociais. (Martins, 2008: 148, grifo meu)
Voltando ao nosso objeto de estudos, poderíamos dizer que sem dúvida nosso
carteiro pode ser enquadrado na categoria de “homem comum em situação de etnógrafo
amador” das experiências sociais do seu tempo, como na citação acima. Mas seria
temerário elaborarmos afirmações conclusivas sobre a aplicabilidade dos dois
pressupostos que validariam a “observação participante retrospectiva” do trabalho de
Martins ao nosso objeto de estudos. Por um lado, a “invisibilidade social” da função de
um contínuo em uma fábrica de cerâmicas da década de 1950 pode ser aplicada a um
carteiro das primeiras décadas do século XX? Não nos é possível saber com certeza:
mas podemos obviamente afirmar que, pelo próprio caráter da profissão, um carteiro
tem grande mobilidade pelas diferentes “regiões sociais” da cidade; e Gonçalves Pinto
certamente se vale desta mobilidade como ferramenta para a sua narrativa etnográfica.
Há várias menções, ao longo do livro, ao fato de que a profissão de carteiro permitiu o
conhecimento de pessoas e situações sociais descritas. Assim, para citar apenas dois
exemplos, Pinto conhece o violonista Vicente Sabonete e sua “distincta família” graças
ao seu trabalho “como carteiro na Rua Lavradio” onde a família residia (pg. 129); sobre
10
O termo “alternação biográfica” é do sociólogo Peter Berger, e refere-se às alterações de contextos
sociais através do tempo de vida de um indivíduo.
82
a viúva de Carlos Espíndola ele rememora: “Não sei de certo, se a sua viúva ainda
existe, o que faço votos que sim, pois, quando carteiro que fazia entrega na rua do
Lavradio encontrei-a, uma ocasião, morando no Hotel Nacional” (pg. 22). Por outro
lado, também não creio ser possível falar em “alternação biográfica” no caso de
Gonçalves Pinto: ainda que as condições sociais da época em que ele escrevia fossem já
muito diferentes daquelas descritas em sua narrativa, não há como inferir que sua
própria condição social tenha mudado significativamente.
De qualquer forma, o que nos importa é salientar que o livro de Gonçalves
Pinto pode ser analisado como uma etnografia “nativa”, na medida em que temos pela
primeira vez na história da música popular urbana um depoimento escrito por um
insider. Ao mesmo tempo, sua escrita nos permite “ouvir” a polifonia de discursos da
época, as relações de sociabilidade criadas pelas práticas musicais, as memórias
vernáculas de músicos populares, bem como gírias, oralidades, fragmentos de discursos,
etc. (veremos com mais detalhes estes aspectos no capítulo dois). Feita esta constatação
passamos a outra questão: como analisar um texto etnográfico do passado sob uma
perspectiva etnográfica? Como realizar uma “pesquisa de campo” pelo mundo
descortinado por nosso carteiro? Obviamente, para desespero do autor destas linhas, o
“Animal” está completamente surdo aos meus questionamentos; entretanto, seu texto
restitui em parte sua própria voz e as daqueles que ele descreve. Um trabalho
comparativo entre fontes de época também nos permite evocar e “entrevistar” outras
vozes do passado que por vezes apóiam, por vezes se contrapõem ao discurso de
Gonçalves Pinto. Além de livros como os dos citados Catulo, Vagalume, Orestes
Barbosa e Mello Moraes Filho, os periódicos do rancho Ameno Resedá (que serão
analisados no capítulo dois) e os acervos manuscritos de partituras da época (alvos de
83
nossos estudos no capítulo quatro) foram valiosos elementos que nos ajudaram neste
trabalho de “reconhecimento topográfico” de nosso campo.
Por outro lado, entrevistas com músicos de choro mais antigos, que iniciaram
suas trajetórias musicais na década de 1950, nos permitem realizar uma espécie de
“abordagem indireta” com o universo descrito por Pinto. Alguns destes músicos, como
é o caso do bandolinista Déo Rian, conheceram em sua juventude músicos descritos
pelo “Animal” e viveram situações de sociabilidade em torno das práticas musicais do
choro que se assemelham às descritas no livro. Ao longo do processo de pesquisa nos
foi possível também conhecer e entrevistar uma neta de Alexandre Gonçalves Pinto, que
pôde fornecer elementos importantes para nossa análise. Todos estes elementos serão
analisados com maior profundidade ao longo dos próximos capítulos. E, por fim, e
talvez mais importante, nossa etnografia nos conduz a músicos e amantes do choro da
atualidade que tiveram suas relações com esta(s) música(s) modificada(s) pela leitura do
livro. De que forma uma narrativa do passado altera nossa concepção do presente é a
questão que se coloca no quinto capítulo desta tese.
2.3) Bakhtin, polifonia, heteroglossia e circularidade cultural
Finalmente, cumpre analisar agora conceitos fornecidos pela teoria e os
estudos da linguagem, particularmente aqueles propostos pelo intelectual e lingüista
russo Mikhail Bakhtin. Estes conceitos nos serão úteis em nossa análise do texto de
Gonçalves Pinto e de outros textos de época que utilizaremos como forma de
comparação. Por outro lado, Bakhtin também nos fornecerá a chave de uma das
questões centrais do livro, que pode ser resumida da seguinte forma: como analisar um
texto considerado, como vimos anteriormente, como “literatura menor” ou
84
linguisticamente “impuro”, advindo de um membro das classes populares do Rio de
Janeiro das primeiras décadas do século XX? Para responder a esta questão utilizaremos
os conceitos de carnavalização e circularidade cultural de Bakthin e Ginzburg,
respectivamente.
Começaremos discutindo alguns conceitos chave sobre teoria da linguagem
em Bakhtin tais como enunciação, dialogismo, polifonia e heteroglossia, para depois
aplicá-los ao nosso objeto de estudo. Obviamente fugiria aos limites desta tese realizar
uma análise exaustiva do complexo e poliédrico pensamento de Bakhtin: o que se fará
aqui é apenas delinear os principais conceitos que podem ser utilizados como
ferramentas para nossa análise. Comecemos com o conceito de enunciação: para
Bakhtin (1992), a enunciação seria resultado da interação entre pelo menos dois
indivíduos socialmente organizados; ela não existiria fora de um contexto sócioideológico organizado; pelo contrário estaria imersa em um campo de significados
dependentes da posição social dos locutores, onde cada um deles teria “um horizonte
social bem definido, pensado e dirigido a um auditório social também definido”.
(Rechdan, 2003). Desta forma “a enunciação procede de alguém e se destina a alguém.
Qualquer enunciação propõe uma réplica, uma reação” (id. ib.)
Desta forma, o sentido da enunciação não se resume ao indivíduo que a
formula, e nem tampouco ao receptor da mensagem e ao conteúdo sintático do texto a
ser passado. O sentido da enunciação estaria justamente no efeito entre locutores e
receptores socialmente posicionados11:
11
Este, aliás, é um dos primeiros aspectos da “descoberta” do pensamento de Bakhtin pelo mundo
ocidental, particularmente por pensadores franceses da década de 1960. Em um contexto dominado pelo
pensamento estruturalista, os estudos da lingüística (particulamente aqueles ligados ao pensamento de
Ferdinand Saussure) eram vistos como “fatos lingüísticos” dominados por antíteses – língua e palavra,
denotação e conotação, signo e significado – sempre anteriores ao sujeito e ao contexto histórico e social
em que se davam. O pensamento de Bakthin surge, portanto, como um contraponto ao pensamento
estruturalista: a partir dele a linguagem passa a ser entendida como algo imanentemente social, imersa no
sujeito e na história, “nas práticas cotidianas, nas ações intersubjetivas, ou seja, na inexorabilidade
85
Assim, nas enunciações, há tantos sentidos quanto os diversos contextos em que
elas aparecem. Por isso, o sentido ou tema pode ser investigado nas formas
lingüísticas e nos elementos não verbais da enunciação, ou seja, a apreciação, a
entonação, o contexto, o conteúdo ideológico etc. (Rachdan, 2003)
O conceito de dialogismo estaria diretamente ligado ao de enunciação. Como
qualquer enunciação pressupõe um “território de negociações” entre locutor e receptor,
pressupõe-se que qualquer emissor de mensagem já projeta em sua enunciação atitudes
responsivas, antecipando a posição do receptor, isto é “experimentando ou projetando o
lugar de seu ouvinte.” (id, ib.). Assim, o conceito de diálogo amplia-se de forma muita
mais complexa do que o tradicional conceito de interação verbal entre duas pessoas
(Bakhtin, 1992: 123). De forma geral todo o discurso seria dialógico, mesmo quando
construído sobre uma aparência aparentemente monológica. Um livro, por exemplo,
é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo e, além disso, é feito para ser
apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado no
quadro do discurso interior, sem contar as reações impressas, institucionalizadas,
que se encontram nas diferentes esferas da comunicação verbal (críticas, resenhas,
que exercem influência sobre trabalhos posteriores, etc.). Além disso, o ato de fala
sob a forma de livro é sempre orientado em função das intervenções anteriores na
mesma esfera de atividade, tanto as do próprio autor como as de outros autores: ele
decorre portanto da situação particular de um problema científico ou de um estilo
de produção literária. Assim, o discurso escrito é de certa maneira parte integrante
de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa,
refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.
(Bakhtin, 1992: 127, grifo meu).
Desta forma, qualquer discurso - esteja ele contido apenas na consciência do
receptor, emitido em forma de discurso verbal ou impresso em livro - é necessariamente
dialógico, espelhando sempre “relações que ocorrem entre interlocutores, em uma ação
histórica compartilhada socialmente, isto é, que se realiza em um tempo e local
específicos, mas sempre mutável, devido às variações do contexto” (Rechdan, 2003)
(ontológica) da constituição dialógica do sujeito e da sociedade. O filósofo russo introduziu, portanto, a
situacionalidade de todo fenômeno linguístico, seja literário ou conversacional, mostrando precisamente
que a linguagem só existe socialmente. (Ribeiro e Sacramento, 2010: 10-11)
86
O conceito de polifonia não deve ser confundido com o de dialogismo. Se o
dialogismo é inerente a todos os tipos de discurso, o conceito de polifonia bakhtiniano é
aplicado aos discursos que contém “uma multiplicidade de vozes e de consciências
independentes” (Bakthin, 1981:02), normalmente de caráter antagônico que acabam não
sendo “resolvidas” pelo emissor do discurso. Originalmente o conceito foi aplicado por
Bakhtin na análise da obra de Dostoievski, a partir da constatação de que, ao contrário
de outros romances da literatura européia, que apresentariam uma perspectiva dialógica
(ou seja, embora os vários personagens destes romances pudessem apresentar posições
ideológicas diferentes, eles estariam todos subordinados a uma visão unívoca do autor)
os romances de Dostoievski seriam os primeiros a se apresentarem sob um ponto de
vista polifônico, onde “centros de consciência” não poderiam ser reduzidos a um
“denominador ideológico” (id.: 03). Em outras palavras, os discursos são apresentados
ao longo do texto de forma que os personagens aparentam não reproduzir o pensamento
de um único autor: seria como se o romance apresentasse vários autores “cada qual
apresentando sua visão de mundo” (Soerensen, 2009). Como o texto não é “fechado”, o
leitor se vê diante de múltiplas possibilidades de interpretação da obra.
O conceito de heteroglossia, por sua vez, amplia as possibilidades da polifonia
ao admitir que toda a linguagem traz em seu bojo, em uma espécie de jogo dialético,
estratificações de linguagens “não-oficiais”, características de classes e situações
sociais, profissões, etc. Assim, toda a linguagem “oficial” seria o resultado de uma
mediação entre forças “centrípetas” e “centrífugas”, que atrairiam e repeliriam estes
extratos “não-oficiais” à linguagem culta, em uma construção contínua de significação.
Para Ribeiro e Sacramento (2010: 19) o conceito de heteroglossia sugerido por Bakhtin
seria uma forma de contestação ao binômio estruturalista de Saussure representado pela
dicotomia langue e parole: através da heteroglossia a linguagem estaria continuamente
87
se referenciando histórica e socialmente; para usar os termos de Saussure, a langue seria
então formada por um conjunto de usos da parole que seriam dialogicamente
interrelacionados e possíveis de serem acionados a qualquer momento.
Se tais conceitos serão úteis na nossa análise da linguagem utilizada por
Gonçalves Pinto, os conceitos que nos serão chaves na obra de Bakhtin para o
entendimento de como ler um livro considerado “impuro” – escrito por um “primitivo
ingênuo” como nos quer fazer ver a história social – serão os de intertextualidade e o de
carnavalização (Bakhtin, 1984). Ambos os conceitos estão ligados à ideia de “diálogo,
interpenetração e ressignificação entre formas de expressão populares e de elite”
(Araújo, 2005). Retrabalhado pelo historiador Carlo Ginzburg (um dos pioneiros da
corrente de estudos conhecida como micro-história) sob a denominação “circularidade
cultural” a expressão designa uma categoria de análise aplicável a determinados
processos de reapropriação e trocas entre diferentes classes sociais (id. ib). Vejamos
agora com mais detalhes estes conceitos.
Em seu estudo O queijo e os vermes Ginzburg procura compreender e analisar
as ideias de um moleiro da Idade Média condenado pela Inquisição. Para este autor, o
estudo das “camadas subalternas” da sociedade é um fenômeno historicamente recente,
e que frequentemente esbarra em problemas metodológicos como a escassez de
testemunhos sobre o comportamento e as atitudes destas classes e na maneira como se
lê e se interpreta os poucos documentos remanescentes delas. Segundo Ginzburg, só
através do termo “cultura primitiva” cunhado pelo folclore e pela antropologia social é
que “se chegou de fato a se reconhecer que aqueles indivíduos outrora definidos de
forma paternalista como ‘camadas inferiores dos povos civilizados’ possuíam cultura.”
(Ginzburg, 1976) Mesmo assim, ainda segundo este autor, durante boa parte do século
XX ainda haveria prevalecido a concepção de que as “ideias, crenças, visões de mundo
88
das classes subalternas” nada mais seriam do que “um acúmulo inorgânico de
fragmentos de ideias, crenças e visões de mundo elaboradas pelas classes dominantes” e
que teriam sido “mal digeridas” pelas ditas classes inferiores (idem).
A partir daí surgiria a questão da dualidade e da relação entre a cultura das
classes subalternas e das classes dominantes, tema abordado por Bakhtin em A cultura
popular na Idade Média. Analisando o clássico Gargantua e Pantagruel de Rabelais,
Bakhtin analisa os fundamentos da cultura popular na Idade Média tendo como ponto
central o carnaval como contraponto ao dogmatismo e à seriedade da cultura da classe
dominantes. No carnaval estariam o mito e o rito no qual “confluem a exaltação da
fertilidade e da abundância, a inversão brincalhona de todos os valores e hierarquias
constituídas, o sentido cósmico do fluir destruidor e regenerador do tempo” (Bakhtin,
1987). Somente através do entendimento desta visão de mundo, aparentemente sem
nexo e sem “ordem”, seria possível o entendimento do livro de Rabelais. Desta forma,
se por um lado haveria uma dicotomia entre as culturas das classes dominantes e
subalternas na Idade Média, por outro haveria também intertextualidade, ou seja,
influxo recíproco entre tais classes, que faria com que camponeses e artesãos nos
“falem” através das palavras de um autor “culto” como Rabelais (idem).
A carnavalização funcionaria então como uma forma de suspensão temporária
das hierarquias constituídas: através dos elementos ligados ao satírico, ao burlesco, à
valorização de símbolos escatológicos (os órgãos sexuais, os excrementos, a linguagem
de baixo calão), ao grotesco enfim, sustava-se em determinados períodos e
determinadas comunidades da Idade Média as relações sociais comuns, calcadas na
estratificação entre as diferentes classes da época (o clero, o campesinato, a nobreza,
etc). Este “riso festivo” tinha algumas características específicas, entretanto. Em
primeiro lugar seria “universal” por atingir todas as pessoas da comunidade: “o mundo
89
inteiro parece cômico e é percebido e considerado no seu aspecto jocoso, no seu alegre
relativismo” (Bakhtin, 1987: 10). Esta é a razão pela qual mesmo os clérigos (incluindo
os mais altos eclesiásticos), permitiam-se “alegres distrações” durante este período,
escrevendo “tratados mais ou menos paródicos e obras cômicas em latim”12 (id. 11). Em
segundo lugar seria “ambivalente” pelo fato de que sua finalidade não é apenas cômica,
mas também de renovação. Ao se troçar de símbolos sagrados em festas específicas por
meio de blasfêmias, estas, conquanto “degradassem e mortificassem, simultaneamente
regeneravam e renovavam” (id. 15). Neste processo as “linguagens não oficiais” tinham
fundamental importância: termos de baixo calão, obscenidades, paródias, duplos
sentidos, etc.
A palavra de dupla tonalidade permitiu ao povo que ria, e que não tinha o
menor interesse em que se estabilizassem o regime existente e o quadro do
mundo dominante (impostos pela verdade oficial), captar o todo do mundo em
devir, a alegre relatividade de todas essas verdades limitadas de classe, o estado
de não-acabamento constante do mundo, a fusão permanente da mentira e da
verdade, do mal e do bem, das trevas e da claridade, da maldade e da gentileza,
da morte e da vida (Bakhtin, 1987: 380).
Da mesma forma, o “riso festivo” estava associado a uma “vida paralela” à
oficial, ligada à fartura, à satisfação das necessidades vitais básicas como o comer, o
beber e cópula. Diferentemente da vida cotidiana em que o comer era frugal, no período
de riso festivo a abundância de alimento e de bebida funcionava como uma espécie de
passaporte para a vida festiva.
A partir destes conceitos podemos entender de forma mais profunda o caráter
multifacetado da aparentemente confusa prosa de nosso carteiro. Ela é povoada de
heteroglossias, linguagens não oficiais: à maneira dos folhetins da época e da literatura
carnavalesca, ela traz em seu bojo o satírico popular (que ironiza a todos, sem excluir o
12
O exemplo talvez mais importante de uma destas obras, citadas por Bakhtin, é O Elogio da Loucura do
clérigo Erasmo de Rotterdan, obra satírica onde a “deusa Loucura” tece, em linguagem burlesca, críticas
severas a diversas camadas da sociedade da época, incluindo a Igreja. A obra funcionou como estopim
para a reforma protestante de Martinho Lutero.
90
próprio autor), a gíria, fórmulas de oralidade, inúmeras referências ao comer e ao beber
(as descrições dos banquetes beiram o pantagruélico) associadas às festas, tudo isso
misturado a conceitos “cultos” como explicações sobre a origem da música e a questão
da nacionalidade. Nosso trabalho a partir do segundo capítulo será tentar identificar
estas fontes que servirão de “empréstimo” para a linguagem do Animal: neste sentido
será particularmente importante a análise da literatura sobre os ranchos carnavalescos da
época, manifestações que congregavam grande quantidade de chorões. Como veremos
no próximo capítulo, ao longo de meu processo de pesquisa consegui localizar jornais
publicados pelo Ameno Resedá que constituíram fontes preciosas para minha análise:
eles contêm, à maneira da linguagem do Animal elementos heterogêneos ligados ao
“popular”, à sátira e obviamente ao carnavalesco.
91
Capítulo 2
Vida festiva, malandragem e folhetim
Neste capítulo iniciaremos nossa análise da obra de Alexandre Gonçalves
Pinto. Munido das ferramentas teóricas analisadas no primeiro capítulo meus objetivos
são vários: entender a estrutura do livro, analisar sua linguagem multifacetada, entender
as diferentes concepções da palavra “choro” ao longo da obra, estudar o caráter
“etnográfico” dos trezentos e cinqüenta “perfis biográficos” que aparecem na forma de
verbetes ao longo do livro, e principalmente, problematizar a questão da dualidade entre
a vida cotidiana (representada pelas relações de família tão presentes no livro) e a vida
“festiva” – representada pelos “heróis do choro”, como Gonçalves Pinto os chama.
Como pano de fundo de todo o capítulo utilizarei os conceitos bakhtinianos de
intertextualidade e carnavalização, sempre apoiado pelo binômio memória-etnografia
em que se baseia este trabalho. Para que fique mais claro o modo como congrego meu
referencial teórico, creio que seja de bom alvitre explicar um pouco do processo de
pesquisa que norteou este capítulo. Desde o início compreendi que precisaria encontrar
outras fontes que funcionassem como base de comparação para minha análise do texto
de Gonçalves Pinto: neste sentido iniciei meus trabalhos procurando fontes populares de
época que pudessem me fornecer parâmetros. Dentro deste panorama, um dos possíveis
itens a serem analisados seria o das literaturas de folhetins. Uma escolha natural foi o
romance Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Macedo, que será
abordado ao longo do capítulo. Amparado pela notável análise de Antonio Cândido
sobre esta obra, pude fazer relações entre as diferentes “ordens” do legal e do ilegal, do
cotidiano e do festivo que de certa forma são comuns às duas obras. Embora importante,
este material ainda era claramente insuficiente: era preciso encontrar referências mais
concretas sobre o tipo de leitura que o carteiro tinha à mão e sobre as linguagens que o
circundavam. Uma outra escolha mais ou menos óbvia era a literatura sobre os ranchos
carnavalescos, pelo fato de que, como ressaltado ao final do primeiro capítulo, muitos
chorões da época pertenciam a este meio e o próprio Pinto mencione de forma
recorrente esta manifestação ao longo de seu livro. Neste sentido foram fundamentais os
estudos de Araújo (2005) e Gonçalves (2007), sendo que este último era particularmente
útil por se utilizar das matérias de jornal da época sobre os ranchos. Mesmo assim eu
precisava me aproximar ainda mais das vozes que emanavam destas manifestações
carnavalescas – e não apenas vislumbrá-las através da visão da imprensa do início do
século – para poder compará-las ao meu objeto de estudos. Partindo do ponto de vista
da pesquisa etnográfica procurei por um lado entrevistar pessoas que pudessem ter tido
contato com Gonçalves Pinto, como músicos de choro mais antigos e possíveis
membros da família, como expliquei no capítulo anterior. Esperava que estes contatos
me fornecessem elementos que me permitissem estabelecer conexões ou apontassem
documentações ou arquivos onde eu pudesse de alguma forma “entrevistar” aquelas
figuras biografadas pelo “Animal”.
Um desses contatos foi o pesquisador Humberto Francheschi, fotógrafo e um
dos mais importantes colecionadores de disco do Brasil. Conheci-o na época do meu
mestrado, quando, em companhia de meu então orientador Samuel Araújo, estive em
sua casa assistindo ao processo de digitalização dos discos 78 rpm do acervo Dulce
Lamas, integrante do Laboratório de Etnomusicologia da UFRJ. Consultando-o a
respeito do livro em uma conversa informal, Francheschi me afirmou ter conhecido um
filho de Alexandre Gonçalves Pinto, àquela época também já falecido, conhecido pela
alcunha de Xandico. Morador de Botafogo e tocador de cavaquinho como o pai,
Xandico teria afirmado a Francheschi que o acervo de partituras de seu pai teria sido
93
doado a Jacob do Bandolim; entretanto Francheschi não tinha informações mais
precisas a este respeito.
Como a análise dos acervos de partitura de choro já fazia parte do meu objeto
de estudos, rumei para o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, onde está
atualmente depositado o acervo Jacob do Bandolim para uma verdadeira “pesquisa de
campo” que durou alguns meses. O foco eram as partituras que pudessem ser
identificadas como parte do acervo de Gonçalves Pinto e o resultado deste processo de
pesquisa será tema do quarto capítulo deste trabalho. Entretanto ao longo da pesquisa
encontrei outros materiais que me foram de extrema valia, como o fichamento sobre o
livro “O Choro” elaborado por Jacob, visto em parte no primeiro capítulo. Já nos
últimos meses de trabalho da tese, em uma das minhas últimas visitas ao Museu,
deparei-me com uma pasta intitulada “Ameno Resedá”, também parte integrante do
acervo Jacob do Bandolim.
Nela encontrei exemplares do jornal editado por este rancho entre os anos de
1912 e 1920. Embora soubesse pela literatura acadêmica (principalmente por Efegê,
1965) que existiram de fato publicações editadas por estas agremiações carnavalescas
eu jamais havia tido contato com elas, e nem sabia de qualquer escrito que as citassem.
Esta descoberta foi um elo fundamental para minha pesquisa: os jornais editados pelo
Ameno Resedá eram elaborados por diversos colaboradores, todos naturalmente
pertencentes ao rancho. Continham editoriais que salientavam a “tradição” e a “história”
da agremiação, descrições pormenorizadas dos cortejos de carnaval, caricaturas, sátiras
aos integrantes do rancho, “causos” engraçados, tudo isso em uma linguagem
“carnavalesca” que remetia diretamente ao livro de Gonçalves Pinto. Mais ainda, vários
dos “biografados” pelo carteiro estavam lá, vistos sob outros prismas.
94
Desta forma, os jornais do Ameno Resedá me forneceram a chave para o
entendimento de uma parte importante da linguagem utilizada por Gonçalves Pinto em
seu livro. Em ambos os casos esta linguagem pode ser definida no dizer de Tinhorão
(2000:15):
Com seu comedido espírito de crítica, sua jeitosa irreverência, seu leve tom
fescenino e, muitas vezes, com a tendência à grosseria e à chulice disfarçadas por
recursos como o do jogo de palavras, a linguagem dos jornais carnavalescos
brasileiros viria a revelar, em sua tradição de mais de um século, um curioso
exemplo de conciliação literária entre a desbragada liberdade da fala popular das
ruas e o sentido da boa moral das camadas burguesas urbanas1
Para este autor, muito embora as criações da imprensa carnavalesca brasileira
não acrescentem muito aos modelos clássicos de formas cômicas de expressão escrita da
literatura da antiguidade e Idade Média (calcada em fórmulas literárias cômicas como
adinata, impossibilia, fatrasies, blasons, sermons joyeux, etc.), seria inegável,
entretanto, atribuir a elas “uma inesperada prioridade criativa: a da invenção do nome e
do conceito de carnavalização, tão em voga desde seu lançamento pelo russo Mikhail
Bakhtin, em 1965.” (id., ib.). Em outras palavras, para Tinhorão a imprensa
carnavalesca teria, já em finais do século XIX, inaugurado o conceito de
“carnavalização” ao adotar o lema, presente em centenas de jornais carnavalescos da
época, do ridendo castigat mores (“castiga os costumes rindo”, na tradução de
Tinhorão). O autor cita alguns exemplos que comprovam a sua tese, como a do O
philomono, do Recife, que, em 1904 “já propunha em inequívoca antecipação ao futuro
1
É curioso observar que o próprio Tinhorão, autor de um estudo fundamental sobre a linguagem cômica
na imprensa carnavalesca de meados do século XIX e início do XX (Tinhorão, 2000), de onde foi tirada
esta citação, não tenha aplicado o mesmo conceito de carnavalização em sua análise do livro de
Gonçalves Pinto, como visto no primeiro capítulo. No entanto, a aproximação é evidente, como espero
mostrar ao longo deste capítulo: Alexandre Gonçalves Pinto era ele mesmo diretor de um rancho
carnavalesco, o Pragas do Egipto, e descreve em seu livro diversos membros de outros ranchos, como
vimos no primeiro capítulo.
95
achado conceitual de Bakhtin: ‘Descarnavalizemos a República e Republicanizemos o
carnaval’” (id.: 12).
Muito embora Tinhorão não cite em seu estudo os jornais do rancho Ameno
Resedá, também neles encontramos motes verdadeiramente “bakhtinianos”: assim, uma
coluna publicada em um jornal de 1920, ao traçar um breve histórico do carnaval “desde
os tempos da antiguidade” salienta: “Já houve tempo em que os papas se viram forçados
a advertir os clérigos e o restante do pessoal das igrejas para que não se metessem em
mascaradas, tanto era o empenho deles em rir e troçar nas vésperas do jejum quaresmal”
(Jornal Ameno Resedá, 1920). Da mesma forma, como veremos ao longo do capítulo,
encontramos em quase todos os periódicos do Ameno colunas satíricas que tinham por
fito o “riso popular e coletivo” bakhtiniano, onde o próprio autor da sátira estava imerso
na mesma.
Assim, a descoberta dos jornais do rancho Ameno Resedá foi de fundamental
importância para este capítulo: ela funcionou por um lado como elemento comparativo
para a análise do texto do “Animal” e por outro como mais um dos campos por onde
podemos vislumbrar outras tramas de discursos sobre as práticas musicais da época. Se
o estudo de Gonçalves (2007) sobre os ranchos carnavalescos a partir dos jornais do
início do século XX permite entrever “conflitos, presenças e ausências de determinados
atores” que convergiriam para a constituição de uma ideia geral do conceito de
“rancho”, a análise dos jornais do Ameno nos restitui em parte as vozes dos próprios
componentes deste rancho, muitos dos quais pertenciam ao mesmo grupo de
biografados por Gonçalves Pinto. É por esta razão que as citações destes jornais serão
abundantes ao longo do capítulo: elas funcionam como mais um corpo de vozes que
compõem nossa etnografia histórica. Feitas estas considerações, iniciamos nossa análise
no próximo tópico com um pequeno estudo sobre a estrutura geral do livro.
96
2.1) Estrutura do livro
Comecemos pelo título: O Choro – reminiscências dos chorões antigos. Uma
segunda capa acrescenta um adendo importante, espécie de resumo da obra:
Contendo: o perfil de todos os chorões da velha guarda, e grande parte dos
chorões d’agora, factos e costumes dos antigos pagodes, este livro faz reviver
grandes artistas musicistas que estavam no esquecimento.
Duas constatações fundamentais emergem logo de início. A primeira é a de
que título e subtítulo já mostram ao leitor o objetivo principal da obra: a construção da
memória. Os termos “reminiscências”, “velha-guarda”, “reviver” e “esquecimento” já
indicam este caminho. A segunda é a de que Gonçalves Pinto já nos apresenta os
“chorões” como uma coletividade que se desdobra através do tempo: assim, o autor
deixa claro que descreverá tanto os chorões da velha guarda como “grande parte dos
chorões d’agora”. Veremos adiante como o autor conceitua o termo “velha-guarda” que
aparecerá diversas vezes ao longo do livro.
A segunda capa ainda nos apresenta as indicações de local e data – “Rio de
Janeiro, 1936” –, o preço da obra – “quatro mil réis” – e a informação da tiragem da
primeira edição – “10.000 exemplares”. Este foi um dado que sempre me intrigou,
desde o início do processo de pesquisa. Procurando dados sobre o movimento editorial
na década de 1930 verifiquei que uma tiragem de dez mil exemplares nesta época era
destinada apenas aos livros de excepcional popularidade ou a livros didáticos adotados
pela rede pública de ensino (Hallewell, 2005). Além disso, um escritor de grande
popularidade na década de 1930 como Monteiro Lobato, tinha uma tiragem média de
oito mil livros por edição2. A indicação dos dez mil exemplares no início da obra era
2
Fonte: Cruz, Maria Alice da. “Fábulas Fabulosas”, Jornal da UNICAMP, Ano XXIV, n. 468. Campinas,
12 de julho a 1º de agosto de 2010.
97
realmente uma informação correta ou teria havido um erro tipográfico? Minha primeira
hipótese foi a de que por erro tipográfico (aliás muito abundantes no livro) acrescentouse mais um zero à cifra. Se uma tiragem de dez mil exemplares era algo relativamente
raro na época, presumi que os custos financeiros para realizá-la seriam naturalmente
elevados, e dificilmente estariam ao alcance de um carteiro aposentado. Embora
Tinhorão (1998B) apontasse para o fato de que o livro traz em sua última página um
anúncio publicitário - o das “Balas Busi” -, não acreditava que apenas aquela
publicidade pudesse ter dado conta de todos os custos da impressão. Também não
consegui encontrar qualquer dado sobre a tipografia Glória, onde o livro foi impresso.
Desta forma, deixei este problema “congelado” e prossegui minha análise.
Logo após a segunda capa o autor nos apresenta, como uma espécie de
credencial que o identificará e mesmo o validará perante os leitores, a transcrição de
uma carta e de um poema de Catullo da Paixão Cearense e dois “perfis” poéticos em
forma de soneto, de autoria de um certo Max-Mar, de quem falaremos mais adiante: o
primeiro retrata o próprio Gonçalves Pinto e o segundo tem como alvo “os chorões”,
reforçando a ideia da coletividade. Detenhamo-nos agora na análise destes elementos.
Catulo da Paixão Cearense, nascido em 1863 no Ceará, foi reconhecido pelos
intelectuais da época como autêntico “poeta popular”, tendo publicado diversos livros
com coletâneas de modinhas e canções da época, sempre com a preocupação de
“corrigir” e adaptar as letras das poesias de modo a inserí-las na norma culta e no
“padrão” exigido pela incipiente indústria cultural da época (Carvalho, 2006: 6).
Chegado ao Rio de Janeiro em 1880, logo travou contato com o ambiente musical,
aprendendo a tocar violão e compondo letras para músicas de inúmeros chorões, como
Anacleto de Medeiros, Irineu de Almeida, entre outros. É sem dúvida uma referência
para o carteiro que era, além de amigo pessoal, um leitor entusiasta da obra de Catulo,
98
da qual cita em O Choro pelo menos um livro, Mata Iluminada. Este livro de poesias
traz uma descrição de chorões das últimas décadas do século XX e foi uma influência
clara na obra de Gonçalves Pinto. Portanto nada mais natural que este solicitasse a
Catulo um prefácio para seu livro.
Em sua resposta, entretanto, Catulo se recusa a escrever o prefácio pedido,
alegando não poder ser útil na “correção dos erros, porque só uma revisão geral poderia
melhorá-lo”. Entretanto, incentiva Gonçalves Pinto a publicar o livro mesmo assim,
afirmando que os leitores se “deliciariam com sua leitura, fechando os olhos aos
desmantelos gramaticais”; ao mesmo tempo promete ajudá-lo nas correções para uma
segunda edição. Como salienta Braga (2002: 195) trata-se sem dúvida de uma resposta
carinhosa, motivada pelo real interesse em ver o livro publicado: “Só mesmo tu, com o
seu grande coração, seria capaz de uma obra tão saudosa para os que, como eu, viveram
aqueles tempos de imarcescíveis recordações”.
Com a recusa de Catulo, Gonçalves Pinto resolve escrever ele mesmo um
prefácio para sua obra: entretanto, a título de preâmbulo, publica a carta de Catulo na
íntegra. Este fato, classificado por Tinhorão (1998b: 94) como mais uma prova da
“ingenuidade” do carteiro, é bastante significativo, a meu ver, e reforça o caráter
dialógico do livro. Longe de se constituir como algo ingênuo, interpreto o ato como
uma estratégia de validação da obra. Abrir o livro com uma carta de Catulo da Paixão
Cearense, um dos mais populares poetas da década de 1930 era uma forma de
credenciar o autor, mero carteiro anônimo, perante o grande público. Ainda que
houvesse críticas aos “desmantelos gramaticais”, a carta era em essência congratulatória
e apresentava Gonçalves Pinto como parte do círculo de chorões, que lhe ficariam
“devendo eternamente o serviço que lhes presta[va], tirando-os do esquecimento”. Mais
importante, a carta apresentava Pinto como parte do círculo de amizade pessoal de
99
Catulo, como se depreende do final do documento: “E, para terminar, recebe o abraço
do amigo velho, que não se cansará de felicitar-te pela lembrança feliz deste formoso,
carinhoso e saudoso breviário dos dias da nossa festiva, alegre e rumorosa mocidade.”
(grifos meus). A menção a “nossa festiva mocidade” colocava o carteiro em posição de
cumplicidade com Catulo, por indicar um passado comum. Portanto, apresentar a carta
como preâmbulo do livro funcionava como uma espécie de chancela por parte de um
escritor reconhecido para com um autor anônimo: ainda que apontasse as falhas
gramaticais, o poeta assegurava, por assim dizer, a importância da obra. Falamos no
capítulo anterior sobre o caráter dialógico inerente a todo o livro impresso: no caso do
Animal, o importante a ser ressaltado é o fato de que ele sabia exatamente qual seria o
seu público leitor, e antevê, ao longo do livro, possíveis críticas ao seu trabalho: o uso
da carta, portanto, era uma forma de resguardo às críticas.
Logo após a carta de Catulo, seguem-se dois perfis poéticos, assinados por
certo Max-Mar. O primeiro e mais importante é sem dúvida o “Perfil do Animal”, um
dos poucos documentos que nos permitem vislumbrar a personalidade de nosso autor –
Pinto pouco fala, ao longo do livro, sobre sua trajetória pessoal ou detalhes de sua
própria biografia –, razão pelo qual este soneto sempre citado nos poucos estudos que
abordam a obra de Gonçalves Pinto (Tinhorão 1998b, Braga, 2002):
Alto, já bem grisalho e urucungado,
Physionomia alegre, e sempre brincalhão;
E' sincero e leal, e por todos estimado,
Governa a sua vida, com o proprio coração.
Bom chefe de familia, funccionario honrado
Tocador de Cavaquinho, e cuéra Violão:
Ser politico sempre foi seu maior predicado
E por varias vezes já tem sido pistolão.
Tendo o dom da palavra é intelligente,
Anda sempre sem dinheiro mas... contente...
P'ra comer e beber é grande General,
100
Conhecedor de toda gyria da cidade
E' o prototypo extremo da bondade:
Eis aqui traçado o perfil do "ANIMAL".
Este soneto “de pé quebrado”, conforme afirma Tinhorão (1998b: 94), nos dá
uma amostra do “tipo de humor que presidia as relações entre elementos da baixa classe
média” (idem) e ao mesmo tempo nos fornece alguns elementos da personalidade do
“Animal”. Através do perfil poético de Max-Mar, ficamos sabendo que Gonçalves Pinto
tocava violão e cavaquinho, era um dedicado chefe de família, apesar das inclinações
boêmias de que o próprio autor nos dá testemunho ao longo de diversas passagens do
livro – veremos em um tópico posterior que a dualidade entre a vida familiar e a “vida
festiva” era uma característica dos instrumentistas classificados por ele como “heróis do
choro” – além de ser “estimado por todos”. A alcunha “Animal” certamente deve ser
creditada ao fato de que Gonçalves Pinto seria um “grande general” para comer e beber,
como, aliás, boa parte dos seus biografados. Outro dado digno de nota no soneto é a
menção ao fato Gonçalves Pinto ser “conhecedor de toda a gíria da cidade”. Este é um
fato comprovado ao longo do livro: Pinto se utiliza de diversas gírias e fórmulas de
oralidade da época para escrever seu relato. Veremos em um tópico posterior neste
capítulo de que forma seu discurso é permeado por gírias e fórmulas da oralidade da
época e de que forma estes elementos também são colocados, por assim dizer, na “boca”
de seus biografados.
Após o “Perfil do Animal”, o livro apresenta outro poema intitulado “Perfil
dos Chorões”, de autoria do mesmo Max-Mar. Composto por “seis quartetos em
decassíbalos medíocres” no dizer de Tinhorão (1998b: 95), o poema tem a virtude de
reforçar o fator identitário do grupo sobre o qual o autor procura construir uma memória
social. Ele se inicia reforçando a ideia de tradição, apontando para um passado comum
característico da construção de uma memória coletiva, como vimos no capítulo anterior:
101
Conjuncto de flautas maviosas,
Chorões de cavaquinhos e violões !
Tereis neste livro as vossas rosas
E do antigo tempo: as tradições. (8, grifo meu)
Ao mesmo tempo perpassa pelo poema uma tentativa de “glorificação épica”
dos grandes instrumentistas que compunham o universo do choro e uma espécie de
lamento pela perda da geração dos chorões mais antigos. Estes dois fatores são
recorrentes na prosa de Alexandre. Fórmulas como “Fulano era como um cometa que
passa de cem em cem anos”, e “fulano ainda hoje é lembrado e chorado no círculo dos
chorões”, serão muito repetidas ao longo do livro, como a reforçar continuamente ao
leitor a ideia de um grupo unido por um passado comum (não por acaso ambas as
fórmulas aparecem, com pequenas variações, logo no primeiro “verbete” do livro, que
versa sobre Callado). No poema estes dois elementos também aparecem, como pode ser
exemplificado nos quartetos abaixo. O primeiro cita os chorões como “astros fulgentes”
e o segundo funciona como uma evocação:
Grandes astros fulgentes se sumiram,
Rebrilharam nos antigos ambientes,
E as alegrias comnosco repartiram
Evocando melodias refulgentes.
Em cada chorão, findou-se um baluarte,
Que deixou em nosso peito uma saudade,
Que a germinar, corróe por toda a parte
Desde o momento que subiram a eternidade.
No último quarteto o poeta Max-mar evoca o próprio autor do livro, como se
falasse por ele, e acaba por fazer um retrato da essência da obra:
Vou tentar reviver celebridades,
Fazer dos bons artistas allusões,
Distinguindo em cada um a qualidade
E demonstrando o perfil dos bons chorões
102
Ora, distinguir “em cada um a qualidade” de modo a compor um cenário
positivo do grupo descrito, e ao mesmo tempo salientar as características de união entre
os chorões é exatamente o que o autor procurará fazer ao longo de todo o livro. Desta
forma os dois poemas funcionam como uma espécie de pórtico da obra, descrevendo
seu autor e o grupo sobre o qual ele escreve. A linguagem e o estilo utilizados refletem
um misto do arroubo parnasiano e do estilo “empolado” que estão em total acordo com
os que eram veiculados em jornais, revistas e folhetins populares da época. Resta,
entretanto, uma pergunta a ser respondida: quem seria este Max-Mar, colocado por
Gonçalves Pinto como espécie de “apresentador”, ao lado de Catulo, do livro e de seu
autor?
Braga (2002: 196), mostrou que com toda a probabilidade este pseudônimo
esconde o nome de um certo Maximiano Martins, um dos biografados por Gonçalves
Pinto ao longo do livro. Conhecido pela alcunha de “Seu Velho”, Maximiano é citado
como intermediário em um episódio onde Pinto tenta arrumar emprego para um boêmio
chamado Leite Alves (daí o fato de Maximiano classificar Pinto como “pistolão” em seu
“Perfil do Animal”). Entretanto não há no livro nenhuma outra menção a este
Maximiano. Este foi um dos pontos que consegui desvendar graças aos jornais
publicados pelo rancho Ameno Resedá. Analisando alguns exemplares constatei que o
nome de Maximiano Martins aparecia diversas vezes como componente da “Comissão
Carnavalesca” do rancho; mais do que isso, Maximiano Martins era editor do jornal e
uma das figuras principais do rancho, conforme deixam entrever as várias descrições
sobre ele em exemplares diversos. Conhecido também pela alcunha de “Lord Fita”, seu
retrato aparece na capa da edição de 1917 como “presidente de honra” da agremiação.
103
Fig. 2 - Maximiano Martins (“Max-Mar”), editor e fundador do jornal do
Ameno Resedá
No editorial deste jornal de 1917 há um pequeno histórico sobre o nascimento
do jornal e o papel de Maximiano neste processo:
“Em 1911 saiu o 1º número do “Ameno Resedá”, jornal de propriedade exclusiva
desta Sociedade e fundado pelo incansável carnavalesco Maximiano Martins
(“Lord Fita”) Distribuído gratuitamente ao Povo Carioca, foi condignamente
recebido por ter desta forma as pequenas Sociedades dado início ao
desenvolvimento literário no seio dos ranchos carnavalescos, que até então eram
104
tidos como simples agrupamentos de indivíduos, sem o culto necessário a
apresentação social, pela maneira exótica com que se apresentavam, a rufarem
ensurdecedoramente os tamborins, (...) (Jornal “Ameno Resedá”, 1917, grifo meu)
Neste mesmo exemplar de 1917, em uma coluna intitulada “O Resedá na
intimidade”, onde os membros da diretoria eram descritos de forma satírica, o papel
preponderante de Maximiano é descrito da seguinte forma:
O seu velho, o Lord Fita, é o mesmo Pau Ferro de todos os carnavais rijo, de uma
têmpera especial de aço e bronze, resistindo a todas as intempéries, inclusive a
intempérie política! Fala, grita, gesticula, desespera-se, unicamente para cumprir à
risca o grito de carnaval na rua! É o Cacique, é o Aymoré da tribo! (Jornal do
Ameno Resedá, 1917)
Além disso, podemos acrescentar mais um dado biográfico a este “cacique” do
Ameno Resedá: em diversos exemplares do jornal aparecem anúncios publicitários de
uma certa “Papelaria e Typographia Sportiva”, especializada na “Boa execução de
trabalhos comerciais”, de propriedade de Maximiano Martins. Ora, se Martins era dono
de uma tipografia e diretor do rancho, o mais provável é que o jornal tenha sido
impresso em sua tipografia. Interessante é também notar que as edições saíam com
tiragem de 10.000 exemplares, certamente custeadas pelas diversas propagandas
comerciais abundantes no jornal. Já se sabe aonde pretendemos chegar: sendo amigo
pessoal de Alexandre Gonçalves Pinto e tipógrafo, é possível que Maximiano Martins
tenha sido o editor e impressor de “O Choro”. O nome da tipografia que consta no livro
“Tipografia Glória” não corresponde ao anunciado no jornal, “Tipografia Sportiva”;
entretanto há que se levar em conta que os jornais foram publicados entre 1912 e 1920 e
o livro do “Animal” é de 1936, como sabemos. Neste meio tempo Maximiano pode ter
trocado de tipografia; ou ainda pode ter indicado alguma outra tipografia a seu amigo
Gonçalves Pinto. São fatos dos quais não podemos ter certeza, mas que acrescentam
mais informações ao problema de como identificar o editor/impressor da obra.
105
Mais importante do que isso é a constatação de que, de modo semelhante a “O
Choro”, todos os jornais do Ameno Resedá traziam, logo em sua primeira parte, poesias
de autoria de seus associados e admiradores, todas ao estilo de Max-mar (alguns
inclusive assinados pelo próprio), normalmente retratando de forma satírica alguns dos
membros do rancho. Veja-se, por exemplo, o soneto abaixo, de autoria de um certo Krapeta:
Cheio, pançudo, comodista e frio
Ei-lo a figura, exata tal qual é
Faz tudo e sem o mínimo arrepio
É qual um peixe no vazante da maré
Carnavalesco, da têmpera e macio
No Resedá é figura que faz fé
Briga, discute e fala (em desafio)
É o mentor de tudo, isso é que é
Para tudo dizer, aqui não devo
Nem mesmo a tal couza me atrevo
Pois fora disto, indômita franqueza
Porém se me permitem, lhes direi
Se é falso ou verdadeiro, nem eu sei
É o tipo supremo da alta fidalguia
(Jornal do Ameno Resedá, 1917)
Como se vê, o estilo é “joco-sério”, calcado na caricatura, de modo a fazer
com que os leitores reconhecessem o “personagem” sem que fosse preciso citar seu
nome. Como este aparecem dezenas de perfis nos jornais do Ameno: eles constituem
uma espécie de “riso coletivo” a que estavam submetidos todos os que se afiliavam às
entidades carnavalescas: certamente havia uma espécie de “embate” satírico entre os
componentes, manifestos em forma de poemas ou em colunas específicas, como a que
citamos anteriormente, intitulada “O Resedá na intimidade”: esta era composta por
pequenos parágrafos onde se descreviam os membros mais importantes ou queridos do
rancho – e sem dúvida foi um modelo para nosso carteiro, razão pela qual nos
106
ocuparemos dela com mais vagar em um tópico adiante –, salientando sempre as
características mais grotescas de cada um. Normalmente assinada sob pseudônimo, a
linguagem é permeada de gírias da época, a ponto de termos a legibilidade do texto
comprometida hoje em dia (exatamente como no caso do “Animal”). Em uma das
colunas, antes das descrições satíricas dos membros, o autor afirma:
De rapares e mesuras, tenho esgotado o espaço e se vou assim ternura, o que eu
quero não faço, portanto... lá vai do saco! (o fim só é um: brincar!) não vale dar o
cavaco e muito menos zangar. Benfeitor ou contribuinte, sabido, arara ou turuna,
fundador ou mesmo ouvinte, tudo entra na borduna! (Jornal do Ameno Resedá,
1917)
Em outras palavras, não importava a hierarquia ou posição social do associado,
fosse ele “benfeitor ou contribuinte”, “arara ou turuna” (estas duas gírias parecem
indicar “boçais” ou “valentes”, respectivamente), todos (inclusive o próprio colunista)
seriam alvo da descrição satírica (ou a borduna, no dizer do autor) da coluna. O fim era
uma espécie de “riso coletivo” como afirmamos anteriormente, que se aproxima
bastante do conceito de Bakthin (1984:10-11) do riso popular: “Uma qualidade
importante do riso na festa popular é que escarnece dos próprios burladores. O povo não
se exclui do mundo em evolução”. Assim, se o riso é coletivo, “não vale dar o cavaco
ou muito menos zangar”, como afirma o colunista: todos estariam imersos no mesmo
processo.
À luz das informações acima as poesias que abrem o texto de Alexandre
Gonçalves Pinto adquirem nova significação. Elas introduzem, por assim dizer, o
caráter popular-carnavalesco do livro. A finalidade principal do livro é a construção da
memória do choro, mas esta só é possível através do uso destas linguagens
heteroglóssicas (que beiram por vezes o dialetal, com gírias, sátiras, e fórmulas
específicas de oralidade) que faziam parte do universo dos leitores do “Animal”.
Diversas das crônicas que Pinto apresenta em seu livro dir-se-iam tiradas das colunas
107
satíricas do jornal do Ameno Resedá: algumas delas até se confundem realmente.
Reutilizo aqui o conceito de dialogismo: embora tenha escrito seu livro também para
que a “posteridade” não olvidasse aquela “plêiade de chorões” (275), Gonçalves Pinto
escreve também para um público específico, o grupo de chorões que ainda permanecia
vivo e que falavam uma linguagem comum: a língua satírica e popular presente não
apenas nos jornais dos ranchos, mas nos folhetins e revistas populares e no cotidiano
geral. De certa forma, ao escrever seu texto povoado de gírias, sátiras e fórmulas de
oralidade ele antevê a leitura e o riso de seus pares, assim como o colunista satírico do
jornal do Ameno Resedá antevia o riso dos que o leriam. E, não por acaso, os dois
poemas de Max-Mar colocados na abertura do livro funcionavam como uma forma de
identificação imediata desta linguagem para estes leitores específicos.
Continuemos nossa análise da estrutura do livro: logo após os dois poemas
temos o “Prefácio”. Aqui importa notar mais uma vez a questão da linguagem: ao
receber a recusa de Catulo, Gonçalves Pinto vê-se na contingência de ter que redigi-lo, e
nosso desafio é tentar imaginar em que modelo nosso carteiro se baseou para realizar
esta tarefa. Porque o que se percebe é que a linguagem utilizada em parte do prefácio é
diferente da usada no resto do livro: nota-se uma tentativa de intertextualidade com
conceitos pertencentes a um universo “erudito”, que surgem muitas vezes sem qualquer
conexão com o que será apresentado ao longo do livro – talvez pelo fato de que para o
carteiro o prefácio deveria ser algo mais “formal”, daí outra razão para que ele tivesse
convidado originalmente o “erudito” Catulo para a tarefa. Detenhamo-nos agora na sua
análise. Cumpre de início entender que o prefácio pode ser dividido em duas partes: o
primeiro parágrafo, que é praticamente uma justificativa ao leitor pelo que Alexandre,
certamente já influenciado pelas críticas de Catulo, considera o caráter “despretensioso”
da obra: “cada um escreve o que pode ou o que sabe”. Ao mesmo tempo ele tenta
108
cooptar o leitor para que este entenda o “ambiente agradável e espontâneo” com que a
obra foi escrita:
Ao dar publicidade a um livro encontramo-nos sempre na duvida de um facto
auspicioso para os leitores, emfim cada um escreve o que póde ou o que sabe. Estas
linhas não tem a pretenção de mostrar erudição nem é commercial nem expositiva;
é tão simplesmente em linguagem dispretenciosa, ao alcance de todas as
Intelligencias, assim como da pessoa que escreveu que communga no mesmo
credo, escrevendo de bôa fé, se sentindo num ambiente agradavel, expontaneo, não
tendo ao menos a intenção de instruir, quer seja para o bem ou para o mal. (9)
A partir daí, entretanto, a linguagem muda e o que se tem é uma verdadeira
miscelânea de conceitos e ideias:
Factos occoridos de 1870 para cá. São chronicas do que se respirava no Rio de
Janeiro neste periodo desde o tempo do João Minhoca, da Lanterna Mágica do
Chafariz do Lagarto, dos Guardas Urbanos, dos pedrestes até hoje, com as policias
mais adeantadas actualmente, o autor só teve por fito recordar, que é um novo sentir
e tornar a viver conforme a phrase do poeta, trazendo ao scenario do ambiente
actual a comparação do que foi e do que é actualmente, a Maria Cachucha,
Moquécas Bahianas e os Trinta Botões do theatro antigo até a Cidade Maravilhosa
de hoje, assim como são comparadas as religiões, as sciencias e o credo politico;
são comparados os costumes na vida dos pobres de accôrdo com a evolução,
tivemos por tradição os costumes bahianos que foram trazidos da Africa pelos
nossos queridos antepassados e firmaram os costumes no Brasil, naquilo que é
nosso e que aqui guardamos com a maior veneração dentro de nossos corações. (9)
Como se nota, este trecho apresenta somente duas frases: uma muito curta
(que define todo o tempo histórico do livro: “de 1870 para cá” ou seja de 1870 a 1936) e
outra enorme, com um verdadeiro novelo de citações embaralhadas, que incluem
referências a lugares, fatos culturais da época e conceitos difusos sobre origens,
nacionalidade e evolução. Tentaremos agora desvendar este novelo, começando com as
citações históricas: o “João Minhoca” era um personagem de teatro de bonecos que se
tornou muito famoso no Rio de Janeiro na década de 1880, e que inclusive é citado por
João do Rio em uma crônica na Revista Kosmos de 1905. Criado por um tipógrafo
negro chamado João Baptista, a estréia do personagem teria sido feita em um teatro
improvisado nos jardins da Cervejaria Guarda Velha, situada na rua da Guarda Velha,
atual Treze de Maio. Com o sucesso do personagem, Baptista chegou a excursionar por
109
diversas cidades do Brasil e a se apresentar para o imperador D. Pedro II: a história da
Companhia de Teatro João Minhoca foi alvo de estudo da historiadora Susanita Freire
(Freire, 2000). A “Lanterna Mágica” era um aparelho ótico, espécie de antecessor do
cinema, constituído por
uma caixa óptica de madeira, folha de ferro, cobre ou cartão, de forma cúbica,
esférica ou cilíndrica, que projeta sobre uma tela branca (tecido, parede caiada, ou
mesmo couro branco, no século XVIII), numa sala escurecida, imagens pintadas
sobre uma placa de vidro (Mannoni, Laurent. 2003 apud Miranda, 2008) .
Tal tipo de divertimento era comum na metade do século XIX principalmente
entre as classes populares, sendo freqüente sua exibição em lugares públicos, como o
citado Chafariz do Lagarto, situado na rua Frei Caneca, centro do Rio (Miranda, 2008)
Os “Trinta botões do theatro antigo” parece ser uma referência a uma peça teatral de
grande sucesso na época intitulada “Os trinta botões”, de autoria do português Eduardo
Garrido (1842-1912). A “Maria Cachucha”, ou simplesmente “cachucha” segundo a
Enciclopédia da Música Brasileira, seria uma “dança espanhola, cantada e sapateada,
que se difundiu nas cidades e vilas do Brasil desde a segunda década do século XIX”
(EMB, 2000).
Estas citações parecem ter a única função de mostrar algumas das referências
culturais do passado, em uma espécie de ambiência histórica e afetiva do Rio de Janeiro
das últimas décadas do século XIX, já que não há, ao longo do livro, qualquer outra
referência a estes mesmos fatos — João Minhoca, Maria Cachucha, etc. No entanto,
eles são aqui citados, para que, segundo o autor, fossem comparados com os tempos
atuais (a “Cidade Maravilhosa de atualmente”),
assim como são comparados as religiões, as sciencias e o credo politico; são
comparados os costumes na vida dos pobres de accôrdo com a evolução, tivemos
por tradição os costumes bahianos que foram trazidos da Africa pelos nossos
queridos antepassados e firmaram os costumes no Brasil, naquilo que é nosso e que
aqui guardamos com a maior veneração dentro de nossos corações (id., ib., grifo
meu)
110
Tal como Ginzburg em seu já citado estudo sobre o moleiro Menoccio,
poderíamos nos perguntar de onde o carteiro Alexandre Gonçalves Pinto teria tirado
estas ideias a respeito de “ancestralidade” e “origem” das tradições. A referência de
nossas tradições, segundo Pinto, seriam os “costumes baianos” que teriam sido trazidos
pelos nossos “queridos antepassados africanos”. Esta confusa relação entre Bahia e
África como “fontes” e “origens” das tradições brasileiras sem dúvida já estava presente
no imaginário popular e também nas ideias de intelectuais desde o século XIX.
Conforme demonstram Abreu e Dantas (2007), ao lado das ideias de branqueamento e
de teorias sobre a inferioridade de populações miscigenadas,
a produção de folcloristas sobre a música brasileira e a canção popular, entre o final
do século XIX e o XX, também criou um espaço que reconhecia e valorizava a
presença ativa dos descendentes de africanos na nação projetada. (...), o folclore
nacional, a poesia e a música popular, em especial, tornaram-se bandeiras de
intelectuais que investiam na descoberta e na divulgação de manifestações culturais
mestiças. Mesmo que reproduzindo algumas máximas apregoadas sobre a “raça
negra”, mesmo que investindo na certeza da transformação dos traços musicais
africanos e na escolha de determinados gêneros como os mais nacionais, não
desprezaram a contribuição dos seus descendentes para o que definiam como traço
original da cultura brasileira. (Abreu e Dantas, 2007: 129)
Tais ideias, ainda segundo a autora, não ficavam restritas ao ambiente
intelectual, mas estavam em permanentes diálogos (e também conflitos) com a cultura
das ruas — a música e a poesia populares, por exemplo —, repleta de influência de
artistas negros ou mulatos, como Anacleto de Medeiros, Eduardo das Neves, Baiano,
entre outros (id, Ib.). É neste contexto de intensa troca entre o pensamento de
folcloristas/intelectuais e os artistas urbanos que devem ser entendidas as ideias de Pinto
sobre as origens e sobre a tradição. Um exemplo muito importante que ilustra esta
relação é a citação, no livro O Choro, do escritor e intelectual Mello Moraes Filho como
um dos “personagens” ativos das rodas de choro da época, conforme assinalado por
Carvalho (2006: 27). Veremos com maior profundidade as possíveis relações de
111
intertextualidade entre as obras de Mello Moraes e o texto Gonçalves Pinto no capítulo
três.
Finalmente o leitor é apresentado ao que será o alicerce do livro: os verbetes
biográficos e temáticos que compõem a obra. São ao todo 350 “entradas” de verbetes
biográficos (sendo que em alguns casos um único verbete funciona como mote para que
o autor discorra sobre vários “biografados”) e 25 “não biográficos”. A ordem com que
estes verbetes são escritos não segue qualquer lógica aparente: o “Animal” escrevia “à
proporção que vou [ia] lembrando”, sempre reiterando que o fazia “com muita
dificuldade”, já que pelo “peso dos anos” era difícil conservar “a mesma memória de 40
anos passados” (15). Os 25 verbetes “não biográficos” têm diferentes funções: eles são
por vezes narrações de “causos” satíricos referentes às rodas de choro, escritos na
referida linguagem “carnavalesca” dos jornais dos ranchos; mencionam lugares, pontos
de encontros entre músicos, pessoas gratas ao ambiente do choro; descrevem gêneros
musicais da época; tecem informações sobre eventuais fatos políticos ou acontecimentos
relevantes da época; e finalmente indicam ideias mais amplas sobre as práticas
musicais, conceitos sobre nacionalismo etc.
Analisaremos com maior profundidade os verbetes biográficos e não
biográficos no item 2.3 (“O etnógrafo do choro”) deste capítulo. Por ora, o que nos
interessa é traçar um panorama geral da estrutura da obra, apontando para empréstimos
e influências utilizadas pelo carteiro em seu processo de escrita. A tabela abaixo nos
permite sintetizar esta estrutura:
112
Tabela 2 – Estrutura Geral do Livro
Texto
Observações
Carta de Catulo
Espécie de “chancela” escrita por uma
“personalidade” da época, apresentando
um autor praticamente anônimo
Escrito por Maximiano Martins, um dos
diretores do rancho Ameno Resedá:
escrito ao estilo das publicações do
rancho, apresenta ao leitor o caráter
popular-satírico da obra.
Idem ao anterior, reforça o caráter de
identidade que Gonçalves Pinto procurará
imprimir ao grupo de instrumentistas e
admiradores do choro
Escrito por Alexandre G. Pinto, sua
linguagem difere do resto do livro. Notase claramente uma tentativa de
intertextualidade com um universo
“erudito”: ideias sobre ancestralidade,
religião e política.
Apresentados sem qualquer ordem
aparente, seja cronológica ou outra (por
instrumentos, por exemplo).
Escrito também sob influência do estilo
folhetinesco dos periódicos dos ranchos
Perfil do Animal
Perfil dos Chorões
Prefácio
375 verbetes biográficos ou temáticos
Epílogo
Para finalizar este tópico, só nos resta analisar o epílogo do livro. Sua linguagem
também é permeada por discursos diversos: sente-se a influência da crônica jornalística
da época (principalmente a de Vagalume, conforme veremos no próximo capítulo), a
nítida presença de fórmulas e frases feitas presentes na linguagem dos periódicos dos
ranchos como o do Ameno Resedá e finalmente a procura por certo tom grandiloqüente,
certamente fruto de uma ideia pré-concebida de epílogo como algo que fazia parte da
estrutura “erudita” de um livro. Além disso, ele nos traz mais uma vez a ideia de
construção de memória, vista agora como resultado de uma “imposição divina”, não
obstante as diversas dificuldades encontradas pelo carteiro no processo de escrita:
113
Ao finalizar este livro que era os meus sonhos dourados, perpetúo estes musicistas
descritos, mal ou bem de acordo com os meus obscuros conhecimentos. Mas o que
fazer bons leitores? Agi como se fosse impulsionado por uma missão que me
parecia ser ditada pelo poder Supremo de todas as cousas, que muitas vezes faz-nos
esmorecer quando temos uma vontade unida a fé (...) Não foi fácil a minha tarefa,
lutei como um náufrago que agarrado ao batel da Esperança, luta sulcando o mar
revolto da descrença. (207)
Ora, o uso da imagem do náufrago como símbolo de superação das dificuldades
também era bastante comum nas publicações carnavalescas da época. Batel, esperança,
esforço, descrença, bonança: todos estes termos faziam parte do universo de metáforas
que estavam ligadas, na linguagem popular carnavalesca, à ideia de superação de
dificuldades em condições adversas. Compare-se, por exemplo, o trecho acima com um
soneto publicado no jornal do rancho Ameno Resedá de 1914 assinado por Lord
Colibri:
Nautas do mar ao porto da esperança
Marchamos no batel do esforço e do labor
Que importa que nem sempre olhemos a bonança
Se temos sempre o riso a mitigar a dor
De sorte o vento atroz, de todo não nos cansa
Nem mesmo o mais horrendo espectro do terror
No peito temos fé porque a nossa Águia alcança
O vôo mais veloz, mais alto do que o Condor
Devemos resistir a vaga resoluta
Que impele a mocidade às plagas do descrer
Avante pois amigo! Irmão da mesma luta
Que importa a mágoa a nós. Cumpramos o dever
De Momo aí está, feliz, a festa alegre e astuta
Heia! Tristeza fora! Sigamos pra vencer! (Jornal Ameno Resedá, 1914)
O fator mais importante a ser ressaltado em nossa análise sobre o epílogo,
entretanto, é o caráter de missão do livro, que o autor identifica agora como uma
114
imposição “ditada pelo Ser Supremo”. Como apontado no primeiro capítulo, um dos
desafios desta tese é o de tentar “ouvir” as vozes que emergem do texto de Gonçalves
Pinto e, na medida do possível, tentar extrair de seu texto o maior número de respostas
às questões que me surgiam à medida que o trabalho avançava. Neste sentido, o epílogo
da obra é precioso, por nos fornecer elementos chaves que nos auxiliam a responder a
uma questão fundamental: o que levou o carteiro a escrever este livro?
O epílogo é um dos poucos trechos do livro em que o autor não é porta voz de
outros personagens; sua função agora é não mais a de descrever e fazer ressoar as vozes
de seus biografados, mas a de refletir sobre o ato, as dificuldades e as funções de sua
escrita. As dificuldades são muitas e Gonçalves Pinto está cônscio de ter escrito “um
livro pobre de literatura, cheio de erros gramaticais” (207), que o fazem sentir “como
um náufrago”, na linguagem popular dos periódicos dos ranchos. Apesar disso, entrevêse o prazer da escrita, que o faz criar em seu cérebro “extraordinarios castellos de
fantasias que com o correr dos tempos se desmoronavam como as bolhas de sabão”
(idem); estes castelos de memória, “ricos na extensão da palavra”, apesar da não
utilização da norma culta, tinham o poder de fazer “ressurgir das trevas uma grande
parte das celebridades que dormiam no esquecimento”. Esquecimento que não era
apenas decorrente da passagem do tempo, mas também do fato de que a maior parte
destas “celebridades” era praticamente anônima: Leopoldo Pé-de-Mesa, Benigno
Lustrador, Gonzaga da E.F.C.B, Luiz Caixeirinho, e tantos outros conhecidos apenas
por seus apelidos.
Assim, é o epílogo o trecho em que ficam mais visíveis as intenções do autor: a
construção de memória
para que as gerações d'agora e futuras saibam que existiu essa grande phalange de
chorões que elevaram e inalteceram as musicas genuinamente Brasileiras, muzicas
essas que jamais poderão desapparecer dos grandes ou pequenos archivos dos bons
collecionadores
115
2.2) O “choro”, a “roda” e a “velha-guarda”
Antes de abordarmos com mais profundidade os “biografados” de nosso
carteiro, cumpre agora analisarmos de forma mais específica o conceito de “choro”
utilizado no livro. De forma geral a bibliografia (como Tinhorão 1998b) salienta o fato
de que Gonçalves Pinto designa como “choro” o agrupamento instrumental formado por
instrumentos populares que tocavam gêneros como polcas, valsas, schottichs, etc. Para
comprovar esta afirmativa realizei um fichamento de todas as aparições da palavra
“choro” ao longo do livro, e pude verificar que há na realidade pelo menos três acepções
utilizadas pelo autor para designar a palavra: 1) choro como agrupamento instrumental;
2) choro como sinônimo de festa ou do lugar físico onde se praticava esta música e 3)
choro como uma “peça” ou um “gênero” musical. As duas primeiras acepções são mais
comuns, mas a terceira também aparece de forma significativa, ao contrário do que nos
dá a entender a bibliografia. Também aparecem mais duas designações que merecem
nossa atenção: “choros moles” (12, 37,47,68, 142, 189) e “choros americanos” (194).
Como vimos, logo após o prefácio Gonçalves Pinto escreve um pequeno texto
intitulado “Os choros”. Vejamos agora o que podemos extrair do seu texto:
Quem não conhece este nome? [ou seja, “os choros”] Só mesmo quem nunca deu
naqueles tempos uma festa em casa. Hoje ainda este nome não perdeu de todo o
seu prestigio, apesar de os chôros de hoje não serem como os de antigamente, pois
os verdadeiros choros eram constituidos de flauta, violões e cavaquinhos, entrando
muitas vezes o sempre lembrado ophicleide e trombone, o que constituía o
verdadeiro choro dos antigos chorões. (11)
Em todo este trecho o autor parece se referir ao choro como sinônimo de
agrupamento instrumental; ele ressalta a popularidade do termo e o fato, tão bem
apontado por Tinhorão, de que este agrupamento instrumental tinha uma função social
fundamental para as classes sociais médias-baixas da sociedade carioca da época – a de
fornecer música para festas e ocasiões especiais. A menção ao fato de que o termo choro
“ainda hoje” (ou seja, na década de 1930) não perdera “de todo o seu prestígio” sinaliza
116
que de alguma forma a “função social” cumprida por este agrupamento já não cumpria o
mesmo papel, sem dúvida pelo aparecimento de outras formas cada vez mais populares
de diversão, como o disco e o rádio. Ressalta-se também no trecho a questão da
instrumentação: os “verdadeiros choros” eram constituídos de flauta (que cumpria a
função melódica), violão e cavaquinho (que cumpriam as funções rítmicas e
harmônicas); trombone e oficleide, que entravam com a função de fornecer os
contracantos graves tão característicos do choro (função que posteriormente, a partir da
década de 1950 passaria ao violão de sete cordas).
Ao lado da utilização do termo como sinônimo de agrupamento instrumental,
abundam no livro citações do mesmo como sinônimo de festas ou de lugares onde esta
música se dava. Assim, “Pedrinho [o flautista Pedro Galdino] raras vezes dizia não aos
seus camaradas fosse onde fosse o choro” (20); o também flautista Jupyaçara “apesar
dos seus janeiros ainda não deixa de ir ás festas, chôros e reuniões de amigos com a
sua linda flauta toda de prata” (23). Guilherme Dias, na sua flauta, “sabia dizer o que
sentia e assim tocamos muito nestes chôros na cidade nova e no morro do Pinto” (29);
Léo Vianna, irmão de Pixinguinha dava “choros em sua casa” que eram de “arrepiar os
cabelos” (44).
Junto com estas duas acepções aparece uma terceira: “choro” como sinônimo
de uma “peça” ou “gênero” musical. Assim, “nenhum dos antigos musicos escreveu
tanta quantidade de chôros como Candinho Silva tem escripto” (16); Bacury era “flauta
respeitado da antiguidade, grande compositor de Chôros” (23); “Callado não era só
músico para tocar de primeira vista, como também para compor qualquer chôro de
improviso (12); “a belleza e os sentimentos dos chôros que elle escreveu [refere-se ao
flautista Juca Kallut], com arte e bom gosto que tinha pela musica, muito o elevaram no
conceito de outros grandes músicos e professores”; [sobre Chiquinha Gonzaga]
117
“Quando pedia-se para tocar um chôro, não se fazia de rogada” (42); “Lá pelas tantas
da madrugada depois de muitos chôros tocar, puzemos a cantar modinhas” (26)
Sobre esta última acepção o questionamento que se impõe é: a designação
“choro” como sinônimo de “peça” ou “gênero” musical seria uma característica da
década de 1930 que o carteiro estaria usando retrospectivamente para descrever
situações mais antigas? Em outras palavras, o fato de Gonçalves Pinto afirmar que
Callado compunha “choros de improviso” indica que o próprio designava assim suas
composições ou trata-se de uma apropriação do termo pelo carteiro? Ora, sabemos pela
análise de cadernos manuscritos de partituras de fins do século XIX e inícios do XX que
as composições dos chorões mais antigos eram designadas como polcas, schottischs,
valsas, mazurcas e quadrilhas. Entretanto parece razoável supormos que já se utilizava,
pelo menos desde a primeira década do século XX, o termo “choro” como designação
geral para estes gêneros originalmente europeus tocados por instrumentistas populares e
que essa tendência se acentuou a partir da década de 1920. Tal afirmativa é respaldada
pela mais antiga fonte que pude encontrar a respeito, o livro Lyra Brasileira, de Catulo
da Paixão Cearense, escrito em 1908. Na introdução do livro, ao descrever alguns dos
instrumentistas da época, o autor afirma:
Vamos agora aos acompanhadores de choros, capazes de emocionarem os mais
refratários à música, os mais gelados corações.
Não quero referir-me a eles sem falar de um excelente e soberbo solista, a quem
perdôo o crime, por abraçar fervorosamente o repertório das polcas e valsas
brasileiras, principalmente o que se diz choro. É o Manduca Catumby. Sem
contestação sola bem, conquanto seja fraco acompanhador. (Catulo, 1908, grifo
meu)
“O repertório de polcas e valsas brasileiras, principalmente o que se diz
choro”: esta afirmação de 1908 sugere que já se usava coloquialmente o termo para
abarcar as músicas tocadas pelos chorões. Este fragmento de discurso ecoa também no
texto do carteiro, como uma manifestação coloquial vinda do passado, que se confunde
118
com a tendência cada vez mais acentuada a partir das décadas de 1920 e 1930 de
nomear aquelas práticas musicais como “choro” – algo que será utilizado de forma
corriqueira pela indústria do disco.
Estas três acepções por vezes se misturam em uma mesma frase do texto de
Gonçalves Pinto. Ao descrever o flautista Alberto Martins, por exemplo, ele afirma:
“No choro em que às vezes toca encanta com a sua melodia, dando o maior prazer aos
circunstantes. Conhece todos os chôros dos seus collegas musicos como elle antigos e
modernos” (40). Na primeira frase o termo “choro” se refere aos lugares ou às festas
onde o flautista tocava; na segunda o termo designa as peças musicais que compunham
seu repertório. Da mesma forma, sobre o chorão Olavo Pinheiro, que residia em Niterói
com seu pai, Gonçalves Pinto afirma: “O seu pae era um distincto advogado, que dava
em sua casa chôros agradabilíssimos. Indo daqui da Capital, o competente chôro, que
eram: Henriquinho, de flautim; Lica, de bombardão (...)”. Na primeira frase “dar choros
em casa” significava “dar festas” onde a música do choro era tocada. Na segunda frase,
o “competente choro” era o grupo instrumental responsável pela música, formado, no
caso por Henriquinho, Lica e outros músicos.
Por vezes aparecem as designações “choros moles”, como na citação abaixo:
Tambem foram grandes flautas nesta época os irmãos Marreco e Jorge, que faziam
suas serenatas em São Christovão quasi sempre na Quinta Imperial, em casa de
Maria Prata, que dava pagodes quasi todas as semanas alegrando os seus habitantes
com os chôros moles deste tempo (12).
O que seriam estes “choros moles”? Trata-se de mais um fragmento de
oralidade da época que temos que tentar desvendar. Aparentemente o termo “mole”
indicava uma ocasião festiva do choro onde a música era particularmente
“malemolente” ou propícia aos requebros da dança. Veja-se por exemplo, este outro
trecho com a descrição do flautista Benedito Bahia:
119
quasi todo Botafogo conhece-o como chorão de facto, pois quando melodiava na
sua flauta naquelles choros molles que é commum nelle, as mulatas ficavam todas
dengosas, dizendo bravo, seu Bahia (37, grifo meu)
Ou ainda esta descrição do “Alma de Maçon”, espécie de “penetra” das festas
do choro:
Em uma occasião, [Alma de Maçon] foi convidado para um chôro lá para as
bandas da Terra Nova, mas como era distante da cidade teve mêdo de ir sózinho, e
por sua alta recreação, convidou um penetra-mór, de sua tempera e ás paginas
tantas seguiram elles para o chôro depois de terem bebericado bastante. Quando
chegaram, o baile estava molle, em ponto de bala (68, grifo meu)
A indicação de que o baile estava “mole”, portanto indicava que o mesmo
estaria no ápice, em seu momento de maior animação. Finalmente, temos no texto uma
única e estranha citação ao termo “choros americanos”. Ao descrever o saxofonista
Ricardo de Almeida, presença constante nas “Sociedades Musicais e dançantes” do Rio
de Janeiro, Gonçalves Pinto afirma: “toca muitos choros americanos e também os
nossos com grande facilidade” (194). Estaria o carteiro se referindo ao repertório típico
do “jazz-band” ao citar os “choros americanos”? É difícil precisar com exatidão. De
toda a forma, nosso objetivo ao realizar este fichamento das diferentes acepções e
situações em que a palavra “choro” é utilizada no texto de Gonçalves Pinto é menos o
de tentar cercear definições “fechadas” do termo e mais o de procurar compreender de
que forma discursos sobre práticas sonoras e práticas sociais se interrelacionam e se
constituem como entidades indissociáveis em perpétua produção de significados
(Middleton, 1990).
Um outro termo importante a ser analisado, e que, tal como o “choro” também
pode ser considerado “polifônico” é o conceito de “roda”. Para tal realizamos mais uma
vez um fichamento extensivo das situações em que a palavra aparece no livro e suas
acepções. Cumpre de início uma explicação: o termo “roda de choro” é utilizado nos
120
dias atuais para designar o momento de encontro dos instrumentistas de choro: ir para a
“roda de choro”, portanto, significa ir para o lugar onde os músicos se reunirão para
praticar esta música. Ora, vimos que, nos tempos de Gonçalves Pinto, a própria palavra
“choro” servia para designar também o lugar onde este encontro se daria. Assim,
veremos que, na maioria dos casos, o termo “roda” é utilizado no livro com um viés
diferente do atual.
A palavra “roda” aparece 39 vezes ao longo do livro, e na maior parte dos
casos (34 ocorrências) ela é utilizada para se referir à comunidade dos instrumentistas e
não ao lugar onde tocavam. Desta forma, o que aparece com muito mais freqüência é a
menção à “roda dos chorões” (ou “roda dos tocadores”), como forma de designação
da(s) comunidade(s) de músicos. Assim, Geraldo dos Santos era um “imensurável
flauta”, “conhecido na roda dos chorões por ‘Bico de Ferro’" (19). Quintiliano Pinto,
irmão de Alexandre, era um chorão “de nome na roda dos que tocavam ou não”. Lulu
Cavaquinho “foi da turma dos bons, ainda hoje o seu nome é lembrado e commentado
na roda dos chorões” (158). Reforce-se aqui a ideia de identidade entre o grupo de
instrumentistas do choro e o fato de que para Gonçalves Pinto e seus contemporâneos,
esta identidade estava diretamente ligada a uma espécie de “dinastia” e
“tradicionalidade” que provinha dos chorões da “velha-guarda”. Embora tenhamos
afirmado que Gonçalves Pinto enumerava seus biografados sem nenhuma ordem
aparente, é bastante nítido que a escolha de Callado como primeiro “retratado” do livro
foi intencional, já que este personificava a “ancestralidade” dos instrumentistas: Callado
é visto como uma espécie de “pai” dos flautistas, conforme já assinalamos. Da mesma
forma, um nome “ilustre” (mesmo para o leitor de meados da década de 1930) como
Pixinguinha é descrito mais em função de seu pai, o também flautista Afredo da Rocha
121
Vianna, do que de seus próprios feitos: “é um filho que sabe honrar a tradição de seu
pae no circulo dos Chorões” (Pinto, 22).
Desta forma, o termo “roda” era utilizado como sinônimo da comunidade de
instrumentistas e apreciadores do choro. Esta comunidade, segundo o discurso do
carteiro, estava ligada através de um senso de identidade fornecido por determinadas
práticas sonoras e sociais e também por um passado, uma tradição em comum: assim,
há no texto uma grande ênfase aos instrumentistas nominados como pertencentes à
“velha-guarda”. Já mencionamos este termo anteriormente neste capítulo e cumpre
agora analisá-lo com maior profundidade.
Qual a origem da expressão “velha-guarda”? O radialista Almirante, na estréia
de seu programa intitulado justamente “O Pessoal da Velha Guarda”, assim explica a
origem do termo:
Sei que muitos de vocês andaram fazendo conjecturas sobre o que poderia eu vir a
apresentar com esse título. É uma coisa muito simples: a expressão “velha guarda”
que é, pode-se dizer, tradicional, no Brasil, indica imediatamente que aqui serão
tratadas coisas dos tempos passados. É lógico. A expressão, porém, tem uma
origem curiosa: ela – vê-se logo – é a inversão de um nome que foi muito popular
nesta cidade há muitos e muitos anos: Guarda Velha. Guarda Velha foi o antigo
nome da atual rua 13 de Maio. Antigamente, aquela rua vinha até a esquina da rua
de São José. E justamente ali, na esquina, onde hoje existe um refúgio triangular
onde os passageiros da Tijuca têm um ponto de ônibus, havia um quartel, instalado
no tempo da Bobadela. Era o quartel onde ficava a guarda encarregada de manter a
ordem entre os escravos e galós que iam buscar água no famoso chafariz da
Carioca, que era defronte. Aquele quartel se chamava Guarda Velha. Com o tempo,
o título foi se invertendo, passando a designar coisas do passado. E, curiosamente,
foi-se chegando aos assuntos musicais, especialmente àqueles que tratavam da
nossa música popular e dos seus intérpretes, cantores ou instrumentistas (apud
Anna Paes, 2010)
O livro de Gonçalves Pinto nos dá outro dado que de certa forma complementa
as informações de Almirante: nas variadas e fartas descrições de festas e banquetes tão
presentes ao longo do livro, o carteiro nos fala da popularidade de uma cerveja
intitulada Guarda-Velha. Provavelmente surgida na década de 1870, a cerveja era
122
fabricada justamente na rua da Guarda-Velha3 e tinha como proprietário um certo
Bartholomeu Correa da Silva. Se a expressão ganhou popularidade devido ao nome da
rua, do quartel ou da cerveja é coisa que não podemos aferir com total certeza: de toda a
forma, como diz Almirante, sua inversão (“velha-guarda”) passou a ser utilizada para
designar acontecimentos ou personagens musicais do passado.
Ora, o termo “velha-guarda” tem uma importância capital no livro de
Gonçalves Pinto, e já aparece, como vimos, no subtítulo, onde o autor explicita que a
obra conteria “o perfil de todos os chorões da velha-guarda e grande parte dos chorões
de agora”. Mais uma vez recorremos a um trabalho de fichamento extensivo para
identificarmos em que acepções o carteiro se utiliza do termo e o resultado nos mostra
duas utilizações básicas: a primeira seria para nominar todos aqueles instrumentistas de
gerações anteriores a Gonçalves Pinto, muitos dos quais ele não conheceu, mas cuja
memória permanecia viva. É o caso de Callado, como vimos no primeiro capítulo, e de
outros flautistas igualmente “famosos” por suas composições: Viriato Figueira da Silva,
Capitão Rangel, entre outros. Boa parte destes instrumentistas já havia falecido no
começo do século XX, embora suas composições ainda circulassem no meio dos
instrumentistas de choro (conforme veremos com mais detalhes no capítulo quatro).
A segunda utilização do termo “velha-guarda” servia para designar os
instrumentistas da geração do próprio Animal (ou um pouco mais velhos do que ele
apenas), que, assim como ele, estavam no final da vida em meados da década de 1930.
Em alguns casos nem o próprio autor sabia se os biografados ainda viviam: [Sobre o
flautista Porto Cascata] “Qual o chorão da Velha Guarda, que o não conheceu ? (...) A
muito não o vejo, nem noticia tenho, não sabendo se será vivo ou não” [Pinto, 39];
3
O Almanak Laemmert de 1873 trazia a seguinte observação: “A Fábrica de Cerveja Guarda Velha, de
Bartholomeu Correa da Silva, situada na Rua da Guarda Velha junto ao Circo Olímpico, passa a ter como
responsável Joaquim José Rodrigues Machado” (fonte: http://www.crl.edu/content/almanak2.htm.
Consulta realizada em 2 de outubro de 2009)
123
[Sobre Aníbal, professor, músico, amigo de Mello Morais e ensaiador do bumba-meuboi organizado por este]: “Tambem grande professor de musica. Não sei se ainda vive
pois a muitos annos que não tenho delle noticias” (89). Há casos em que as duas
acepções estão reunidas em um só biografado: Benigno Lustrador, por exemplo, era
violonista e lustrador de móveis: fora acompanhador de Callado e Viriato e ainda vivia
em 1936, segundo a indicação do autor (44).
Esta categorização, entretanto, deve ser relativizada em muitos casos: de forma
geral o carteiro não se preocupa em estabelecer cronologias nem muito menos em fixar
datas. Assim, para a maior parte dos biografados listados como pertencentes a “velha
guarda” é impossível estabelecermos com precisão suas datas de nascimento e morte.
Mais importante do que a cronologia, entretanto, parece ser o fato de que, mais do que
uma referência a idade, o estabelecimento da categoria “velha-guarda” fazia parte de um
processo de historicização e mesmo de canonização dos membros do grupo.
2.3) O etnógrafo do choro
Cumpre agora nos deteremos na análise dos verbetes biográficos e não
biográficos que constituem, como apontamos anteriormente, o cerne da obra de
Gonçalves Pinto. Para isso nos valeremos em grande parte do fichamento elaborado por
Jacob do Bandolim, visto superficialmente no primeiro capítulo. O objetivo principal é
identificar de que forma o livro pode ser lido como um discurso etnográfico: partindo-se
da premissa de que a etnografia musical não se estabelece necessariamente através de
perspectivas teóricas, mas por uma abordagem descritiva que “vai além da transcrição
musical dos sons para uma escrita de como os sons são concebidos, gerados, apreciados
e influenciam outros indivíduos, grupos e processos sociais e musicais” (Seeger,
124
1992:89), como visto no primeiro capítulo, procuraremos entender de que forma o
discurso aparentemente fragmentado de Gonçalves Pinto “reflete” diversas visões de
mundo da época. Ao retratar cerca de quatrocentos “personagens” da época, o autor não
só nos apresenta uma descrição pormenorizada de como as práticas sonoras estavam
imbricadas nas teias de relações sociais (e ao mesmo tempo eram responsáveis por elas),
como nos apresenta uma diversidade de discursos, fragmentos de concepções de época,
gírias, fórmulas de oralidades, enfim, um verdadeiro caleidoscópio que, a nosso ver, só
pode ser lida a partir de uma perspectiva polifônica.
Comecemos nossa análise desta etnografia pelo fichamento elaborado por
Jacob do Bandolim: ele servirá como ponto de partida para que possamos ter uma visão
ampla deste mosaico etnográfico. Partiremos de aspectos gerais: vimos anteriormente
que há cerca de quatrocentos nomes citados ao longo do livro: são em sua maioria
instrumentistas, mas também apreciadores e “personagens” do ambiente do choro. Boa
parte é citada apenas pelo apelido: Benigno Lustrador, Capitão Braguinha, Leopoldo
Pé-de-Mesa, Gonzaga da E.F.C.B., Arthur Virou Bode. Estes são em sua maioria
instrumentistas das classes populares e o mais provável é que nem o próprio Alexandre
soubesse seus nomes completos. Por outro lado, “personalidades” das classes mais altas
(intelectuais, músicos famosos, políticos e até mesmo nobres) são citadas pelo
sobrenome ou pelo título: Mello Moraes, Villa-Lobos, Visconde de Ouro Preto,
Floriano Peixoto, etc.
Destes quatrocentos nomes, cerca de cento e setenta tem a profissão
identificada pelo carteiro. São em sua maioria baixos funcionários públicos como já
indicado por Tinhorão (1998b). As duas tabelas abaixo, extraídas do fichamento de
Jacob do Bandolim, nos mostram com precisão este “painel profissional” dos
biografados do livro. A tabela três lista os locais de trabalho, em sua maioria instâncias
125
públicas como repartições federais (Correios, Telégrafos, Ministérios, Casa da Moeda,
etc.) e forças armadas, mas também aparecem, em número bem menor, entidades
particulares como fábricas e jornais.
Tabela 3: Locais de Trabalho (extraído do Fichamento de Jacob do Bandolim)
Alfândega
Ademar Vieira - violão
Antonio Grey - violão
Braguinha (Capitão Braguinha) - flauta
Gaudêncio “Carne Ensopada”
Idomineu Reis
João Ripper – cavaco, violão
Luiz Brandão – cavaco, canto, violão
Machadinho (Machado Breguedim) flauta
Olavo Pinheiro - violão
Pimenta - bombardão
Raimundo - flauta
Arsenal de Guerra
Cecílio – flautim, flauta
João Salgado – flauta, oficleide, fagote
Santos Bocot – regente, requinta
Vitor Vale - piston
Arsenal de Marinha
Antenor de Oliveira – canto, violão, poeta
Barnabé Guiomar Bois - canto
Gonzaga da Hora (Luiz)- bombardão
João dos Santos - clarinete
Luiz Brandão – cavaco, canto, violão
Brigada Policial
Camargo - flauta
Casa da Moeda
Alvaro Nunes - canto
Henrique - cavaquinho
Jorge Seixas – violão - bando
José Bahianinho - clarinete
Comissão Rondon
São João – canto, violão
Corpo de Marinheiros
Malaquias - clarinete
Correios
Alberto Martins – flauta, sax
Angelo Pinto – violão, canto
Animal – violão, cavaco, canto
Artur Fluminense - flauta
126
Artur Martins - clarinete
Binoca (Sabino Malaquias de Siqueira) –
violão, canto, trombone
Capitão Alamiro Cabral - violão
Carlinhos - flauta
Chico Borges – violão, cavaco
Deodato Mata - trombone
Desidério Pinto Machado – violão, canto
Estanislau Costa - piston
Ferreira Dias “Sinfonia” - violino
Geraldo dos Santos “Bico de Ferro” flauta
Guilherme Candido Dias - flauta
Heitor Ribeiro - violão
Hernandes de Figueiredo - violão
Horacio Theberge – violão, canto
Ismael Brasil “Banza” – trombone,
bombardino
João Bruno - flauta
João Hilário Xavier - flauta
João Salgado – flauta, oficleide e fagote
Josino Facão - oficleide
Juca Kallut - flauta
Leonardo de Menezes - canto
Lobinho (Carlos de Souza Lobo) - piano
Luiz Brandão – cavaco, canto, violão
Mondego – bombardino, regente
Olegário - flauta
Olimpio de Oliveira “Conde de
Leopoldina” – canto, violão
Oscar de Almeida – violão, canto, poeta
Paula Freire – clarinete, contramestre
Paulo Esteves – flauta, oficleide
Pedro Itaboraí - violão
Porto Cascata - flauta
Quincas Freire - canto
Ricardo de Almeida - sax
Salustiano - trombone
Salvador Marins - flauta
Verçoza – violão, canto
Vicente Sabonete – violão, canto, ocarina
EFCB
Benildo
Costinha - piano
Escobar – piano, declamador
Gonzaga (carregador) – oficleide, piston
Guerra – canto, violão
João Lima - canto
João Tomaz – violão, canto
127
José Celestino - violão
Luiz Brandão – cavaco, canto, violão
Samuel Leite – violão, canto
Sátiro Bilhar – violão, piano, canto
Uriel Lourival “Casa Cheia” – canto,
poesia
Veloso – violão, canto
Venancinho - flauta
Fábrica de Tecidos Vila Isabel
Macario - requinta
Pedrinho (Pedro Galdino) - flauta
Fazenda
Caninha (José Morais) – canto, violão
Frederico Rocha - canto
Guilherme “Manguinho” - canto
Honório - flauta
Leite Alves - flauta
Romeu – violão, canto
Guarda Nacional
Braguinha (Capitão Braguinha)- flauta
Coelho Grey – sax, violão, regente
Raimundo Conceição – violão
Imprensa Nacional
Alma de Maçon
André Corrêa “Periquito” – clarinete, sax
Bahia - canto
Lúcio Reis - canto
Jornal do Comércio
Bilu (Elpídio Borges) – violão, canto
Chico Careca (Francisco Galvão) –
trombone, oboé
Justiça
Carneiro - violão
João Pinheiro “Zinho” - flauta
João dos Santos – canto, violão, poeta
Olegário - flauta
Light
Crispim - Oficleide
Juca Tenente - flauta
Loló - Flauta
Marinha
Tomazinho - flauta
Ministério da Agricultura
José Cavaquinho (José Rabelo da Silva) –
cavaco, flauta, violão
Ministério da Guerra
Suntum Alves - oficleide
Oeste (?)
Camas - canto
128
Polícia
Henrique Rosa “Casaquinha” - violão
José Conceição - violão
Macário - requinta
Nenê Mário – violão, cavaco, canto
Prefeitura
Bacury - flauta
Cabral - violão
Carlos Espíndola - flauta
Coelho Grey – sax, violão, regente
Eduardo de Castro – violão
Gracinha – canto, violão
João Carlos Cabral
Narciso Gomes Barcelos – violão, cavaco
Neco – violão, canto
Paulino - canto
Quincas Laranjeiras - violão
Torres - oficleide
Saúde Pública
Agenor - flauta
Telégrafos
Antonico - oficleide
Chico Borges – violão, cavaco
Chico Neto – bandolim, violão, violino,
cavaco
Cícero Teles de Menezes - flauta
Ismael Brail “Banza” – trombone,
bombardino
Madeira - flauta
Menezes – cavaco, violão
Souto
Teotônio Machado - oficleide
Tribunal de Contas
Ademar Vieira - violão
Do total de cento e trinta e sete nomes arrolados, a grande maioria4 – cento e
dez – pertencia a órgãos públicos (Alfândega, Casa da Moeda, Correios, EFCB,
Fazenda, Imprensa Nacional, Justiça, Ministério da Agricultura, Ministério da Guerra,
4
Em números exatos temos 11 funcionários da Alfândega, 4 do Arsenal de Guerra, 5 do Arsenal da
Marinha, 1da Brigada Policial, 4 da Casa da Moeda, 1 da Comissão Rondon, 1 do Corpo de Marinheiros,
41 dos Correios, 14 da EFCB, 2 da Fábrica de Tecidos Vila Isabel, 6 da Fazenda, 3 da Guarda Nacional, 4
da Imprensa Nacional, 2 do Jornal do Commércio, 4 da Justiça, 3 da Light, 1 da Marinha, 1 do Ministério
da Agricultura, 1do Ministério da Guerra, 1 do Oeste, 4 da Polícia, 12 da Prefeitura, 1 da Saúde Pública, 9
dos Telégrafos, 1 do Tribunal de Contas.
129
Prefeitura, Saúde Pública, Telégrafos e Tribunal de Contas). Destas, os Correios
aparecem com o maior número de funcionários, fato natural quando se leva em conta
que o autor do livro era ele mesmo um carteiro. As Forças Armadas (Marinha, Exército,
Guarda Nacional) respondiam por dezenove listados e instâncias particulares
empregavam sete nomes (Fábrica de Tecidos Vila Isabel, Jornal do Commércio, Light).
Note-se que na lista não aparecem músicos por profissão: estes eram em sua maioria
ligados a bandas militares e no fichamento elaborado por Jacob do Bandolim foram alvo
de uma categoria à parte:
Tabela 4: Músicos Militares (Extraído do Fichamento de Jacob do Bandolim)
Arsenal da Guerra
João Salgado – flauta, oficleide, fagote
João dos Santos - clarinete
Justiniano - flauta
Santos Bocot – regente, requinta
Brigada Policial
Camargo - flauta
Major Rocha – oficleide e regente
Pedro da Mota - bombardino
Corpo de Bombeiros
Anacleto de Medeiros – sax, mestre
Carramona – piston – c/ mestre, 2º tenente
Geraldino - bombardino
Irineu de Almeida – bombardino,
oficleide, trombone, regente
Irineu Pianinho - flauta
João Mulatinho – bombardino – c/ mestre
Lica – bombardão, flauta
Luiz de Souza – piston, regente
Nhonhô Soares - bombardino
Pedro Augusto – clarinete, contramestre
Tuti – pratos, violão, bandolim
Corpo de Fuzileiros Navais
Gonzaga da Hora - bombardão
Corpo de Marinheiros
Malaquias - bombardão
Corpo Militar de Polícia da Corte
Godinho – flautim, mestre Alferes
Major Rocha – oficleide- mestre
130
Corpo Policial da Província do Rio de
Janeiro
Damasio Porcino de Oliveira
Gil
João Elias da Cunha
Juca Marques
Juca Rezende
7ª infantaria
Salustiano – 1º trombone
10ª infantaria
Paula Freire – contramestre, clarinete
23ª infantaria
Luiz de Souza – piston, regente
Quando se comparam as tabelas 3 e 4 vê-se que a maior parte dos listados na
primeira tocava instrumentos que não pertenciam, via de regra, às bandas militares,
como violão, cavaquinho e flauta (esta última era na maioria das vezes preterida pelo
flautim nas bandas). Finalmente, nosso “painel” das profissões arroladas no livro se
completa com a mais uma tabela, ligada a ocupações relacionadas a profissionais
liberais diversas, como médicos, engenheiros, cocheiros, tipógrafos, etc:
Tabela 5 – Profissões (Extraída do Fichamento de Jacob do Bandolim)
Cocheiro
João Quadros
José Sinhá
Engenheiro
Júlio Barbosa
Industrial
João de Oliveira - flauta
Jornalista
Francisco Guimarãs – “Vagalume”
Médico
Francisco Magalhães
Militar
Antonio Madeira
Ernesto Pestana
Godinho
General Gasparino
131
João Flautim
Marques Porto
Major Mascarenhas
Major Rocha
Sargento Veloso
Tomazinho –f lauta
Tenente Castro
Vicente Franco
Camargo Flauta
Major Santana
Alferes Cecílio de Santana
Operários
Benigno Lustrador
Leal Careca
Lica Bombardão
Manduca de Catumbi
Menezes
Neco Violão
Pedrinho
Pedro da Harmônica
Raimundo Conceição
Raul Flautim
Videira
João dos Santos - clarineta
Antenor de Oliveira
João de Brito
José Celestio
Benildo
Palhaço
Júlio de Assunção
Polidoro
Tipógrafo
João Capelani
João Carlos Cabral
O que se pode tirar destas listagens? Em primeiro lugar é preciso relativizá-las:
obviamente não podemos considerá-las como resultado de um censo formal da época.
Todas as tabelas derivam de uma “rede” específica: a de amigos, colegas ou simples
conhecidos de Alexandre Gonçalves Pinto. Assim, é claro que se há mais carteiros
citados entre os funcionários públicos isto se deve mais ao fato de ser ele mesmo um
carteiro do que à constatação haveria mais instrumentistas entre esta classe e não nas
outras. Apesar disso, quando consideramos as listagens sob este prisma específico – a
132
de um retrato de uma “rede social” estabelecida por um carteiro das primeiras décadas
do século XX – elas adquirem outro peso e creio que podemos utilizá-las para tirar
algumas conclusões, ainda que com ressalvas. Em primeiro lugar as listagens
corroboram os escritos de Tinhorão (1998a e b) ao mostrar o grande número de baixos
funcionários públicos que eram também instrumentistas; por outro lado elas também
nos mostram um número não desprezível (embora muito menor proporcionalmente aos
funcionários públicos) de operários-músicos: muitos deles eram apontados como
mestres de seus instrumentos. Videira, por exemplo, cigarreiro de uma tabacaria da rua
do Ouvidor, foi um dos mestres de Alexandre Gonçalves Pinto (veremos com mais
detalhes as relações de mestre e discípulo no quarto capítulo); Benigno Lustrador, que
como o nome indica era lustrador de móveis, era um “eximio acompanhador de violão”
da “velha guarda”, sendo um dos acompanhadores mais freqüentes de Callado, como já
visto. Este também era o caso de Leal Careca, sapateiro e oficleidista residente no bairro
de Estácio de Sá, “amigo e companheiro de Callado, Videira, Luizinho” e outros nomes
da “velha guarda”. Manduca do Catumby, violonista que trabalhava em uma litografia
na rua da Assembléia, notabilizou-se como “chorão solista”: além disso usava a
“cabeleira partida ao meio e a tradicional sobrecasaca” bem como vários anéis de latão
nos dedos, de modo que quando tocava “chamava a attenção dos assistentes pelo brilho
das pedras falsas focalizadas pelo reflexo da luz do lampeão” (53). Entretanto, talvez o
mais importante músico-operário da época tenha sido o flautista Pedro Galdino,
operário da Fábrica de Tecidos Vila Isabel: além de instrumentista foi compositor de
várias músicas de muito sucesso na época, algumas recebendo letras de
“personalidades” como Catulo e Gutemberg Cruz. Chegou a gravar na década de 1910
na Casa Edison, junto com o seu grupo intitulado “O Pessoal do Bloco”, ligado ao bloco
de carnaval de Vila Isabel.
133
Também é digno de nota que as listagens de profissão do fichamento
elaborado por Jacob do Bandolim contenham pouquíssimas referências a profissões
tidas como “nobres” como engenheiros, advogados, médicos etc. Entre estes se
encontram nomes como Júlio Barbosa, descrito como “intelectual da engenharia” e
pianista especialista nos tangos do “inesquecível Ernesto Nazareth”, bem como em
“valsas lentas de escritores alemães”; João Pinheiro, flautista e dono de uma pequena
fábrica de charutos na rua do Ouvidor “que lhe dava o necessário para viver” (89) – e
por isso classificado por Jacob do Bandolim como “industrial” – e finalmente apenas
um médico – um certo Francisco Magalhães morador de Vila Isabel – e um jornalista, o
já citado Francisco Vagalume.
Este último dado pode nos levar ao pensamento errôneo de que as práticas
musicais e sociais em torno do choro estavam restritas a camadas sociais específicas e,
por conseguinte, a determinadas regiões da cidade. Entretanto um outro tópico do
fichamento de Jacob nos permite relativizar este pensamento: a listagem dos bairros em
que os biografados moravam. Como visto no primeiro capítulo, o panorama de regiões
citadas no livro é bastante amplo, conforme se vê na tabela 6:
Tabela 6: Bairros citados no livro (Extraído do Fichamento Jacob do Bandolim)
Aldeia Campista
Agenor - flauta
João Sampaio - flauta
Juca - piston
Andaraí
João Maia – clarinete- regente
Julio de Assunção – violão – canto - palhaço
Bonsucesso
Luiz Brandão – cavaco – canto - violão
Botafogo
Ademar Casaca – violão – trombone- canto
Animal – violão –cavaco - canto
Benedito Bahia - flauta
Menezes – cavaco - violão
134
Ricardo de Almeida - sax
Salvador Marins - flauta
Catete
Ismael Brasil “Banza” – trombone – bombardino
João Bruno - flauta
Catumbi (Bairro do
Agrião)
Felipe – trombone - bombardino
Manduca do Catumbi - violão
Centro
Frutuoso - harmônio
Vicente Sabonete – violão, canto, ocarina
Videira - flauta
Cidade Nova
Geraldo dos Santos “Bico de Ferro” - flauta
Guilherme Candido Dias - flauta
Júlio Barbosa - piano
Sociedade Dansante Adamastor
Engenho de Dentro
José Celestino - violão
José Monteiro – canto, cavaco
Romeu – violão, canto
Engenho Velho
Jorge Guerreiro – violão, canto
Estácio
Alberto Leão - violão
Animal – violão- canto-cavaco
Bailly
Benildo Manoel dos Santos
Carlos Espíndola - flauta
Club Independencia Musical
Coimbra - trombone
Cupertino - flauta
Cupido (Manoel Teixeira) - flauta
Gedeão - flauta
Gelo
João Maia – clarinete - regente
João Quadros – canto, violão
José Sinhá
Juca Flauta
Juca Mãosinha – violão, canto, cavaco
Juca Mulatinho – violão, canto, cavaco
Leal Careca - oficleide
Mário do Estácio – violão, canto, cavaco
Nascimento
Nenem Mário – violão, canto, cavaco
Porfirio Lefever - bombardão
Gávea
Edgard Bulhões de Freitas - flauta
135
Henrique - flauta
Sociedade Flor da Gávea
Zé Russinho ou Zé da Gávea – violão, canto
Ilha do Governador
Julinho Ferramenta - violão
Jacarepaguá
Barão da Taquara
Juca Kallut - flauta
Capitão Alamiro Cabral - violão
Grey (Família...)
Juca Gonçalves “Bita” - flauta
Mauricio – violão, canto
Pimenta - bombardão
Jardim Botânico
Antonio Xavier – violão - viola
Chiquinho
Lapa
Eldorado
Plácida dos Santos - canto
Meier
Carneiro - violão
João Carlos Cabral
Lobinho - piano
Morro do Pinto
Juca Gonçalves “Bita” - flauta
Leopoldo Pé de Mesa - flauta
Niterói
Artur Martins - clarinete
Benedito Monte – piano, regente
Cipriano - violão
João Capelani - cavaco
João Pinheiro “Zinho” - flauta
João dos Santos – canto, violão, poeta
José Aimoré – cavaco, flauta
Juca Marques – oficleide, bombardino, regente
Justiniano - flauta
Justo Vargas - flauta
Olavo Pinheiro - violão
Salustiano - trombone
Tabacão – violão, canto
Paquetá
Anacleto de Medeiros
Freire Júnior
Hermes Fontes
Piedade
Álvaro Nunes – canto
Juca Mamede
Leandro Ferreira “Rouxinol” – canto, violão
136
Lica – bombardão, flauta
Luiz Caixeirinho - pandeiro
Manoel Viana - violão
Mário Ramos
Oscar Cabral - flauta
Tabacão – violão, canto
Praça Onze
João da Harmônica – harmônica, violão
Raimundo Conceição - violão
Ramos
Corte Real
Rocha
Machadinho (Machado Breguedim)- flauta
São Cristóvão
Candinho Ramos - violão
Desidério Pinto Machado – violão, canto
Jorge - flauta
Juca Tenente - flauta
Maria Prata
Mariquinhas Duas Covas
Marreco - flauta
Mello Morais Filho
Saúde
Juca Flauta
Tijuca
Bilau - cavaco
Gilberto - bombardino
Juca Afonso – requinta, poeta
Juca Mamede
Major Mascarenhas – canto, violão
Maria da Piedade
Marques Porto – flauta, violão, piano, órgão, canto
Loló - flauta
Paulo Vieira da Costa - flauta
Romualdo Caboclo - violão
Sociedade Dansante Carnavalesca Pragas do Egito
Sociedade Musical Santa Cecília
Todos os Santos
Zé Russinho ou Zé da Gávea
Vila Isabel
Artur Pequeno - violão
Carlinhos - flauta
Carlos Furtado – flauta, trombone
Eurico – cavaco - trombone
Francisco Magalhães
Honório - flauta
Sociedade Musical Dansante “Os Africanos”
137
No total 28 bairros (afora a cidade de Niterói), sendo 18 da zona norte da
cidade, 4 da zona sul (Botafogo, Catete, Gávea e Jardim Botânico), 1 da zona oeste
(Jacarepaguá), 4 da região central (Centro, Lapa, Cidade Nova e Praça Onze) e
finalmente a ilha de Paquetá. O bairro de Copacabana, ainda que não apareça no
fichamento, é citado duas vezes ao longo do livro como lugar onde aconteciam
esporadicamente reuniões de choro.
Há que se levar em conta dois fatores importantes nesta listagem de regiões da
cidade. O primeiro é o de que ele remete ao Rio de Janeiro do Império e das primeiras
décadas da República, quando a ocupação da cidade era diversa da que se estabeleceu a
partir da década de 1930. Assim, regiões que hoje seriam consideradas “nobres”, como,
por exemplo, o Jardim Botânico e a Gávea, eram muito pouco habitadas à época do
final do Império. Este último bairro, por exemplo, se converteria ao longo das duas
primeiras décadas do século XX em uma das regiões mais industriais do Rio pela
presença de diversas fábricas de tecido e, portanto, “de população operária mais densa”
(Gerson, 2000: 308). O segundo fator importante a ser levado em conta é o de que a
associação entre classes sociais, bairros e práticas musicais é sempre mais complexa do
que podemos supor; apesar disso este enfoque sempre fez parte da historiografia
musical da cidade e mesmo da imprensa da época. Veja-se, por exemplo, a conhecida
caricatura de Raul Pederneiras de inícios do século XX, intitulada “Dize-me o que
cantas e direi de que bairro és” (Figura 3). Três classes sociais são representadas no
desenho: na primeira vêem-se pessoas modestamente vestidas ouvindo uma mulher
cantando acompanhada de violões e cavaquinhos – este quadro corresponde ao “retrato
musical” das camadas mais modestas da população moradoras dos bairros da Gamboa,
Cidade Nova, Saúde e adjacências. Na segunda, uma mulher canta já com
acompanhamento de piano e percebe-se maior apuro nas vestimentas dos ouvintes: esta
138
seria a representação da classe média moradora de “São Cristóvão, Vila Isabel e
vizinhanças”. E finalmente a terceira representaria a elite, moradora de palacetes em
“Botafogo, Copacabana, Gávea e outras babéis”, acostumada ao trajar mais fino
(fraques e vestidos longos) e a ouvir árias de ópera cantadas em italiano.
Figura 3 – Caricatura de Raul Pederneiras
Esta abordagem que dividiria as práticas musicais de acordo com os bairros e
regiões da cidade se inicia na historiografia da música popular carioca com o próprio
trabalho de Francisco Vagalume, - que em seu livro Na roda de samba traça uma
descrição pormenorizada dos morros cariocas que seriam o “berço do samba” - e se
propaga de forma geral pela segunda metade do século XX, em estudos de variados
autores importantes como Tinhorão (1998a), Máximo e Didier (1990), e Silva e Oliveira
(1979), entre outros. Particularmente na discussão sobre as diferenças entre o samba
“amaxixado” característico das duas primeiras décadas do século XX e o “samba do
Estácio” surgido a partir de 1928, esta abordagem é utilizada por alguns textos de forma
139
bastante incisiva, calcada em uma polarização entre as práticas musicais da Cidade
Nova versus o bairro do Estácio. Máximo e Didier (1990), por exemplo, apontam o
acompanhamento do Estácio como sendo
feito basicamente por instrumentos de percussão, na maioria fabricados pelos próprios
ritmistas ou por eles inventados. Se na Cidade Nova as festas são animadas por
músicos treinados, bom tocadores de piano, flauta, clarineta, cordas e metais, no
Estácio de Sá, salvo por um ou outro violão ou cavaquinho em mãos desajeitadas, tudo
é tamborim, surdo, cuíca e pandeiro. Ou acompanhamento ainda mais rudimentar,
palmas cadenciadas ou batidas em mesas, cadeiras, copos, garrafas (apud Sandroni,
2001: 138).
Em outras palavras, a Cidade Nova estaria ligada ao samba amaxixado pelo
fato de existirem ali “músicos treinados” aptos a tocarem este gênero derivado em
grande parte da polca européia; por oposição, o Estácio de Sá não teria estes mesmos
instrumentistas e as práticas musicais ali realizadas seriam calcadas somente na
percussão e no máximo por um “violão ou cavaquinho em mãos desajeitadas”. Tal
abordagem, criticada por Sandroni (2001: 139) como reducionista, não se restringe a
este texto, e fez parte do imaginário da população desde as primeiras décadas do século
XX refletidas em textos jornalísticos e caricaturas da época5. O próprio Alexandre
Gonçalves Pinto reproduz esta abordagem ao descrever as diferenças da quadrilha
dançada em diferentes regiões da cidade, conforme veremos adiante.
Entretanto, o fichamento de seu livro nos mostra mais uma vez o quão
problemática é a associação entre práticas musicais, regiões da cidade e classes sociais
sem que se façam reflexões mais aprofundadas sobre o tema. Vemos na listagem
exemplos claros de instrumentistas identificados por ele como “chorões” moradores do
bairro do Estácio desde o início do século, o que já nos leva a questionar a polarização
5
Podemos citar como outros exemplos a caricatura de Kalixto Cordeiro datada de 1910 e retratando a
diferença entre bailes realizados em áreas “nobres” como Botafogo e “áreas populares” como a Cidade
Nova e os Folhetins de França Jr., onde o autor traz um perfil dos bailes de “primeira, segunda e terceira
classes” no Rio de Janeiro (citado por Sandroni, 2001: 69).
140
proposta por Máximo e Didier. O “Animal” indica com precisão “sociedades dançantes”
deste bairro, como o “Club Independência Musical” do qual era regente o clarinetista
João Maia e casas de chorões, como o violonista Gedeão, que funcionavam como
“verdadeiras escolas de aprendizado” de violão e cavaquinho (17).
Um outro aspecto problemático destas tentativas de “mapeamento musical”
das áreas da cidade é o de que ele não leva em conta a mobilidade das práticas musicais,
mobilidade que se mostra muito presente no livro. São freqüentes as menções a
instrumentistas que iriam a qualquer lugar em busca de um choro: [Sobre o flautista
Pedro Galdino] “Pedrinho, raras vezes dizia não aos seus camaradas fosse onde fosse o
choro” [20, grifo meu]; [Sobre Lica, tocador de bombardão] “Elle ia longe à procura de
seus companheiros de "chôro" com um bombardão velho e enzinhavrado” [55]; [Sobre
o “Alma de Maçon”]: “farejava um chôro como quem num sabbado do meiado do mez
corre atraz dos dinheiros para o ‘Boi com abobora’ do domingo” [67]. O próprio
Gonçalves Pinto nos dá alguns saborosos relatos pessoais de seus deslocamentos pela
cidade em busca dos choros. Em um deles ele já mostra a dificuldade de locomoção por
transportes públicos que sempre fez parte das mazelas dos habitantes da cidade:
Fui convidado pelo grande Professor Cupertino, para assistir um conjuncto de
chorões lá para as bandas de Agua Santa. Tomando um trem de suburbios, saltei no
Engenho de Dentro, onde esperei um omnibus para aquellas bandas. Depois de
muito esperar, emfim, chegou o tal omnibus, onde me foi impossivel embarcar, tal
o assalto da grande população que alli tambem esperava. Emfim, pacientemente
esperei outro, porque no primeiro fui completamente barrado, pisado, e com a
roupa toda amassada. Na chegada do segundo, tomei coragem, e consegui entrar,
não sem grande custo. E lá fui no tal vehiculo que cahe daqui, cahe para acolá, lá
cheguei com os orgãos internos todos soltos de seu competente lugar. [50]
As dificuldades de locomoção através do precário sistema de transportes
públicos, entretanto, não eram o único empecilho para os músicos do choro: havia
também divisões da cidade em regiões dominadas por maltas de capoeiras, à maneira de
141
“facções” criminosas ligadas ao tráfico de drogas da atualidade. Abordaremos este
tópico com mais detalhes no capítulo três.
Em que pesem as dificuldades, esta relativa mobilidade dos chorões por
diversas regiões da cidade era também de uma forma de mobilidade social: o livro
também nos mostra que os lugares de sociabilidade do choro, as festas “regadas a
comida e bebida” podiam se dar tanto em ambientes aristocráticos como as casas do
Visconde de Ouro Preto (13) e o Barão da Taquara (94-95), em ambientes ligados aos
intelectuais da época, como a casa de Mello Morais Filho (89) e finalmente em
ambientes típicos da baixa classe média da época, como as casas da mulatas Durvalina
(78) e “Mariquinhas Duas Covas” (122), figuras muitos populares pela hospitalidade e
fartura com que recebiam os chorões (“na sua casa os chorões eram aos cardumes, pois
nunca o gato estava no fogão”, ou seja, não havia falta de comida e bebida, nos diz
Pinto a respeito da casa de Mariquinhas).
Até agora, amparados pelo fichamento elaborado por Jacob do Bandolim,
vimos como informações aparentemente dispersas ao longo do livro nos apontam para
um mapeamento, ainda que relativo, das situações de sociabilidade das práticas
musicais do choro: analisamos assim como estas práticas se relacionam com aspectos da
vida profissional dos biografados e com a complexa relação entre regiões da cidade,
classes sociais e “gêneros” musicais. Cumpre agora nos determos nos próprios verbetes
biográficos, analisando com maior profundidade um aspecto sobre o qual já chamamos
a atenção ao longo do trabalho e que será agora desenvolvido: o caráter polifônico e
multifacetado com que o carteiro “dava voz” aos seus descritos.
Para isso é necessário que retornemos à questão da linguagem do livro. Vimos
no primeiro tópico deste capítulo que a construção da memória do choro passava
necessariamente pela utilização de heteroglossias – ou seja, estratificações de
142
linguagens “não-oficiais”, características de classes e situações sociais, profissões, etc.,
que a “linguagem oficial” traria em seu bojo, em uma espécie de jogo dialético.
Também no primeiro tópico vimos como a linguagem “carnavalesca-popular” dos
periódicos do rancho Ameno Resedá nos dava as chaves para o entendimento dos
sonetos que abrem o livro.
Muito mais do que a definição de dados biográficos precisos – nomes
completos, datas, etc –, que fizeram com que Ary Vasconcelos lamentasse o fato de
Gonçalves Pinto não estar “culturalmente equipado” para a tarefa que se lançou, os
verbetes biográficos escritos pelo carteiro são dominados pelos elementos expostos
acima. Sua escrita fragmentada registra oralidades, gírias, frases feitas e visões de
mundo que faziam parte da linguagem específica dos grupos sociais que se reuniam em
torno de determinadas práticas musicais populares. Sendo ele mesmo um nativo do
grupo social que descreve, estes elementos estão naturalmente colocados em sua escrita:
sendo “conhecedor de toda a gíria da cidade” como nos diz o soneto de Max-mar, os
verbetes biográficos do carteiro primam muito mais pelo registro destes elementos
heteroglóssicos do que pela procura de dados biográficos “científicos” dos personagens
descritos.
Mais uma vez há uma correspondência direta com a linguagem satírica – no
sentido bakthiniano de “riso popular” que incluía a todos, mesmo os próprios autores
das sátiras – presentes nos periódicos dos ranchos. Vimos anteriormente que um
exemplo da utilização desta linguagem – e que possivelmente serviu de inspiração para
Gonçalves Pinto – era a coluna “O Resedá na intimidade” presente em todas as edições
dos jornais a que tivemos acesso (1913, 1914, 1916, 1917 e 1920). Todas as colunas
tinham por objetivo a sátira aos membros do rancho, e são exemplos claros da utilização
143
das gírias e fórmulas de oralidade que compunham a linguagem específica desta
comunidade. Assim, a coluna de 1917 se inicia da seguinte forma:
Salve leitor amigo! Venha de lá o abraço, mais uma vez contigo, enceto a proeza
que traço, graças a padroeira do Ameno Resedá, minha pena mesureira, mais uma
prosa te dá; mas francamente leitor, com toda a sinceridade, este ano é um horror, a
tal de intimidade, por isso deves estranhar o estilo capadócio mas... não me sujeito
a apanhar e disfarço mais o negócio, porque d’esta coluna o fim é meter o pau na
negrada e quase sempre há chinfrim, quando não dá em barulho; e, no entanto aqui
não encaixo, tudo que a mente dita é mão em cima mão em baixo, como diz o Lord
Fita, logo!... castigat ridendo mores! É da língua mater o tempero, inda que no
íntimo tu cores, não deves dar desespero; mas o fim do ano passado, foi de arrelia e
de azar, ainda tem bagre arrancado, mas eu não devo contar, a indiscrição não faz
parte da lista dos meus defeitos, e se eu fizer o encarte, quem garante seus efeitos.
Por isso leitor caluda! Muito zinho oculto agora, e assim fica a cousa muda e não se
sabe cá fora, mas... vamos tratar do assunto, que cultiva esta seção, pode me fugir o
bestunto e não dou conta da missão. (Jornal do Ameno Resedá, 1917)
O estilo, definido pelo autor como “capadócio” é dominado por uma
linguagem quase dialetal, repleta de rimas, fórmulas orais e frases feitas que eram parte
do vocabulário daquele grupo específico e que chegam mesmo a comprometer a
legibilidade do texto para quem não fazia parte do mesmo. “Mão em cima mão
embaixo”, “bagre arrancado”, “zinho oculto”, “fugir o bestunto”, são expressões cujos
significados não podemos definir com certeza – podemos apenas inferi-los de maneira
geral através do sentido do texto. Estes mesmos elementos apareciam na descrição
satírica dos ranchistas, muitas das quais registravam fórmulas de oralidade típicas de
cada um:
“O Napoleão (Lord Taquara) continua a afirmar que não mente... É sempre o
mesmo Ameno serviçal alegre e satisfeito, muito embora seja um apologista dos
Sonetos líricos, como aquele que reza que ‘Foi-se a primeira pomba... outra... e
outra mais’
Lord Pimenta, apesar de sua firme solidariedade ao Ameno, costuma faltar às
sessões, devido ao mau tempo, muito embora morando na sede.
Almeida resolve todas as questões assim: “Muito justo! Comigo não tem chichi,
meu bem você vem cá”
Lorde Leão, tesoureiro da Comissão de Carnaval é o homem do money, e tem um
jeito especial para cavá-lo (não confundam o termo). Tem desesperos inúmeros
quando a despesa ultrapassa a Receita e as exclamações irrompem-lhe os lábios:
‘Ora faça você ideia, co..mo há.. de, ...se...botar o... Carnaval na... rua, se os sócios
não...entram... com... o ... ra...teio?’
144
Gonzaga da Hora – Toque nesses ossos seu Gonzaga, olhe que o sr. me obrigou a
procurar uma palmatória, velho legado de meu pai e um chinelo também com que
me castigavam quando eu fazia manha!
Adão – É o único Resedá que tem a propriedade da Cordite, por qualquer coisa se
aborrece, um dito, uma pilhéria é motivo de zanga! Quem sabe se a pessoa que o
propôs, não lhe disse que o Ameno era Associação Funerária ou Beneficente?”
(Jornal do Ameno Resedá, 1916 e 1917)
Vários dos membros citados também faziam parte da comunidade dos
“chorões” descritos por Gonçalves Pinto. Assim, Napoleão de Oliveira é citado como
um “chorão de cultura fina nos batedouros carnavalescos”, além de ser um “violão
mavioso e científico”. Desta “cultura fina” fazia parte também uma veia poética que é
expressa na coluna pela menção ao fato de Napoleão ser “apologista dos sonetos
líricos”. O soneto em questão parece ser “As pombas” de Raimundo Correa: é
interessante notar que Gonçalves Pinto cita este mesmo poema em seu livro, mais uma
prova da circularidade cultural das práticas artísticas da época (conforme salientado por
Braga, 2002: 205). Já Gonzaga da Hora era o tocador de bombardino Luiz Gonzaga da
Hora, sempre presente nas enumerações de Pinto sobre os instrumentistas da “velhaguarda”.
O mais importante a ser notado no exemplo acima, entretanto, é o uso da
caricatura e da sátira como os elementos mais importantes no fator de identidade do
grupo: era parte fundamental deste processo a fixação dos elementos de oralidade que
distinguiam e identificavam cada membro. Assim, Lord Leão, o tesoureiro do rancho, é
em várias colunas satirizado pelo seu falar gago; Adão é conhecido pelo seu mauhumor, que leva o cronista a perguntar se ele teria confundido o rancho com uma
associação funerária. Em alguns casos não é mais possível precisar qual o sentido
satírico da citação: assim, não sabemos exatamente qual o significado da expressão
“Comigo não tem chichi, meu bem você vem cá” usado por Almeida para resolver todas
as discussões, mas ninguém porá em dúvida a intenção sarcástica.
145
Ora, esse é um dos elementos mais utilizados pelo “Animal” na descrição de
seus personagens: o fito, como dissemos, é mais o de recriar o ambiente da época – e
principalmente a dimensão festiva e carnavalesca da vida, que era em grande parte
proporcionada pelas práticas musicais – do que realizar perfis biográficos com
informações precisas sobre dados empíricos (datas, nomes completos, etc) dos
personagens.
Desta forma, a intenção satírica predomina na maior parte dos verbetes
biográficos: Coimbra Trombone, por exemplo, chorão no trombone como o nome
indica, foi convidado certo dia para um choro na casa de “um seu compadre, onde se
realizava um batizado”. Sendo devoto de Santa Rita, antes de sair para a festa ajoelhouse diante da imagem da santa, “pedindo que não o deixasse beber”, pois quando bebia
“ficava impossível de se aturar”. Ao chegar ao “pagode”, verificou que, “como não
podia deixar de ser” havia farto banquete e muitas bebidas: não podendo resistir,
começou logo a comer e a beber, e “às paginas tantas já não soletrava ‘Cascadura’”;
bebeu tanto que, na hora de voltar para casa, seu compadre, “que era Guarda
Municipal”, teve que chamar um “carregador para carregá-lo até sua residência”. O final
da história deixa ainda mais clara a intenção satírica:
Na hora da sahida sua comadre entregou ao dito carregador uma duzia de ovos para
sua senhora depois de muito custo chegou em casa o Coimbra, tomando das mãos
do carregador a duzia de ovos, foi direito ao quarto onde estava, jogando todos os
ovos na Santa, blasfemando por não ter sido attendido no seu pedido (96).
Outro exemplo curioso, dos muitos que poderiam ser citados, é o de Ismael
Brasil. Ao contrário do “verbete” de Coimbra Trombone, em que Gonçalves Pinto se
limita unicamente à descrição de um “causo” cômico, não fornecendo nenhum outro
dado sobre o “personagem”, o verbete de Ismael Brasil é esmerado em detalhes sobre
sua vida e carreira, ainda que no final predomine a intenção satírica novamente. Ismael
146
Brasil era filho de “D. Antonica, exímia modista das mais distintas famílias do bairro do
Catete”; excelente tocador de trombone e bombardino, razão pela qual era “disputado
pelos chorões”, iniciou sua carreira profissional como estafeta dos Telégrafos, até ser
nomeado carteiro do Correio Geral, “lugar este em que occupou com muito esmero e
capricho, pois primava por apresentar-se sempre asseiado” (71). No aspecto físico era
de “estatura alta”, tinha no rosto “sinais de bexiga” e um “modo moleirão” – razão pela
qual recebeu o apelido de “Banza” entre os colegas do Correio. De natural engraçado,
esmerava-se em imitar “todos os animais da zoologia”, além de fazer caricaturas de seus
companheiros, aplicar-lhes “peças” e contar casos cômicos, sendo, portanto, “muito
estimado na roda dos chorões”. Certa feita, em um “pagode” em Niterói, percebeu que
não havia “bóia”. Foi então
direto ao quintal sorrateiramente e torceu o pescoço de quatro galinhas, e voltou de
novo a tocar, e de vez em quando dizia para os companheiros de chôro: Já matei
quatro animaes, mas não garanto a criação podem ser Bhramas ou Mistiças, pretas
ou Carijós. Quando o dia rompeu lá estavam as gallinhas mortas debaixo do
poleiro. E elle fazendo um grande espanto de ingenuidade pediu uma faca, e foi
cortando o pescoço das ditas deixando correr o sangue. Todas as pessôas da casa
julgaram tratar se de peste, e assim elle e seus companheiros de chôro tiveram um
bom almoço de gallinha (72).
Exemplos como estes são abundantes ao longo do livro, e poderíamos citá-los
em profusão. Focamos até agora nossa análise nos aspectos satíricos dos verbetes: em
boa parte destes casos, fórmulas de oralidade, como gírias e frases feitas, estão
presentes, tanto na narrativa de Gonçalves Pinto, quanto na “boca” de seus biografados,
sempre com intenção cômica. Cumpre agora analisarmos verbetes onde o carteiro se
esmera em fixar frases, ditos e visões de mundo de seus biografados, sem que
necessariamente houvesse intenção satírica, ou melhor: sem que a intenção de sátira
esteja em evidência principal.
147
Um dos verbetes que pode ser citado como exemplo neste sentido é o do
violonista Sátiro Bilhar (1869-1927). Figura das mais populares do choro no período da
belle époque, autor da polca “Tira Poeira”, até hoje muito tocada no ambiente das rodas,
seu verbete é singular pelo fato de que, em meio à descrição do “personagem”, a prosa
de Alexandre é subitamente substituída pelas próprias falas de Bilhar:
Parece-me estar ouvindo ainda elle dizer: "Tu és uma estrella de primeira
grandeza"! (tá doido Ave Maria) o que palpita lá palpita cá; minha familia é minha
vida inteira ! e viva São João p'ro anno, tá errado com o velho Bilhar, gosto de ti
porque gosto porque meu gosto é gostar, no rio o caudal da vida que tem por
margem a descrença, as ondas são anjos que dormem no mar, porque vejo em teus
olhos um luzeiro que me guia, eram estes os dictados e as modinhas do repertorio
de 40 annos do velho Bilhar, com o seu tradicional pince-nez, pois os grandes
chorões ainda não conseguiram imital-o e reconhecem que Bilhar foi o rei dos
accordes [53]
Há aqui um amontoado de frases aparentemente desconexas, que fazem pouco
sentido para o leitor atual e que é preciso “destrinchar” de alguma forma: as primeiras
frases parecem ser parte do repertório de ditados e frases feitas usadas por Bilhar: “Tu
és uma estrela de primeira grandeza!”, “Tá doido, Ave Maria”, “O que palpita lá palpita
cá”, “Minha família é minha vida inteira!”, “E viva São João pr’o ano”, “Tá errado com
o velho Bilhar”. As frases finais fazem parte do repertório de modinhas de autoria de
Bilhar, algumas das quais conseguimos identificar: “As ondas são anjos que dormem no
mar” e “Gosto por ti porque gosto”, por exemplo, são títulos de modinhas feitas em
parceria com Catullo. Ao registrar estas fórmulas de oralidade, Gonçalves Pinto está
sem dúvida se dirigindo a um grupo específico: o de seus contemporâneos que
reconheceriam estas frases como parte do repertório do violonista. Também é
fundamental frisar que, ao misturar ditados, frases feitas e letras de modinhas, o carteiro
nos mostra que todos estes elementos estavam imersos em um mesmo “perfil”: em
outras palavras, não seria possível fazer uma separação do que Bilhar “falava” e do que
“tocava” ou “cantava” – todos estes elementos estavam inextricavelmente ligados a sua
148
memória. Seu repertório de ditados e frases feitas eram fator de identidade tão fortes
quanto seu repertório musical, e o carteiro os usa não só para evocar o ambiente afetivo
da época como para provocar, naqueles seus contemporâneos que reconheceriam as
falas de Bilhar, um senso de pertencimento a um grupo: uma memória coletiva, enfim.
Em outros verbetes apreendemos também fragmentos das visões de mundo dos
biografados, que nos falam através do “Animal”: tais fragmentos compreendem
aspectos diversos como, por exemplo, o modo com que as pessoas estabeleciam
significados para as práticas musicais ou relacionavam estas com suas atividades
profissionais. Assim, Cantalice, chorão ao violino, dizia que “a música é como a morte,
precisa fazer tristeza para ter effeito” (105); Lica, tocador de bombardão e tipógrafo
“tinha verdadeiro amor e devotamento à arte musical, nos choros em que fazia parte e
dispunha de liberdade pedia sempre a palavra em louvor de Santa Cecília, tal era o seu
entusiasmo” (55); Ismael Correa, violonista, chorão e entusiasta do carnaval – fazia
parte do rancho Pragas do Egito, assim como Gonçalves Pinto – dizia que “ter juizo,
trezentos e sesenta e dois dias, não é pouco, é justo que nos três dias de carnaval se seja
louco” (131); Gonzaga da E.F.C.B., era, como o nome diz, funcionário da estrada de
ferro, onde trabalhava fazendo carretos. Sendo um excelente tocador de oficleide,
muitos lhe perguntavam a razão pela qual, sendo ele um “músico tão afamado”,
trabalhava em um “lugar tão baixo”. Ele então respondia então
com a maior naturalidade, dizendo que a sua estrella nunca brilhou e por isso vivia
no abandono, pois nunca encontrou um amigo que lhe désse a mão. Pois apesar de
seu preparo, viu-se obrigado a sugeitar-se a ser carregador, se queria comer e beber
(82)
Como se nota nos trechos citados, a prosa do carteiro revela, ainda que de
forma fragmentada e difusa, parte do pensamento e das vozes destas figuras populares.
Veremos ao longo dos capítulos três e quatro, como estas visões de mundo englobavam
149
também pensamentos muitas vezes díspares sobre temas como a relação dos
instrumentistas de choro com a indústria do disco e da rádio e aspectos do aprendizado.
Finalmente, nossa análise do “etnógrafo do choro” ficaria incompleta se não
nos detivéssemos agora nos verbetes em que Gonçalves Pinto se volta para a descrição
de “gêneros musicais” específicos como “As Polcas” (115), “A Quadrilha” (112) e “A
Modinha” (121). É nestes verbetes que se percebe, de modo ainda mais patente, a
relação entre as práticas sonoras definidas como “choro” e as relações de sociabilidade
ao seu redor. Como vimos no primeiro capítulo, os significados sobre os discursos
sonoros não podem ser separados dos discursos, gestualidades, conceitos e idéias sobre
os sons (Middleton, 1990: 221; Vila, 1995). Da mesma forma, aquilo que identificamos
usualmente como “gênero musical” seria mais propriamente definido como um feixe de
discursos e idéias sobre determinadas práticas do que simplesmente por uma definição
“fechada” sobre determinado discurso sonoro. É, assim, bastante significativo observar
que os verbetes sobre “polca”, “quadrilha” e “modinha” escritos por nosso carteiro se
constituem como verdadeiras descrições etnográficas de como se organizavam aspectos
diversos – gestualidades, oralidades, produção de discursos, conceitos sobre
nacionalidade, autenticidade, etc. – em torno destas práticas sonoras. Vejamos agora
com mais profundidade cada um destes verbetes.
Comecemos pela quadrilha: segundo José Ramos Tinhorão esta seria uma
dança coletiva de salão baseada em formas de alegres danças populares, surgida na
Europa de inícios do século XIX como continuação modificada da contradança (...)
Foi chamada de quadrilha por suas figuras lembrarem a formação militar da
squadra, cujo diminutivo se vulgarizaria acompanhando o espanhol cuadrilla. A
dança e a música da quadrilha fizeram sua entrada no Brasil no tempo da Regência
(1830-1841) através do modelo francês de contradança a dois ou quatro pares
(quadrilha dupla), de som alegre e movimentado, dividido em cinco partes com
diferentes figuras, todas em allegro ou allegretto. E isso obedecendo ao seguinte
esquema geral: primeira figura em dois por quatro — ou em seis por oito tal como
a terceira — e as três outras (segunda, quarta e quinta) geralmente em dois por
quatro (Tinhorão, artigo disponível em www.cliquemusic.com.br, consulta
realizada em 9/11/2010).
150
De meados do século XIX até o início do século XX, a quadrilha seria uma
dança muito popular nas grandes cidades – e no Rio de Janeiro, particularmente, muito
usual entre chorões descritos por Gonçalves Pinto; ao decorrer do século XX,
entretanto, cairia em desuso nos grandes centros urbanos, sendo absorvida pelas classes
rurais, passando a receber diferentes nomes em todo o país — quadrilha caipira em São
Paulo, mana-chica na região de Campos no norte fluminense, etc — e se tornando dança
característica do período de festas juninas em todo o país (id. ib.)
Ora, o verbete de Gonçalves Pinto sobre a quadrilha é todo baseado na
descrição das danças, gestualidades, fórmulas de oralidade e mesmo nas divisões de
classes sociais que se observavam em torno de determinadas práticas sonoras. Ele se
inicia com uma breve descrição da métrica utilizada na dança e os principais
compositores de quadrilha da época:
A quadrilha era uma dansa figurada com cadencia de seis por oito e dois por quatro
no compasso. Os seus melhores escriptores foram o inesquecível Barata, o sempre
lembrado Silveira, o Saudoso Metra o inolvidavel Anacleto, o immortal maestro
Mesquita e muitos outros (115)
Note-se que, ao começar sua descrição com a frase “a quadrilha era...”,
Gonçalves Pinto já aponta para o fato de que, em 1936, data de lançamento do livro, a
quadrilha (pelo menos como dança dos grandes centros urbanos, e em particular, dança
ligada ao ambiente do choro) já pertencia ao passado. Portanto, sua descrição minuciosa
é em grande parte endereçada aos leitores que certamente desconheciam esta dança. Em
seguida o carteiro passa a descrever a dança e as fórmulas de oralidade que eram parte
indissociável da quadrilha:
Esse estylo de dansa, traz saudades das marcações: "Travessê"! "Balancê"! "Tour"!
"Anavancatre"! "Marcantes anavan"! "Caminhos da roça"! "Volta gente que está
chovendo"! Na quadrilha, era que o dansarino mostrava as suas habilidades e o seu
devotamento, a "Terpesychore". Por exemplo: no "Travessê!" muita gente boiava
151
quando um cavalheiro pulava do seu logar e ia figurar ao lado de uma dama que se
achava distante. O "tocert", era as vezes obrigado a um "doublé", para a frente ou a
retaguarda conforme a vez a "marcante".
A função dos “marcantes”, ou seja, daqueles que davam as ordens
coreográficas para os pares dançantes, bem como a relação entre os “marcantes” e os
músicos do choro que acompanhavam o baile também são alvos de curiosa descrição:
Para ser "marcante", era preciso conhecer todas as evoluções da "quadrilha", e estar
muito attento ao desenrolar da musica. Os dansarinos sempre gostaram da
"quadrilha", porque era a dansa mais divertida e a que mais enthusiasmava, não só
pelas suas passagens comicas, como tambem pelas demonstrações de agilidade a
que os "pacholas" eram obrigados. E quando o "marchante" se enganava ? Eram
um "suicidio-moral"... E quando elle, se descuidava e bradava: "Chê de dama"! e a
musica parava ? Era um destes "fiascos" que custava grossas gargalhadas e que
ficavam registrados na sua fé de officio (...). Succedia muitas vezes que o
"marcante" se enthusiasmava e se esquecia da dar signal para acabar uma parte o
"chôro" parava deixando em meio uma evolução. Era motivo de gargalhadas
geraes, e de "estrillo" do "marcante". Outras vezes este dava signal para parar,
quando a musica não o permittia. Era outros "fiasco". Succedia, ainda, que o
"mestre do chôro", por "malha ou tralhas", não gostasse do "marcante": anthipatia,
inimizade pessoal, revalidade, "dôr de cotovello" e então sujeitava-o ás mais
desconcertantes borracheiras em plena "salão".
O “mestre do choro” é certamente o chefe do conjunto que acompanhava o
baile: como se vê pela descrição, era necessário que houvesse um perfeito entendimento
entre este e o “marcante”: em alguns casos, havendo “antipatia”, “rivalidade” ou “dor de
cotovelo”, o “mestre do choro” poderia simplesmente não obedecer às ordens do
“marcante”, sujeitando-o então “às mais desconcertantes borracheiras”. Outro aspecto
importante do verbete diz respeito ao fato de que ele aponta para um mapeamento das
diferenças sociais ao redor da quadrilha em diferentes bairros da cidade:
Havia uma grande diferença na quadrilha dançada num rico salão de Botafogo e
Tijuca e da que era desengonçada na Cidade Nova e Jacarepaguá. Os ricos, metidos
na sua casaca, sobrecasaca, do fraque e as damas de vestidos decotados,
observavam rigorosamente a pronúncia francesa e a orquestra só parava quando o
‘marcante’ dava o sinal. Na roda do povo de ‘bongalafumenga’ o pessoal se
apresentava como podia e os que melhor trajavam ostentava a calça boca de sino,
ou a bombacha, e as damas que se apresentavam com os vestido de merino, eram
consideradas de ‘elite’, porque a maioria pegava mesmo o seu vestidinho de chita.
A marcação era ‘gosada’ porque sendo feita num francês macarrônico tinha uns
enxertos conforme a festividade do marcante.
152
A enorme popularidade da quadrilha no período da belle époque é atestada
pelo grande número de músicas classificadas como tal, encontradas em cadernos
manuscritos de choros ainda do século XIX e inícios do XX, conforme veremos com
maiores detalhes no capítulo quatro. A descrição de Gonçalves Pinto nos mostra que ela
fazia, tanto quanto a polca, o schottisch e a valsa, parte do ambiente do choro nas festas
populares do período. Curiosamente, ao contrário destes gêneros, que permaneceram de
uma forma ou de outra na “tradição oral” do choro durante a segunda metade do século
XX, a quadrilha foi praticamente extinta, até ser “redescoberta” nos finais dos anos de
1990 e regravada por músicos ligados a gravadora Acari. Veremos mais sobre este
processo no capítulo cinco, dedicado às “re-significações” de O Choro na atualidade.
Se a quadrilha já era uma forma coreográfico-musical praticamente extinta na
década de 1930, a polca e a modinha ainda gozavam de alguma popularidade nos meios
de comunicação da época, como o disco e a incipiente indústria do rádio. Apesar disso,
já eram de certa forma “ameaçadas” por outros gêneros musicais nacionais e
estrangeiros que começavam a gozar de grande popularidade como o samba e o fox-trot.
Neste sentido, os verbetes que Gonçalves Pinto dedica à polca e à modinha são eivados
de forte cunho ideológico: o carteiro procura associar estas músicas à “alma nacional”,
buscando legitimá-las como representantes máximas da música do país. A modinha,
segundo o carteiro, seria:
o vehiculo de todas as saudades, e as reminiscencias transitoria, do bom e do bello.
E' a repercussora do passado, e a delicia do presente. A modinha é um mimo de
maravilhas. é um mundo de harmonias, ella tem a belleza das épocas tradicionaes,
evoluindo de geração em geração
Esta “evolução de geração em geração” é salientada implicitamente na enumeração
dos “grandes cantores de modinha”: dividida em dois períodos distintos, o primeiro dedicado
àqueles “já falecidos” e o segundo aos que “ainda estavam em atividade”, a listagem é singular
153
por misturar indistintamente as figuras praticamente anônimas descritas pelo Animal (Vicente
Sabonete, Oscar de Almeida, Creoula, etc.) com grandes nomes do rádio, como Francisco
Alves, Silvio Caldas, Aurora Miranda e Almirante. Note-se que ao mencionar o nome dos
grandes cantores do rádio, Gonçalves Pinto aponta para a aceitação do rádio como grande
divulgador da música nacional: como veremos com mais detalhes no capítulo três, onde
analisamos a relação de “O Choro” com a indústria fonográfica da época, Gonçalves Pinto
salientará a importância dos novos intérpretes do choro que então surgiam neste meio (como
Benedito Lacerda, Luperce Miranda, Pixinguinha, por exemplo), identificando-os como uma
linha de continuidade nascida dos chorões da “velha-guarda”.
O verbete sobre é a polca é bem mais “panfletário” e assume quase um caráter de
manifesto dirigido ao leitor. O autor começa por afirmar:
A polka é como o samba, – um tradição brasileira. Só nós o que Deus permitiu que
nascessem debaixo da constelação do Cruzeiro do Sul, a sabemos dansar, a
cultivamos com carinho e amor. A polka é a unica dansa que encerra os nossos
costumes, a unica que tem brasilidade. Do mesmo modo que os argentinos
cultivam o tango e os portuguezes não deixam morrer a "canna verde", nós os
brasileiros havemos de agüentar a polka, havemos de mantel-a atravéz dos seculos,
como tradição dos nossos costumes, como recordação dos nossos antepassados e
como herança ás gerações vindouras (115)
A polca é como o samba – uma tradição brasileira: eis aqui uma afirmativa
importante, que demonstra mais uma vez a complexidade e a indissociabilidade entre
práticas sonoras e os discursos sobre as mesmas. Dança que tem origem no leste
europeu (para muitos dicionários e livros de referência teria surgido mais precisamente
na região da Boêmia, Tchecoslováquia), a polca teria chegado ao Brasil por volta de
1840, ganhando logo grande popularidade entre diversas camadas da população. Sua
aceitação e adaptação às camadas mais baixas é documentada por diversos textos de
época, como, por exemplo, os Folhetins do escritor França Júnior (1838-1890). Ao
fazer uma descrição sobre as diferenças entre os bailes de “primeira”, “segunda” e
154
“terceira categorias” no Rio de Janeiro, França Júnior apresenta um retrato bastante
vívido da popularidade da polca nas camadas mais populares:
Figurem os leitores um sobrado com janelas de peitoril na Prainha, Valongo, rua do
Livramento ou em qualquer ponto da Cidade Nova. Entremos por um corredor mal
iluminado e vamos direto à sala, onde uma orquestra, composta de oficleide, um
piston, uma rabeca e um clarinete manhoso (...). Meia dúzia de crioulas comentam
o que se passa: -- ‘Vocês estão vendo como seu Chico está tão prosa hoje? Olhem
só como ele se requebra na polca.’ A maneira por que ali se dança é diversa da dos
bailes de primeira ordem... Quanto às polcas, consistem em arrastar os pés e dar às
cadeiras um certo movimento de fado, que não deixa de ter sua originalidade”
(França Jr, Folhetins, 1926,apud Sandroni, 2001)
Conforme demonstra Sandroni (2001: 69), já se infere desta descrição uma
referência aos “requebros” que seriam mais característicos da dança do maxixe do que
da polca. Esta visão do maxixe como uma forma “requebrada” de dançar a polca
também aparece no verbete de Gonçalves Pinto. Para o carteiro, a polca seria “música
buliçosa, attrahente e às vezes convidativa aos repuchos do maxixe...” (116). A ressalva
utilizada – “às vezes” – nos mostra que havia, na verdade, diferentes tipos de polca, que
cumpriam finalidades diferentes. Se por um lado havia polcas convidativas “aos
repuchos do maxixe”, havia também polcas “cadenciadas”, que eram tocadas ao final
das quadrilhas, conforme nos explica o Animal:
A quadrilha, sendo uma dansa accelerada, cheia de movimentação, não se prestava
aos derriços dos pares de namorados. Após a agitação provocada pela quinta parte
[da quadrilha], havia, como especie de premio de consolação, uma polka bem
chorosa, bem macia, bem cadenciada e que compensava perfeitamente os esforços
empregados na quadrilha. (...) Assim, pois, as polkas escolhidas eram quasi sempre:
"Inygma", "Conceição", "Flôr Amorosa", "Só para Moer", "Amor tem Fogo",
"Cabocla", "Margarida está chorando" e outras (114).
“Macia”, “chorosa”, “cadenciada” são qualificativos que indicam um
andamento mais lento, que permitia, ao contrário da agitação da quinta parte da
quadrilha, uma dança mais romântica, propícia aos “derriços dos namorados”:
“Quantas vezes dois entes que se querem, mas, que se acham separados, aproveitam a
155
cadencia de uma polka, para os segredinhos da pacificação”, também nos aponta o
carteiro em meio a seu verbete.
Assim como a quadrilha, a popularidade das polcas nos bailes de baixa classe
média da época é comprovada pelo grande número de músicas qualificadas sob este
gênero encontradas em centenas de partituras e cadernos manuscritos que nos chegaram
da época. Como veremos no capítulo quatro, os qualificativos “macia”, “chorosa” e
“cadenciada”, assim como outros como “polca-buliçosa”, “polca-maxixe”, “polcaschottisch” também são utilizadas pelos copistas destes cadernos para registrar o que
seriam diferenças musicais entre as polcas.
O que podemos então concluir do verbete de Gonçalves Pinto sobre a polca?
Em primeiro lugar reforçamos o fato de que o conceito por vezes simplificador de
“gênero musical” é mais complexo do que podemos supor à primeira vista; o carteiro
nos mostra como uma simples palavra, “polca”, pode servir não só para designar
práticas sonoras diversas (haveria polcas propícias aos “requebros do maxixe”, polcas
propícias aos “derriços dos namorados”, entre outras), como situações sociais
específicas (bailes, reconciliações entre namorados, compositores, nomes de músicas) e
ainda feixes de discursos e idéias que relacionam este “todo-complexo” da polca com
conceitos como nacionalismo, preservação e autenticidade (“a polca é uma tradição
brasileira”; “nós os brasileiros havemos de aguentar a polka, havemos de mantel-a
atravéz dos seculos, como tradição dos nossos costumes”; “a polka é a unica dansa que
encerra os nossos costumes, a unica que tem brasilidade”, são exemplos destes feixes de
discursos). Em segundo lugar, nota-se que a comparação com o samba não é gratuita:
em uma década em que o samba se consolida como a música nacional, o carteiro será
porta-voz de um grande número de instrumentistas populares para quem as formas de
acompanhamento da polca continuarão a ser, em detrimento do novo padrão do samba,
156
expressão máxima do que era entendido como “música nacional”. Em outras palavras,
mesmo quando boa parte da “nova geração” de instrumentistas do choro – Benedito
Lacerda, Pixinguinha, Luiz Americano, Jacob do Bandolim, entre outros –, formada por
“músicos profissionais”, isto é, contratados pelas rádios e pelo disco, passará a
incorporar ao choro os novos padrões rítmicos do samba nascido no Estácio – veremos
este processo com mais detalhes no capítulo três – os chorões “da velha guarda”
descritos por Gonçalves Pinto continuarão a eleger os padrões rítmicos da polca como
principal veículo de expressão e permanecerão infensos aos “novos padrões”. Alguns
poucos membros deste grupo chegarão, octogenários ou nonagenários, à década de
1970, ainda se reunindo em rodas de choro nas quais a polca permaneceria como
mainstream do choro e onde os novos padrões do samba incorporados ao choro não
tinham vez. Este é o caso, por exemplo, do Retiro da Velha Guarda, reunião semanal de
antigos instrumentistas de choro, como Napoleão de Oliveira e Léo Vianna (ambos
retratados no livro de Gonçalves Pinto), que perdurou até a década de 1970 –
analisaremos com maior profundidade este tópico no capítulo cinco.
2.4) Os “heróis do choro” e a vida festiva
Passamos agora a analisar um dos principais aspectos da narrativa de
Gonçalves Pinto: o verdadeiro núcleo em torno do qual gravitam todos os demais
elementos do livro é que é constituído justamente pela dimensão festiva da vida: festas,
rodas de choro e pagodes, como muitas vezes o Animal assinala. É este o verdadeiro
leitmotiv da narrativa: através da descrição de festas, movidas a banquetes e bebidas, o
autor descreve centenas de “heróis” do choro, como ele próprio os denomina,
personagens que, sob um manto de respeitáveis de chefes de família e de honrados
157
funcionários públicos, periodicamente entravam em outra dimensão e “se esqueciam de
tudo”, abandonando famílias e empregos por dias e dias por causa de um bom choro.
Visto desta forma, os “heróis” do choro se constituem na verdade como “antiheróis” que se mantinham muitas vezes à margem da conduta social esperada e
priorizavam a dimensão “festiva” e carnavalesca da vida. Exemplos como estes
aparecem em grande quantidade na narrativa: Paulo Esteves, por exemplo “era chorão
viciado, não podia ver defunto que não chorasse. Chegava a indagar onde existia um
choro, para ele meter os peitos”. Apesar de carteiro por profissão, “acabou sendo
exonerado por abandono de emprego, pois o choro fez esquecer os seus deveres” (163).
Ou ainda Ernesto Pestana, “praça de polícia” que o autor julgava “nunca ter galgado
posto algum”, por ser “de um gênio folgazão e inveterado farrista, andando quase
sempre atracado ao seu violão, esquecia-se de ordens e disciplina, levando de vez em
quando uma cadeia” (187). De modo similar, Antonio Joaquim Marques Porto, descrito
como sendo pertencente a uma “distinta família baiana”, era um soldado do Corpo
Militar que também não chegara a galgar posto algum, por ser “de um gênio estourado,
metia-se em farras noites e noites”. Apesar disso “era de uma fina educação” e
encantava as famílias da “Velha Tijuca” pois “cantava muitas modinhas com uma voz
maviosa de fazer encantar” além do que “tocava flauta com grande maestria” e no
violão “era sublime”. Por fim,
boêmio que era e não ligando à sociedade, acabou o herói do choro (...) em uma
enxerga na Santa Casa de Misericórdia. Contava-me ele que sua boníssima mãe
mandava-lhe dinheiro para seu regresso à Bahia, porém, com seu espírito boêmio,
nunca lá foi, gastando todo [o dinheiro] em farras e patuscadas. E assim lá se foi
para vida eterna um herói, que pelo seu saber e cultura podia hoje seu nome estar
esculpido em uma estátua para glória do porvir (35, grifos meus).
Mas não era apenas por abandono de emprego ou pelo “gênio estourado” que
se constituía um “herói” do choro. Outro aspecto dos mais importantes do livro é o
devotamento dos personagens ao prazer da comida e da bebida, que gera descrições
158
realmente pantagruélicas. Assim, Salvador Marins é descrito como “um grande
flautista” que nunca negava o convite para ir a um choro, mas logo perguntava pelo
“pirão, nome que se dava nos pagodes quando tinha boa mesa e bebidas com fartura”
(idem: 15). Leopoldo Pé de Meza “não era músico de assombro”, “pois com a sua flauta
de cinco chaves já muito velha, presa com elásticos, só tocava músicas fáceis”. Apesar
disso “comia como gente grande e bebia melhor”:
Gostava de uma abrideira antes de entrar nos pirões, e depois se atolava na cerveja,
no vinho ou em qualquer outras bebidas que viesse, era dos tais que cada vez que
chimpava um gole da boa estalava a língua, e quando numa mesa via um Qui-Qui
(porco) com a competente batata na boca e azeitona nos olhos não tinha mais
vontade de levantar-se, e quando isso fazia ia dizendo: hoje comi para um mês,
estou empanturrado, já não posso mais. Se pela madrugada vinha um chocolate com
biscoitos não rejeitava a parada e tomava mais de uma xícara (18).
São diversos os personagens descritos como “heróis da gastronomia”, ou os
que o autor julgava já mortos pelo “muito o que comeram e beberam nesta vida”.
Singular e satírica é também a lacônica descrição de um certo Macário: “Oficleidista de
nome. É morto. Amigo de Irineu. O maior comedor que até hoje veio ao mundo”.
Esta completa inversão de expectativas em relação ao que seria um “herói”
tradicional e ao que se esperaria como uma postura “civilizada”, se por um lado
aproxima a narrativa da dimensão carnavalesca descrita por Bakthin para caracterizar a
cultura da Idade Média, por outro nos possibilita uma aproximação com o conceito de
malandragem proposta por Antônio Cândido em sua magistral análise sobre o romance
Memórias de Um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida. Mais ainda,
creio ser possível apontar, ainda que com óbvias ressalvas, algumas associações entre o
livro de Pinto e o ambiente “popular” descrito no romance de Almeida.
É claro que entre as diversas ressalvas que se impõe a esta última associação,
três saltam aos olhos de pronto: primeiro, o fato de as Memórias serem uma obra de
ficção, enquanto o Choro é uma obra memorialística. Segundo, o fato dos tempos
159
históricos serem diferentes: um se passa no “tempo do rei”, isto é, nas duas primeiras
décadas do século XIX (muito embora tendo sido escrito entre 1852 e 1853), e o outro
remonta a fatos de “1870 para cá”. Finalmente, há esta diferença fundamental: as
Memórias de um sargento de milícias tem um narrador em terceira pessoa que
freqüentemente utiliza um viés irônico em sua narrativa, ressaltando de certo modo
características cômicas das camadas populares, o que fez com que inúmeros críticos
anteriores a Cândido filiassem o livro de Almeida à tradição do romance pícaro
espanhol6. No livro de Gonçalves Pinto esta visão “de fora” não existe: exatamente
como no pensamento de Bakhtin, citado no primeiro tópico deste capítulo, não há aqui
diferenciação entre o autor da sátira e os satirizados: todos “entravam na borduna”
como nos diz a coluna do rancho Ameno Resedá.
No entanto, não obstante estas diferenças, creio que o principal ponto de
filiação entre os dois livros é o que Antônio Cândido denominou de “dialética da
malandragem”. Para este autor, o personagem principal do livro de Almeida, o
Leonardo, seria “o primeiro grande malandro que entra na novelística brasileira, vindo
de uma tradição quase folclórica e correspondendo, mais do que se costuma dizer, a
certa atmosfera cômica e popularesca de seu tempo, no Brasil.” (Cândido, 1970: 78). Ao
mesmo tempo em que estaria identificado com uma espécie de “corrente universal” de
heróis populares ou tricksters (como o Till Eugenspiegel alemão ou o Pedro Malazarte
brasileiro), Leonardo seria fruto de uma condição social muito específica da sociedade
brasileira do século XIX, marcada pela relação dialética e difusa entre a ordem e a
desordem, entre o lícito e o ilícito:
a sociedade que formiga nas Memórias é sugestiva, não tanto por causa das
descrições de festejos ou indicações de usos e lugares; mas porque manifesta num
6
O romance picaresco é normalmente entendido como um romance sem enredo geral ou “grande trama”,
normalmente tendo como figura principal um personagem que se apresenta como “anti-herói” à margem
da sociedade, e que se apresenta em uma série de aventuras e desventuras normalmente ambientadas nas
classes mais populares.
160
plano mais fundo e eficiente o referido jogo dialético da ordem e da desordem,
funcionando como correlativo do que se manifestava na sociedade daquele tempo.
Ordem dificilmente imposta e mantida, cercada de todos os lados por uma
desordem vivaz, que antepunha vinte mancebias a cada casamento e mil uniões
fortuitas a cada mancebia. Sociedade na qual uns poucos livres trabalhavam e os
outros flauteavam ao Deus dará, colhendo as sobras do parasitismo, dos
expedientes, das munificiências, da sorte ou do roubo miúdo (...) Ficou o ar de jogo
dessa organização bruxuleante fissurada pela anomia, que se traduz na dança dos
personagens entre lícito e ilícito, sem que possamos afinal dizer o que é um e o que
é o outro, porque todos acabam circulando de um para outro com uma naturalidade
que lembra o modo de formação das famílias, dos prestígios, das fortunas, das
reputações, no Brasil urbano da primeira metade do século XIX. (id., ib.)
Esta “dança” entre o lícito e o ilícito é visível em numerosas passagens do
livro. Leonardo-pai, por exemplo, é oficial de justiça, portanto representante da ordem,
mas inúmeras vezes “desce” aos círculos da desordem: ao se envolver com a saloia
Maria, ao se apaixonar por uma cigana, ao contratar um curandeiro do Mangue, etc. O
padrinho, apresentado como pessoa trabalhadora e honrada, só conseguiu arrumar-se na
vida graças a um golpe dado em um moribundo. O próprio major Vidigal, ainda
segundo Cândido, representante máximo do círculo da ordem, acaba ao final do livro
descendo ao nível da desordem ao ceder aos encantos de uma mulher de “vida fácil”,
Maria Regalada, em troca do perdão de Leonardo filho (id; ib).
Sem dúvida esta mesma tensão entre o lícito e o ilícito permeia a narrativa e os
personagens descritos pelo “Animal”. Vimos como diversos “representantes da ordem”
descritos por ele — soldados, policiais, funcionários públicos etc, — estavam sempre no
limiar entre estes dois hemisférios, sendo freqüentemente repreendidos ou mesmo
exonerados pela incompatibilidade da função que exerciam e as tentações da “vida
festiva”. Este jogo dialético, onde as hierarquias são freqüentemente embaralhadas,
aparece de forma ainda mais nítida em um trecho bastante saboroso de O Choro,
facilmente comparável ao caso do Vidigal exposto acima: é o caso do senhor Amaral,
chefe de contabilidade de um banco, descrito por Gonçalves Pinto como uma pessoa
extremamente “severa no regime do mando” e “autoritário em suas resoluções”. Era um
161
“tigre que fazia tremer de susto” os seus subordinados, entre estes o contínuo José
Pavão, tocador de violão e figura popular nas rodas de choro — razão pela qual era
sempre advertido pelo senhor Amaral, tendo sido finalmente exonerado de seu cargo.
Porém, como reverso da medalha, o senhor Amaral era, em seu ambiente familiar, “um
galo capão governado pela sogra D. Catharina”, uma verdadeira megera que “farejava
sua roupa e sua papelada, dava-lhe vomitórios, fazia inquéritos constantes” para tentar
descobrir qualquer desvio de conduta do genro. A esposa do senhor Amaral era também
uma mulher extremamente ciumenta e histérica, que “dava meia dúzia de ataques
diários”. Em determinada ocasião, D. Catharina, que “perdia a cabeça quando via um
bom choro”, resolveu comemorar seu aniversário chamando diversos chorões para uma
festa em sua casa. Passo a palavra ao “Animal”:
Foi no auge de uma polka saltitante cheia de passagens e remeleixos maxixados da
autoria de Callado, que entrou pela porta principal o seu Amaral. José Pavão, que
acompanhava o chôro encostado a uma janella e a perna em cima de uma cadeira,
quando avistou o seu ex-chefe pulou pela janella e cahiu em cima de uma mesa
cheia de louças de porcelana reduzindo tudo em cacos!... o auditorio foi
surprehendido suppondo que o José Pavão tivesse endoidecido. Dona Catharina,
também surpresa pelo acontecimento pediu explicações ao José Pavão, que
tremendo de medo escondia o rosto para não ser visto pelo Amaral, e explicou à
matrona farrista o temor que lhe causava a presença de seu ex-chefe de repartição
por ter sido elle um de seus maiores algozes durante os annos em que trabalhou
sobre suas ordens no Banco ! D. Catharina esqueceu-se do prejuizo da louça e deu
uma formidavel gargalhada e dando o braço ao José Pavão, foi ao encontro de seu
Amaral, fazendo uma apresentação de seu excontinuo, ordenando que daquella hora
em diante respeitasse o sr. José Pavão, como pessôa grata de sua familia, neste
momento Bilhar, pede a palavra, e em bello improviso enaltece as qualidades de
José Pavão, reduzindo a expressões mais simples a hyerarchia do sr. Amaral,
debaixo dos applausos de dona Catharina sua sogra, e sua esposa dona Bernardina
Ramos e de todos que tomavam parte no pagode ! O sr. Amaral humilhado retirouse e o choro continuou dois dias !... (62, grifo meu)
Vale salientar que um “causo” extremamente parecido com esse é publicado
no jornal do Ameno Resedá do ano de 1917, sob o título de “Você é um bicho”
(referência a figura da sogra): os nomes dos personagens são diferentes, mas a história é
em essência a mesma. Aliás, o que se percebe de forma geral é a existência de um tipo
162
de crônica satírica, normalmente assinada por pseudônimo, onde a tônica é dada pela
inversão da ordem vigente e pela subversão das hierarquias7.
Figura 4 – Página do Jornal do Ameno Resedá com a crônica satírica
“Vocè é um bicho”, um “causo” similar ao relatado no livro O Choro. No topo da
página aparecem as letras das músicas a serem cantadas pelo rancho naquele ano.
7
Esta inversão da ordem abarcava também a esfera sexual: em um dos jornais de 1912 do rancho Ameno
Resedá, uma coluna satírica intitulada “O Dominó Amarelo” relata a história de um certo “Juca
Trombone”, malandro que vivia de biscates e sempre atrasava o pagamento do aluguel, até que o seu
senhorio resolve se travestir de mulher no carnaval para “seduzir” o malandro Juca e arrancar-lhe
finalmente o aluguel devido. O efeito cômico é obtido pelo farto uso de gírias e pela revelação, ao final da
crônica, de que a “sedutora” senhora fantasiada de “dominó amarelo” é na verdade o senhorio.
163
Assim, vemos como o ambiente de trabalho e o ambiente “festivo” se
misturam, as hierarquias se embaralham e o “certo” e o “errado” se diluem. Da mesma
forma como o Vidigal, o chefe supremo da polícia, é convencido a perdoar Leonardo
graças aos encantos de uma mulher de “vida fácil”, o temido senhor Amaral acaba
submetido a uma completa inversão de ordem em sua hierarquia ao ter que aceitar José
Pavão como “pessoa grata de sua família”, graças à intervenção enérgica de sua megera
sogra. A hierarquia da ordem acaba sucumbindo à hierarquia da roda e da vida festiva,
seja nos “causos” relatados no livro de Pinto ou nas crônicas satíricas do rancho. Tutto
nel mondo è burla, como diz Cândido em seu artigo, parafraseando Verdi: na complexa
sociedade brasileira do século XIX, os círculos da “ordem” e da “desordem” estão
constantemente embaralhados e se articulam através de uma série de mediações que
incluem, entre outros fatores, as práticas musicais como ferramentas poderosas de
persuasão e mobilidade social.
164
Capítulo 3
Gonçalves Pinto e os primeiros memorialistas da música popular
urbana carioca
3.1) Influências Mútuas
Vistas as influências de publicações populares (como os periódicos do Ameno
Resedá) na escrita de Gonçalves Pinto, passamos agora a identificar e analisar outras
possíveis influências na obra do carteiro. O presente capítulo terá como foco uma
análise comparativa entre o livro de Gonçalves Pinto e os escritos dos primeiros
memorialistas da música popular urbana carioca: o objetivo é apontar influências
mútuas e também, naturalmente, contradições entre estes discursos. E mais do que tudo,
entender de que forma discursos de diferentes esferas – intelectuais, como de Mello
Moras Filho; jornalísticas, como de Vagalume e Orestes Barbosa e literárias, como de
Catulo da Paixão Cearense – influenciaram a escrita de O Choro. Como já dito, procuro
entender a escrita de Gonçalves Pinto sob dois aspectos: como uma das vozes que
constituem a polifonia de discursos sobre as práticas musicais da época e como sendo
ela mesma um repositório de vozes, conceitos e idéias dos músicos de choro do início
do século XX. Sob ambos os aspectos temos que considerar outras narrativas
importantes da época: para isto tomarei como base alguns trabalhos de pesquisadores
que se dedicaram ao estudo dos primeiros memorialistas da música brasileira, como
Sandroni (2001), Moraes (2006), Abreu (1998, 2007) e em especial a análise de
Carvalho (Carvalho, 2006) que em sua dissertação de mestrado procura fazer uma
interessante comparação entre o livro de Pinto e os escritos de Francisco Guimarães (o
“Vagalume”) e Catullo da Paixão Cearense, Orestes Barbosa e Mello Moraes Filho.
O foco do trabalho de Carvalho é a análise da obra de Catullo da Paixão
Cearense no contexto de sua época e a problematização da diferença de significados
sobre práticas musicais nos escritos de Catullo e de seus contemporâneos. Para o autor,
identificar nas memórias deixadas por esses sujeitos o confronto entre os diferentes
significados, visões e concepções sobre as práticas musicais ditas populares desse
período, permite compreender quais eram e como se davam os conflitos no interior
das relações sócio-culturais das classes populares da sociedade carioca (Carvalho,
2006:21).
Apenas para contextualizar historicamente o leitor, farei a seguir um breve
esboço biográfico de cada um destes “sujeitos” autores de narrativas da época. Já
traçamos no capítulo anterior uma breve biografia de Catulo da Paixão Cearense.
Francisco Guimarães, por alcunha o “Vagalume” era jornalista e cronista especializado
em carnaval, tendo lançado em 1933 o seu famoso livro Na Roda de Samba, espécie de
reunião de crônicas sobre o samba. O livro tem como foco principal o ataque à crescente
industrialização do samba por oposição ao que seria o samba “puro” dos morros
cariocas. Nomes como Sinhô, João da Bahiana, Caninha e Eduardo das Neves são vistos
como os “catedráticos”, ou seja, aqueles que conheciam realmente a roda de samba, por
oposição aos compositores e intérpretes ligados à indústria cultural e, portanto,
“falseadores” da tradição, como Francisco Alves (alvo dos maiores ataques), Ary
Barroso e Lamartine Babo (Sandroni, 2001:135). Sua narrativa, como afirma Moraes,
“transita pelos diversos focos narrativos, isto é, entre as memórias do autor, a crítica
musical, a crônica jornalística e avança (...) em direção às afirmações com pretensões
‘científicas’” (Moraes, 2006: 121).
Orestes Barbosa, nascido em 1893, foi também jornalista, iniciando sua
carreira como revisor do jornal O Mundo. Como afirmam Sandroni (2001:134) e
Moraes (2006:122), sua carreira tinha um viés muito mais “intelectual” do que a de
Vagalume; autor de vários livros, chegou mesmo a se candidatar para a Academia
166
Brasileira de Letras em 1922. Foi poeta e letrista, parceiro de Noel Rosa e Silvio Caldas
em diversas composições ainda hoje clássicas da música popular. Seu livro Samba: sua
história, seus poetas, seus músicos e seus cantores de 1933 faz, ainda segundo
Sandroni, um contraponto ao de Vagalume ao defender o samba “moderno” e
industrializado.
Feita esta pequena contextualização biográfica, passamos a analisar de que
forma tais autores e textos podem ser relacionados, primeiramente delimitando pontos
em comum entre as obras. Começamos por resumir alguns pontos levantados por
Moraes (2006), já mencionados na introdução deste trabalho: 1) esta geração de
memorialistas da música popular brasileira teria sido a primeira a estabelecer a “fusão
entre a prática da construção da memória e a organização, compilação e arquivamento
das diversas formas de registros sobre a música urbana, no momento em que ela surgia
como fato cultural e social” (Moraes, 2006: 120); 2) por serem tais memorialistas
“observadores participantes” (pelo menos no caso de Pinto e Barbosa) ou pelo menos
“testemunhas oculares” (como é o caso de Vagalume) dos eventos musicais da época,
suas visões parecem, no dizer de Moraes, “ter-lhes concedido uma espécie de
credenciamento automático para definir a seleção dos ‘fatos dignos’ de registro, sua
veracidade e a ordenação causal e temporal dos eventos (id., 121). Tal grupo de fatores
também teria mais dois desdobramentos: o primeiro seria a possibilidade de
organização, por parte destes memorialistas, de um “discurso fundador sobre certas
‘origens, características e linha evolutiva’ da música popular (...) nas primeiras décadas
do século XX (id, ib.); e o segundo seria o de que, ao realizar um discurso baseado nas
vivências de rodas, festas, serestas etc, a narrativa que prevalece entre tais
memorialistas é em geral, fragmentada (id, ib).
167
A partir destas características fundamentais, focarei minha análise no livro de
Pinto, fazendo paralelos eventuais com os livros de Vagalume, Catulo e Barbosa.
Começarei com o último ponto citado: a narrativa fragmentada. Vimos nos capítulos
anteriores que o livro de Gonçalves Pinto é composto basicamente por pequenos
“verbetes” (que ele intitula “crônicas” em seu prefácio), normalmente tratando de um
chorão da época, ou descrevendo alguma situação satírica envolvendo personagens da
época. Esta estrutura parece ter sido em parte inspirada pelo livro de Vagalume: no
prefácio de ambos os livros os autores definem seus trabalhos como “crônicas”,
negando qualquer valor literário às obras. Para Vagalume, seu
modestíssimo trabalho, longe de ser uma obra literária, é apenas um punhado de
crônicas, que não publiquei, porque os amigos mais íntimos induziram a que as
reunisse num volume, à guisa de livro (Guimarães, 22).
Da mesma forma, Gonçalves Pinto afirma que sua narrativa “não tem a
pretensão de mostrar erudição, nem é comercial nem expositiva” (9), constituindo-se
apenas em uma série de “crônicas do que se respirava no Rio de Janeiro [de 1870 para
cá]”. Podemos ainda apontar outros pontos em comum entre as duas obras: ambos os
autores deixam claro o fato de que, ainda que à custa de imenso esforço (que os
colocam quase em posição de mártires do samba e do choro respectivamente), seus
livros representam a realização de ideais maiores, que seriam, em última análise, as
salvaguardas da memória do choro e do samba nas primeiras décadas do século. Assim,
Vagalume afirma em sua epígrafe:
Na RODA DO SAMBA, representa um sonho
que foi tornado realidade, após muitas promessas,
muitas desillusões até chegar ás portas do desanimo.
Ahi foi que encontrei o Benedicto de Souza, como o
naufrago que encontra salvação. (Vagalume, 1933: 7)
Para Gonçalves Pinto a conclusão de seu livro era “seu sonho dourado” (207),
apesar das dificuldades que também o levam a se comparar a um náufrago, como vimos
168
no capítulo dois. Além destas imagens metafóricas comuns, é possível encontrar nos
dois livros construções de frases bastante parecidas, principalmente no que se refere às
descrições apologéticas de músicos e compositores da época: “O Caninha não é um
sambestro. Na roda de samba, é um astro de primeira grandeza” (Vagalume, 1933: 42).
“Índio das Neves é hoje o maior vulto no gênero de modinhas de alto estilo. Na
atualidade, ele é o primus inter-pares da modinha brasileira” (id: 84). “O poeta Catullo
da Paixão Cearense é um astro de primeira grandeza, pois suas produções aí estão para
nossa admiração” (Pinto, 1978: 132). “João Pernambuco é o violão nortista primus
inter-pares dos seus congêneres.” (id. 124). Ainda que tais expressões fossem correntes
nos meios jornalísticos da época, creio que podemos afirmar que Gonçalves Pinto foi
certamente influenciado pela leitura do livro de Vagalume: ele chega mesmo a
descrever o jornalista como um autêntico “chorão” e a citar sua obra, lançada três anos
antes de O Choro:
Vou aqui fazer uma justa homenagem a este jornalista amigo de todos os chorões, e
assim também é um chorão. Este cronista carnavalesco, considerado e respeitado
por todos os foliões e colegas do mesmo ofício, tal a sua capacidade intelectual.
Guimarães é um boêmio de jaça e autor da roda dos sambas! (190, grifo meu)
As finalidades destas “crônicas”, no entanto, são bem diversas: o escrito de
Vagalume é, em última análise, uma crítica feroz dos caminhos da industrialização do
samba, ao passo que o de Alexandre tem por foco principal a construção da memória de
seus companheiros de choro. Neste sentido, uma obra que pode ter servido de inspiração
para o carteiro é a coletânea Lyra Brasileira de Catulo da Paixão Cearense, escrita em
1908, citada por Carvalho (2006). No prefácio deste livro, Catulo faz uma descrição
sumária de alguns instrumentistas do choro, propondo mesmo uma definição do que
seria, a seu ver, as características mais importantes que um instrumentista deveria ter
para ser considerado um chorão, conforme afirma Carvalho (2006). Conquanto o
prefácio não tenha o mesmo caráter de “verbetes” do livro de Pinto, e seja escrito em
169
prosa corrida, percebem-se em ambos o desejo de perpetuar uma geração de
instrumentistas populares. Uma diferença, no entanto, fica logo patente: enquanto
Catulo não tem o menor pudor em criticar os instrumentistas mais renomados, Pinto tem
uma postura muito mais “cuidadosa” ao eventualmente apontar as imperfeições dos
instrumentistas. Veja-se por exemplo este trecho de Catulo sobre o renomado violonista
Quincas Laranjeiras:
Ahi temos o Quincas Laranjeiras, o solista aprimorado que se consagra de corpo e
alma aos estudos teóricos, executando nitidamente alguns trechos de ópera.
Considero o violão como o acompanhador dolente das modinhas e lundus, não o
apreciando muito quando invade o império de outros instrumentos, executando
pedaços de músicas clássicas e óperas inteiras, raríssimas vezes. Quem me tirar o
violão do choro de um acompanhamento dengoso, com todos os seus acordes
gementes e seus arpejos divinais, o que me espedaça as mais íntimas fibras do
coração, não terá a seu lado um apreciador devotado e até fanático. O
acompanhamento com todas as harmonias, com todos os concentos arrebatadores, é
muito mais difícil, em minha humilde opinião, do que um solo de rápida execução.
Eis porque o meu velho amigo e companheiro de longos anos, Quincas, não é para
mim um semi-deus. Se ele quisesse abandonar o solo e dedicar-se tão somente ao
acompanhamento, seria, incontestavelmente, o nosso primeiro violão. Já o conheço
há mais de 14 anos e não é de hoje que lhe canto esta ladainha (Catulo, 1908:4).
Temos aqui, conforme salienta Carvalho (2006) uma importante definição do
que seria a essência do choro para Catulo: uma práxis de “acompanhamento” típica da
linguagem do choro, que o poeta define como “acompanhamento dengoso, com todos
os seus acordes gementes e arpejos divinais”. Assim, conquanto existissem violonistas
que solassem bem, como Quincas Laranjeiras, os verdadeiros chorões seriam aqueles
com o dom de acompanhamento, conforme se percebe nas descrições que se seguem:
Vamos agora aos acompanhadores de choros, capazes de emocionarem os mais
refratários à música, os mais gelados corações.
Não quero referir-me a eles sem falar de um excelente e soberbo solista, a quem
perdôo o crime, por abraçar fervorosamente o repertório das polcas e valsas
brasileiras, principalmente o que se diz choro.
É o Manduca Catumby. Sem contestação sola bem, conquanto seja fraco
acompanhador. Não o melindro com isso, porque ele sabe que o aprecio.
O meu antigo amigo e companheiro Satyro Bilhar é um primor na sua escola, criado
por si mesmo, carregando atrás de seu mavioso violão um bando de satélites
impertinentes, que não o podem imitar nem de longe. Chico Borges, outro velho
camarada, é o grande acompanhador de flauta e sem dúvida um dos primeiros. É
170
digno rival de Neco, que nada lhe fica devendo, quando geme ao lado de uma
queixosa e soberba flauta, ou de um cavaquinho do quilate de Galdino ou Mário,
dois terríveis que se podem bater, conquanto seja verdade que o Galdino é mais
antigo, e por isso, mais conhecedor desse instrumento, que só pode ser ouvido
quando tocado por um dos dois. Continuando nos violões:
Chico Albuquerque, o pinho respeitável, dos tempos áureos de Callado e Viriato,
hoje afastado do terno mas não esquecido dos calladianos acordes. Se tivesse
método e escola, com o que sabe, podia, sem grandes receios, enfrentar com o seu
antigo professor. Benigno, acompanhador firme, que não vacila e não teme o
cantante. Ventura, uma lira opulenta de boas harmonias, mas um tanto exagerado
por vezes. Com a longa prática que tem, seria um extraordinário acompanhador, se
soubesse comedir-se um pouco.
É interessante cotejar as descrições acima com as de Gonçalves Pinto,
realizadas 28 anos depois, sobre os mesmos personagens: “O nome de Neco, na roda de
choro, é um santuário, é uma veneração na formação dos seus acordes maravilhosos e
embriagantes de harmonia nas passagens das tonalidades das músicas difíceis, que sem
lisonja só ele sabe fazer” (70). “Bilhar era um chorão que tinha primazia entre outros
chorões nos acordes, nas harmonias, no mecanismo de dedilhação com que manejava
agradavelmente seu violão” (52). “Manduca de Catumby era um chorão solista e bom
acompanhador que pouco se utilizava dos bordões, porém fazia proezas nas cordas de
tripas, sendo por esta razão respeitado e admirado por outros chorões” (53). [Sobre
Chico Borges] “O violão nos seus dedos era um hino de encantar. Fazia no violão coisas
de suplantar. Tocava todos os tons com sublimes acordes, fazendo encantos de admirar”
(107).
Duas questões interessantes podem ser apontadas a partir desta comparação. A
primeira diz respeito ao próprio conceito de choro: enquanto Catulo conceituava como
“chorões” apenas aqueles que dominavam a práxis do “acompanhamento” do choro,
Gonçalves Pinto — ainda que reconheça em diversas partes do livro a importância do
acompanhamento, como veremos — não hesita em classificar como chorões não só
aqueles que apenas “solavam”, mas também os instrumentistas “facões” (gíria da época
171
para os maus tocadores) e todos aqueles que participavam de alguma forma da roda,
fosse promovendo festas, fosse apenas ouvindo e sendo “amigo dos chorões”, caso do
jornalista Vagalume, citado anteriormente. Desta forma é possível afirmar que o seu
conceito de choro abrangia não só a prática musical, mas todo o contexto social em que
a música era realizada, todo o conjunto de “personagens” que rodeavam sua execução,
bem como todos os discursos que rodeavam aquele gênero musical; assim, em última
análise, o discurso do “Animal” aponta para a construção de uma rede de sociabilidade
em torno de uma prática musical.
Voltando ainda ao conceito de Catulo, podemos observar como a referência à
questão do “acompanhamento” era de suma importância para os músicos já em 1908, a
ponto de Cearense definir o bom músico pela sua capacidade de dominar esta práxis.
Ainda que Gonçalves Pinto tenha uma visão mais ampla sobre este conceito, é nítido o
fato de que o bom acompanhamento “com todos os seus acordes” (frase aliás bastante
recorrente no livro de Pinto e também citada por Catulo) era questão vital para a prática
do choro; assim, são muitas as citações no livro sobre este tema: Heitor Ribeiro,
funcionário dos telégrafos, quando agarrado ao violão, tocava um acompanhamento
“com todos os seus acordes” que fez o autor “ficar babado pelo gosto que sentia” (51); o
já citado Chico Borges “tocava todos os tons com sublimes acordes” (107); Zé
Russinho, que se destacava por reunir em seu acompanhamento ao violão “o saxe e o
bombardão” (pág 192). A importância do cavaquinho aparece também em diversos
trechos: assim, ao ser convidado para uma roda onde não havia cavaquinhista, o autor
foi logo instado a tocar o instrumento, oferecido pelo dono da casa, pois “todos os
chorões sabem que este instrumento é de uma necessidade de grande valor” (50). Da
mesma forma, Galdino Cavaquinho tirava “infinidades de tons e combinações de
acordes que me é aqui difícil descrever” (54). Também transparece no livro a
172
importância que os solistas davam aos bons acompanhadores, a ponto de alguns
músicos se tornarem “acompanhadores exclusivos” de determinados solistas: assim o
cavaquinhista Abrahão era “o acompanhador efetivo do chorado clarinetista João dos
Santos, que não o dispensava por cousa alguma; pois só ele conhecia o seu segredo”
(191). A qualidade do acompanhador também determinava o repertório a ser tocado na
roda: Raul Flautin solava “músicas de arrepiar carreira” e também “outras de fácil
acompanhamento”, pois “tocava conforme o valor dos acompanhadores” (149).
De todas as citações acima tira-se o fato do quanto o acompanhamento era
vital para o ambiente do choro: mais ainda, do quanto este acompanhamento se
constituía como uma práxis bem definida, uma espécie de linguagem falada por aqueles
instrumentistas. É interessante notar como o autor esbarra continuamente na dificuldade
de tentar definir esta práxis com palavras, daí o freqüente uso de locuções como “me é
muito difícil descrever”, “é impossível descrever nestas toscas linhas” o
acompanhamento de fulano, etc. A questão do acompanhamento me parece ser um
ponto de vital importância para os músicos de choro e que normalmente passa ao largo
da bibliografia sobre o tema: este será um ponto abordado de forma mais aprofundada
no quarto capítulo deste trabalho.
A segunda questão importante na comparação entre os escritos de Catulo e
Pinto diz respeito ao extremo cuidado com que este último se referia aos seus
companheiros de choro, em comparação com a postura extremamente crítica do
primeiro. Aliás esta parece ser outra diferença marcante entre O Choro e os escritos de
Vagalume e Catulo: enquanto estes adotam posturas verdadeiramente militantes em prol
do samba versus a industrialização (Vagalume) e em prol da modinha versus o samba
(Catulo), com críticas ferozes a diversas personalidades da época (ver Carvalho, 2006:
173
44), transparece no livro de Pinto o cuidado de evitar a descrição de qualquer fato ou
qualidade desabonadora de seus “personagens”. Veja-se por exemplo o seguinte trecho:
Eis aqui a conclusão da segunda parte do meu livro onde descrevi sem o mínimo
ressentimento os personagens de muitos chorões só no intuito de valorizá-los. E se
muitas vezes de passagem toquei nas vidas intimas de algum deles foi tão somente,
relembrando fatos históricos que me ocorreram sem a mínima malícia de ofendêlos pois me foi necessário assim proceder para dar o cunho real no perfil de cada
um só tendo em mira enaltecer fatos e costumes de todos os chorões dentro do tema
que iniciei e arquitetei em reviver o passado destes distintos companheiros
musicistas que se achavam esquecidos, porém, descrevi-os dentro dos limites da
veneração e do respeito pois não podia eu de modo nenhum descrever um mundo de
saudades sem me intervalinhar com a minha humildade perante as grandezas
artísticas valorizadas nos feitos de cada um destes grandes protagonistas da música.
Com estas minhas toscas linhas pretendo desfazer qualquer um juízo mau que
porventura possa se fazer de mim, ficando deste modo desfeito as maledicências
que, por um acaso possam ser dirigidas irrefletidamente por espíritos malévolos, na
certeza que só primei na elevação de fazer surgir os feitos dos meus saudosos
companheiros inolvidáveis, que se foram, e patentear uma homenagem e um
verdadeiro exemplo de confraternização aos chorões d'agora (112, grifo meu).
Este trecho demonstra claramente o quanto o autor estava consciente de estar
escrevendo não apenas para a posteridade, para que as “gerações futuras” soubessem
que “existiu essa grande falange de chorões que elevaram e inalteceram as músicas
genuinamente brasileiras” (207), mas também para seus contemporâneos, seus
companheiros de choro, como já apontado nos dois primeiros capítulos. O fato de haver
- pelo menos entre uma pequena comunidade de chorões contemporâneos do autor e que
ainda eram vivos em 1936 -, certa expectativa em torno do livro a ser publicado é
reforçado por algumas passagens da obra. Um exemplo é a nota “Acontecimento
Imprevisto”, colocada à última página:
Venho por meio destas linhas dar uma satisfação aos meus amigos leitores
relativamente a demora da saída do meu livro O "Chôro" que deveria ter saído
muito antes do Carnaval. Assim não aconteceu por motivos muito independente da
minha vontade, pois, o prelo onde tinha que ser impresso quebrou [...] (id. 208,
grifo meu)
Outro aspecto que reforça o aspecto dialógico do livro é o fato do autor
constantemente se reportar diretamente ao instrumentista descrito, como no caso do
174
violonista Juca Russo, que presumivelmente se encontrava doente à época em que Pinto
escrevia, conforme se observa neste trecho: “Da minha mesa de trabalho, faço votos ao
bom Deus que tu fique [sic] completamente bom da tua moléstia, para a minha
satisfação e a elevação das nossas músicas que tu tanto adora.” (196).
Surge daí uma outra questão interessante e que diz respeito à identidade do
grupo de “chorões” descrito no livro. Como assinalado no primeiro capítulo, um dos
principais objetivos de Gonçalves Pinto era descrever os instrumentistas do choro como
um grupo coeso e unido:
Havia mais camaradagem, mais respeito e sobretudo harmonia... até na musica,
porque o "chôro" era constituído de uns blocos indissolúveis. Onde ia a corda, ia a
caçamba, de modo que, onde estivesse presente fulano, estariam tambem sicrano e
beltrano. (id, 116)
A questão poderia então ser colocada da seguinte forma: até que ponto estes
chorões se constituíam realmente como um bloco coeso? A possibilidade de que os
encontros musicais descritos por Gonçalves Pinto não fossem tão harmoniosos como
daria a entender o autor é citada por Carvalho (2006: 39), que exemplifica o fato citando
este trecho do livro:
Os bairros mais prediletos dos chorões eram: Catumby, o bairro do agrião [...]. Os
catumbyenses eram também chamados de “papas-couves”. Os “choros” em
Catumby eram um tanto arriscados, por que ali se abrigavam os maiores valentões
da época, que constituíam os famosos partidos dos Nagôas e Guayamus, que não
raro se coligavam para uma verdadeira guerrilha com um outro partido denominado
“Santa Rita”. Do mesmo modo que os de Catumby se coligavam, também os do
outro bairro de Santa Rita se uniam ao pessoal da Saúde e Saco de Alferes, que
constituíram os bairros de Santo Cristo e Gamboa. Estas “pegadas” eram medonhas
e às vezes envolviam o pessoal da Glória e Catete. Eis a razão porque os “choros”
em Catumby eram um tanto perigosos. (116-117)
Haveria assim uma contradição de Gonçalves Pinto ao se referir por um lado
ao clima de “harmonia”, “respeito” e “camaradagem”, e por outro mencionar as
“pegadas” em alguns ambientes do choro? Não creio que se possa responder a esta
pergunta de forma peremptoriamente afirmativa ou negativa: ao contrário, creio que a
175
questão pode nos ajudar a entender melhor o processo de inserção do choro em outros
contextos culturais da época. Aliás, esta é sem dúvida uma característica das mais
importantes na análise de um livro como O Choro: pela própria característica
fragmentada da narrativa e também pelo fato do autor citar frequentemente fatos
históricos que não fazem mais parte do “senso comum”, ou que pelo menos não fazem
mais parte do conhecimento do leitor médio do século XXI, é preciso estar sempre
contextualizando historicamente os fatos narrados. Assim, no trecho citado acima é de
vital importância a menção aos “famosos partidos dos Nagôas e Guayamuns”: o autor se
refere aqui a duas maltas de capoeiras que dividiam o Rio de Janeiro no final do século
XIX. Segundo o historiador Carlos Eugênio Líbano Soares, havia lutas de grupos (ou
maltas) de capoeiras que dominavam regiões da cidade como verdadeiros estados
paralelos:
Cada freguesia do Rio tinha um grupo diferente. Quando outro invadia seu espaço,
era a senha para o confronto. Havia um controle informal, uma geografia inquieta
semelhante à atual guerra das drogas. Assim como hoje há, no Rio, o Comando
Vermelho e o Terceiro Comando, havia na época nagoas e guaiamus. Os nagoas
dominavam a periferia, são grupos de origem africana, e os guaiamus dominavam o
centro da cidade. Eles estavam disputando espaço o tempo todo e em confronto
constante também com a polícia. A partir de 1870, quando surgem os interesses
políticos, a polícia passa a ser tolhida pelo poder político. A política interfere na
polícia, assim como acontece hoje. E a polícia, ao invés de ser vetor da ordem,
passa a ser vetor da desordem, por conta da corrupção e dos interesses políticos
envolvidos na manutenção dos capoeiras (Soares, entrevista disponível em
http://www.angola-ecap.org/spip.php?article114&id_rubrique=1, consulta realizada
em 26 de agosto de 2008).
É interessante notar como o depoimento de Soares é inteiramente corroborado
por Pinto em dois trechos de seu livro. O primeiro reforça a questão das brigas entres
facções rivais e é citado também por Carvalho (2006):
Às vezes num baile (...) descobriam um convidado pertencente a um partido
contrário, de outro bairro. A festa corria bem, mas no final, depois que o ‘choro’
tocava o ‘galope’, o ‘estrangeiro adversário’ se preparava para sair com a ‘dama’ a
seu lado. Ouvia-se o brado: ‘Quem trouxe, não leva!’. E o pau comia gente! O
mesmo sucedia quando o pessoal de Catumby saía de seu reduto e ia para os lados
do morro do Nheco, Morro do Pinto, Praia Formosa, Saúde e Saco de Alferes (117).
176
O outro trecho deixa clara a relação entre a capoeira e a política da época:
Nesta época só existiam estes dois [partidos políticos, o liberal e o conservador],
que eram disputados pela força do dinheiro, da vingança da traição, dos crimes, e de
cenas de pugilatos pelos capangas e chefes de malta, dos partidos de capoeiragem,
Nagôas e Guayamús salientados pela faca, pela navalha, pela cabeçada, pelo tombo
bahiano, pelo rabo de arraia, pelo calçador e mais as infalliveis rasteiras e pantanas,
e mais muitos outros golpes deste sport genuinamente brasileiro, que dominavam
no tempo da Monarchia. Os politicos d'aquelle tempo aproveitavam estes elementos
fazendo de seus chefes, cabos eleitorais verdadeiros "leões de chacara",
distribuidores das urnas eleitorais em defesa de suas eleições, defendida deste
modo, pela flôr da gente como eram conhecidos pelas tropas partidárias. (111)
Esta ligação do choro com a capoeira é sem dúvida muito interessante e ao
mesmo tempo pouco estudada. Pela descrição de Pinto no Catumby é possível afirmar
que havia chorões que eram também capoeiristas e membros destas “facções” rivais.
Pinto cita dois ao longo de seu livro: Tadeuzinho, estafeta dos telégrafos, flautista de
cor parda “era um grande atleta no jogo da capoeiragem, de uma agilidade sem nome”,
e nunca havia sido derrubado por nenhum de seus colegas (28). Jorge Guerreiro era
violonista, solava muito bem polcas e valsas, sendo também “um grande capoeira”, que
“jogava no partido Nagô” (202). Uma vez que havia chorões capoeiristas, não há razão
para se supor que os conflitos entre as facções nagoas e guaiamus citados por Pinto não
se estendessem também aos músicos que faziam parte desta interseção entre choro e
capoeira, razão pela qual Carvalho (2006: 40) contesta a afirmativa do “Animal” de que,
em brigas como estas “todo mundo podia dar e apanhar, menos os músicos que eram
considerados verdadeiras divindades” (117).
Em todo o caso, a não ser pelo fato das disputas entre maltas de capoeiras, o
que o autor se esmera em apresentar ao seu público é uma comunidade que ainda que
formada por um contingente bastante heterogêneo — funcionários públicos, operários,
músicos profissionais, intelectuais, etc — compartilhava uma linguagem musical
comum, a linguagem do choro, presente em bairros tão distintos como Botafogo, Jardim
177
Botânico e Gávea (os bairros até hoje considerados como “nobres” no Rio de Janeiro)
até a Cidade Nova e os subúrbios da Central do Brasil, como vimos no capítulo dois.
3.2) “O Choro” e a Indústria Fonográfica
Cumpre agora analisar outro aspecto importante: a relação destes primeiros
memorialistas com a indústria fonográfica. Iniciaremos nossa análise fazendo
novamente um paralelo entre os escritos de Gonçalves Pinto, Catulo e Vagalume: como
afirmamos anteriormente, Catulo guardou ao longo de toda sua vida uma postura hostil
ao aparecimento do samba e de sua consolidação na indústria fonográfica da época,
conforme se observa neste trecho citado por Carvalho (2006)
Hoje, no Brasil, pululam os “bardos nacionais” e nenhum deles deixa de compor
sua marchinha, seu samba ou sua canção, falando sempre na ‘Cabocla’, no
‘malandro’, no ‘Brasil pandeiro’, nome este acapadoçado, que até melindra a nossa
brasilidade. Os célebres trovadores, não sei por que, fizeram dos morros o seu
Parnaso, esses lugares evitados em outros tempos por todas as pessoas. (...) Basta
que um sujeito escreva um samba em que capadoçalmente, fale em Brasil, para que
logo seja considerado um poeta de vôos nacionais (Cearense, 1943, apud Carvalho,
2006:45).
Este ataque ao samba revelava, segundo Carvalho, uma postura em defesa da
modinha, gênero em que Catulo se notabilizara, escrevendo diversos livros em formato
de “cancioneiros” (ou seja, com letras para músicas em voga na época) de grande
sucesso popular nas décadas de 1910 e 1920, lançados em grande parte pela livraria
Quaresma. É muito importante, entretanto, que conceituemos esta modinha: ainda que
com raízes no início do século XIX (ver Sandroni, 2001) a modinha de Catulo é
essencialmente a música dos choros (valsas, schottischs, polcas, etc) com letra. Pelo
livro de Gonçalves Pinto sabemos que ela fazia parte do ambiente do choro da época: há
diversas descrições de rodas onde em determinado momento cantavam-se modinhas,
bem como descrições de cantores.
178
Da mesma forma, Vagalume, embora em uma posição diametralmente oposta
à de Catulo, já que se colocava como ardoroso defensor do samba praticado por alguns
ícones como Sinhô e Caninha, também desferia violentos ataques à indústria
fonográfica da época. Esta intenção fica clara logo no prefácio, onde o autor declara que
escreveu suas crônicas com o intuito de
reivindicar os direitos do samba e prestar uma respeitosa homenagem aos seus
criadores, àqueles que tudo fizeram pela sua propagação. Não tive outro objectivo,
se não separar o trigo do joio... Hoje, que o samba foi adaptado na roda «chic», que
é batido nas victrolas e figura nos programas dos rádios, é justo que a sua origem e
o seu desenvolvimento sejam tambem divulgados. (Guimarães, 1933:22)
Já o livro de Gonçalves Pinto apresenta uma relação com a indústria
fonográfica que poderia, em um primeiro momento, ser classificada como ambígua.
Normalmente as críticas do livro aos novos meios de comunicação se apresentam como
“ressonâncias” de críticas na voz de seus “personagens”. Assim, é significativo que ao
falar sobre Catulo o autor afirme o seguinte:
Hoje só imperam as músicas estrangeiras barulhentas e irritantes ou então os
sambas e marchas que tem glorificado alguns cantores modernos, enquanto isso
Catullo tem mesmo saudades dos antigos trovadores que interpretavam as suas
produções com tanta alma. (56)
Para Carvalho (2006) esta passagem evidencia o fato de que em 1936 Catulo
“já era considerado representante de um tempo distante, um músico antigo,
ultrapassado” (Carvalho, 2006:22). Mais do que isso, entretanto, creio ser possível
afirmar que o trecho citado acima representa uma ressonância do discurso de Catulo na
voz do autor, pois, como veremos, Gonçalves Pinto nem sempre adota o mesmo
discurso ao longo do seu livro. Esta linha de discurso também aparece na descrição de
outros chorões, também críticos da indústria fonográfica da época. Assim, o violonista
Zé Gávea estaria “hoje [1936] afastado por não se conformar, de maneira alguma, com
as músicas americanas de arribação.” Costinha, grande pianista era “afamado e
admirado”; entretanto, “com a sincronização e o rádio a música decaiu bastante, sendo
179
obrigado o chorão acima a retirar-se à vida privada” (203). Antonio Maria era também
grande flautista que passou a tocar saxofone “muito a contragosto dos seus inúmeros
admiradores, porque o saxofone é hoje em dia o instrumento da moda, figura obrigada
[sic] nos fox-americanos” (165). Até que ponto estes discursos representam o
pensamento do autor ou a “ressonância” do pensamento dos descritos é uma questão
interessante de ser colocada, já que em diversos momentos o autor exalta o maior meio
de comunicação da época: o rádio.
Assim, logo na primeira parte do livro Gonçalves Pinto afirma que não citará
artistas de rádio, por serem eles já bastante conhecidos do público em geral (42).
Entretanto este aviso não é feito com o mesmo tom de discurso usado na descrição de
Catulo; pelo contrário, o autor afirma:
Quanto aos artistas do Radio deixo de mencionar seus nomes pois todos elles podese dizer, que são artistas de hoje, e que todos os conhecem os seus feitos, e
gloriosos, através deste aparelho que é a admiração do mundo inteiro. Todos
conhecem bem, o quanto merecem não só pelas suas encantadoras vozes, como
também pelos os instrumentos que os acompanham pois que são de uma
sublimidade impossível de descrever-se.
Apesar do aviso, Gonçalves Pinto faz diversas citações a grandes artistas de
rádio, tanto de instrumentistas do choro quanto de cantores. Assim, sobre o bandolinista
pernambucano Luperce Miranda, músico com grande atuação nas rádios e nas
gravações de discos da época, ele afirma:
E' admirável o ouvir-se pelo Rádio, as suas dedilhações naquele pequeno
[instrumento] por ele com maestria manejado. Julgo, e quase sou capaz de apostar
que no Brasil inteiro não terá outro igual. (...) No Radio onde o escuto, fico absorto
ao ouvi-lo, digo para mim, será possível, haver um gênio igual? Também fui
chorão, e sei dar o valor aos grandes maestros, como é Lupercio” (48).
Também o saxofonista Luiz Americano era instrumentista excepcional, sendo
suas composições “belíssimas, pois me extasio ouvindo-as no rádio que tenho na minha
residência, para me deliciar com as músicas de um sublime sopro” (id. 178). Já
180
Francisco Alves, alvo principal de Vagalume, é descrito como “primus interpares dos
cantores da atualidade”, “um farol que ilumina o meio aonde ele é apreciado com
verdadeira justiça”, concluindo o autor sua descrição da seguinte forma:
Progrida pois cada vez mais, meu bom Francisco Alves, para que, daqui a meio
século, possa ser descrito, pelos chorões da minha tempera, os teus feitos, fazendo o
estímulo na phalange que pertences, pelo modo e maneiras que cantas, que tocas e
interpreta as músicas genuinamente Brasileiras. (134)
De modo geral, o que se percebe no livro de Gonçalves Pinto é que, apesar de
algumas críticas às “músicas americanas de arribação” propagadas pelo rádio, que,
como já dito, muitas vezes parecem ser “ressonâncias” do pensamento de
instrumentistas contemporâneos do autor (como o próprio Catulo), há uma clara
intenção de valorizar os artistas de rádio que se dedicavam à música brasileira: mais
ainda, é como se o autor não visse no rádio uma verdadeira ameaça à existência do
choro, e tivesse muito consciente de que havia uma linha histórica que passava dos
chorões antigos aos chorões “modernos”, estes últimos já imersos na indústria cultural
da época. Assim, é muito significativo que o autor, ao falar sobre a polca, afirme:
A polka cadenciada e chorosa ao som de uma flauta, fosse o flautista o Viriato, o
Callado, o Rangel ou seja o Pixinguinha, o João de Deus ou Benedicto Lacerda; um
violão dedilhado outr'ora, por Juca Valle, Quincas Laranjeira, Bilhar, Néco ou
Manduca de Catumby e hoje por Felizardo Conceição, José Rabello, Coelho Grey,
Donga, João Thomaz, etc.; um cavaquinho palhetado hontem por Mario, Chico
Borges, Lulu' Santos, Antonico Piteira e hoje pelo mestre dos mestres Galdino
Barreto, Nelson, João Martins – foi, é e continuará a ser a alma da dansa
brasileira.(115, 116)
Ao enumerar instrumentistas “antigos” e “modernos” — Viriato e Callado x
Pixinguinha e Benedito Lacerda, Bilhar e Quincas Laranjeiras x Donga e José Rabello,
Mário Alvarez x Nelson Alves — Gonçalves Pinto traça uma linha histórica dos
grandes instrumentistas do choro onde procura defender a ideia de que a essência da
prática musical (no caso a polca) não se modificava, ainda que os “modernos”
estivessem em sua maioria atuando em um contexto diferente — o rádio e o disco —
181
daqueles em que atuavam os “antigos” — os bailes, as serenatas e as rodas de choro.
Fica aqui muito clara esta característica de “historicização” dos gêneros musicais,
apontada por Moraes como uma das características destes primeiros memorialistas da
música popular urbana. Apenas é de se perguntar por que o choro parece ter sofrido
menos com o choque da indústria fonográfica do que o samba, pelo menos quando se
compara as visões de Alexandre Gonçalves Pinto e de Vagalume sobre o tema. Para este
último, a “victrola” seria a verdadeira “profanadora” do samba, por dois motivos
básicos. O primeiro seria pela
falta de escrúpulo dos editores, pela ganância de alguns autores e principalmente
pelo monopólio exercido por certo grupinho, que constitui a comissão julgadora
d'aquillo que deve ser gravado ou que entre em concurso. (Vagalume, 1933: 142)
O segundo se daria pelo fato de que, ao ser transformado em produto pela
indústria cultural, o samba teria perdido também muito de suas características musicais:
Não queremos este samba dos concursos officiaes, com orchestra de companhia
lyrica...O samba, o tradicional samba, deverá ser executado com todos os seus
instrumentos próprios: a flauta, o violão, o réco-réco, o cavaquinho, o ganzá, o
pandeiro, a cuica ou melhor o omelê e o chocalho. Neste andar, exigirão amanhã
uma prima-dona, uma soprano-leigeiro, um tenor, um barytono e um baixo, com o
respectivo corpo de córos, para cantarem, e umas bailarinas russas para dansarem o
samba. (id: 157)
Esta última crítica está diretamente relacionada à questão dos arranjos
musicais como “intermediadores” entre as práticas musicais populares e a indústria
cultural, tema abordado no trabalho de Paulo Aragão (Aragão, 2003). Para este autor, “o
repertório popular, na forma como praticado por seus agentes originais, parecia revelar
“defeitos” na forma de apresentação, inaceitáveis para o padrão estabelecido pela
indústria fonográfica.” (id: 29). Tais “defeitos”, é preciso que se entenda, eram na
maioria das vezes aspectos musicais que não se adequavam ao padrão imposto pela
nova indústria: características de emissão vocal, “forma musical”, conteúdo das letras
das canções e principalmente o uso dos instrumentos de percussão — estes últimos,
182
além de estarem ligados frequentemente a idéia de “rudeza” e “primitivismo”,
constituíam um problema para os técnicos de som da época (Aragão, 2003). Dessa
forma, a figura de arranjadores que “filtrassem” estes elementos “impuros” era de vital
importância para a indústria que nascia: é significativo se notar, por exemplo, como as
primeiras gravações dos sambas do Estácio, realizadas por Francisco Alves com
arranjos de Simon Boutman, utilizam realmente orquestras compostas por instrumentos
de cordas e sopros, sendo quase ausente o elemento percussivo.
Este é então um ponto central para entendermos a razão pela qual o choro
parece ter “sofrido” menos no seu processo de incorporação à indústria fonográfica: por
seu próprio caráter instrumental e pelo fato de que suas matrizes (representadas em
grande parte pelas danças européias como a polca, a valsa, etc) estavam mais próximas
dos novos padrões estéticos exigidos pelo rádio e pelo disco, os instrumentistas de
choro foram os verdadeiros alicerces desta nova indústria, muitas vezes funcionando
como intermediadores ou “tradutores” de outros gêneros musicais (como o samba) para
os novos padrões exigidos. A importância da formação típica do conjunto de choro,
formado por violões, cavaquinho, pandeiro e instrumento solista, os chamados
“regionais”, aparece neste testemunho do músico César Farias, citado por Aragão
(2003)
Jacob [Bittencourt, o Jacob do Bandolim] tinha ojeriza pelo nome de regional
porque regional sempre foi um tapa buraco, como ele dizia. Às vezes nós estávamos
lá na rádio com a nossa programação para fazer, e aí aparecia uma cantora que só
cantava clássico, e se faltasse mais um número para completar o tempo do
programa, a gente era chamado: Ô ô ô regional! E aí o regional ia cobrir aquele
buraco. Ele tinha pavor disso, queria acabar com esse nome de regional.
A questão crucial para o entendimento da postura de Gonçalves Pinto frente à
indústria fonográfica da época parece ser explicada não por uma antinomia entre o
“antigo” e o “novo”, entre as serenatas e rodas de choro e as transmissões de rádio e os
183
discos, mas sim por uma tentativa de estabelecer uma linha de continuidade histórica
entre estes dois universos. Se por um lado o autor apreciava os “novos” intérpretes e os
“novos” repertórios, por outro lado é patente o desejo de preservar o repertório de
composições dos chorões de fins do século XIX e das primeiras décadas do século XX ,
conforme se vê neste trecho em que o autor retrata o conhecido flautista Benedito
Lacerda:
Bem poucos farão o que Benedicto faz, com seu sopro admirável, com uma perfeita
teoria musical, de fazer o mais cético das criatura entusiasmar-se ao ouvi-lo. Daqui
destas toscas linhas, vou fazer um pedido a Benedicto, de dar expansão as musicas
nunca esquecidas dos sempre lembrados e chorados flautas, que foram Callado,
Viriato, Capitão Rangel e Luizinho, todos estes foram planetas, que passam depois
de centenares de annos. Talvez o grande flautista, não executes estes choros, pela
difficuldades em obtel-as, procurando na rua Mattos Rodrigues n. 31, o grande
professor Cupertino, pois tem o mesmo no seu caderno quasi, ou todas as musicas
destes immensos chorões, que os seculos não trarão mais. Tenho assim a plena
certeza, que o bom do Cupertino, cederá pois terá muito prazer em ouvir de um
musico como Benedicto, expandil-a pelo Radio, não só perpetuando a memoria
delles, como fazendo o encanto da população, que pelo Radio se extasiará ao ouvir
esas bellissimas musicas, que muito agradecerá ao Benedicto e o escriptor destas
apoucadas linhas. (148, grifo meu)
Não deixa de ser comovente o modo como Gonçalves Pinto se remete
diretamente àquele que era sem dúvida um dos maiores expoentes do choro na época
áurea do rádio para solicitar a execução do repertório dos chorões antigos, chegando
mesmo a dar o endereço do “professor Cupertino”, que detinha um grande acervo de
partituras de choro. Seus receios não eram infundados, uma vez que realmente boa parte
do repertório do choro do período de final do século XIX e das duas primeiras décadas
do século XX seria praticamente esquecida durante a segunda metade do século XX.
Como veremos no capítulo quatro tal ruptura só não foi maior porque alguns poucos
compositores, como Pixinguinha e Jacob do Bandolim, funcionaram como verdadeiras
“pontes” entre a música do choro destes dois períodos, constituindo acervos de
partituras antigas e realizando gravações fonográficas de muitos destes compositores
“pioneiros”.
184
Há mais um aspecto importante a ser ressaltado na relação entre os chorões
descritos por Gonçalves Pinto e a “nova” geração “profissional” que integrava os casts
de rádios e gravadoras, e que diz respeito às mudanças no paradigma de
acompanhamento do choro. Ora, o processo de profissionalização dos instrumentistas
de choro vai coincidir historicamente com o surgimento de um novo padrão rítmico de
acompanhamento do samba, qualificado por Sandroni (2001:27) como contramétrico.
Em outras palavras, ao invés de uma acentuação baseada na primeira, terceira, quinta ou
sétima semicolcheia de um compasso de 2/4 (com oito semicolcheias, portanto), uma
articulação “totalmente contramétrica”, no dizer de Sandroni, seria aquela com
acentuações na segunda, quarta, sexta e oitava semicolcheias do compasso, ou seja,
contrariando o esquema métrico usual do compasso. Este padrão contramétrico seria,
ainda segundo Sandroni, a base do novo paradigma rítmico do samba surgido no bairro
do Estácio de Sá, e que posteriormente seria incorporado, em gravações comerciais e
transmissões radiofônicas, como o novo padrão de samba, por substituição às práticas
musicais do passado, como a polca e o samba-amaxixado1.
Essa mudança de paradigma rítmico pode ser considerada como um turning
point tanto para o samba como para o choro, muito embora não haja até hoje, a meu
ver, estudos detalhados sobre a incorporação destes padrões contramétricos ao choro
especificamente. Diversas fontes, entretanto, apontam para o papel fundamental de
Benedito Lacerda neste processo; entre estas fontes incluem-se discursos de “nativos”,
ou seja, músicos de choro da atualidade, que atribuem ao flautista e a seu conjunto o
1
Não há espaço neste trabalho para uma caracterização mais detalhada de estudos sobre cometricidade e
contrametricidade, nem sempre utilizados com o mesmo viés por etnomusicólogos como Kolinski e
Arom, conforme nos aponta Sandroni (2001:27). Utilizo-me da conceituação de contrametricidade de
Sandroni em parte pelo fato de que ela traduz a ideia de “sincopação” presente em discursos de músicos
de choro da atualidade. O “choro-sambado”, surgido a partir da atuação de Benedito Lacerda e,
posteriormente, Jacob do Bandolim, seria aquele baseado em padrões de “batida de tamborim”, com
acentuação na segunda, quarta, sexta e oitava semicolcheias respectivamente.
185
papel de criadores desta nova forma de choro, caracterizado por eles como o “chorosambado”:
Quem deu balanço ao samba e ao choro mudando um pouco a levada foi o
Regional de Benedito Lacerda, aprimorando ainda mais aquilo que Pixinguinha
havia feito que foi dar rítmica ao Choro (depoimento do bandolinista Déo Rian ao
autor desta tese, em 9 de janeiro de 2011)
A geração de meu pai e meu tio [os flautistas Álvaro e Altamiro Carrilho
respectivamente] identificava no Benedito o nascimento de uma nova forma de se
acompanhar o choro, que seria este choro-sambado. Essa forma de se acompanhar
era, de forma geral, baseada na batida do tamborim. A partir do Benedito e seu
regional, qualquer um que não tocasse seguindo este padrão “balançado” era
classificado como ‘quadrado’. Ou seja, quem só tocava no padrão antigo, o padrão
da polca, era considerado ‘quadrado’ (depoimento do violonista e arranjador
Mauricio Carrilho ao autor desta tese, em 10 de janeiro de 2011)
Para além dos depoimentos, uma análise das gravações do conjunto de
Benedito Lacerda nos permite comprovar o estabelecimento deste novo paradigma
rítmico. Iniciando sua carreira musical no ano de 1930 com o grupo intitulado
significativamente “Gente do Morro” – composto em sua primeira formação por
Canhoto (Waldiro Tramontano), cavaquinho; Gorgulho (Jacy Pereira) e Ney Orestes
(violões), Russo do Pandeiro e a eventual participação de Bide (Alcebíades Barcellos)
no tamborim (Zanardi, 2009: 25) – Benedito iria imprimir, logo em suas primeiras
gravações como solista, um novo estilo de acompanhamento ao conjunto. As primeiras
gravações do conjunto, aliás, são de sambas e não de choros, todos já com o novo
padrão rítmico que Sandroni associa aos sambistas do Estácio (a participação de
Alcebíades Barcellos, um dos mais importantes representantes deste “novo samba”
também é bastante significativa e certamente contribuiu de forma decisiva para o
estabelecimento do padrão de acompanhamento do grupo).
Assim, a primeira gravação de um choro pelo grupo, a música Gorgulho de
autoria do próprio Benedito Lacerda (discos Columbia 22129) já apresenta de forma
inconfundível a “levada” de tamborim que caracterizaria o padrão contramétrico.
186
Certamente a audição deste disco pelos chorões da “velha-guarda”, incluindo o próprio
Gonçalves Pinto, revelava pontos totalmente divergentes dos padrões tradicionais do
choro baseado na “levada” da polca. A partir de Benedito Lacerda, diversos outros
compositores e intérpretes, ao longo da segunda metade do século XX, iriam consolidar
este novo estilo de choro, enquanto o padrão de acompanhamento da polca seria, cada
vez mais, como comprovam os depoimentos citados anteriormente, associado a uma
“antiga forma” de se tocar.
Ainda que certamente atento ao aparecimento deste novo padrão de choro, o
discurso de Gonçalves Pinto procura, como dissemos, reforçar as características de
continuidade entre os antigos e novos instrumentistas. Ao mesmo tempo, não há dúvida
de que a percepção de que o choro se transformava, tanto em seus aspectos rítmicos
como em seus espaços de sociabilidade, foi certamente uma das principais razões para
que o carteiro procurasse consolidar a memória daqueles instrumentistas para quem a
polca – e não o samba – ainda se constituía como o principal veículo de entendimento e
propagação do choro.
3.3) Influências da intelectualidade: Mello Moraes, bumba-meu-boi e o choro
Vimos no segundo capítulo como, no prefácio de seu livro, Gonçalves Pinto
já elabora algumas idéias sobre origem e ancestralidade do choro; mencionamos
também o fato de Mello Moraes ser citado ao longo do livro como participante do
ambiente das rodas de choro. Cumpre agora estabelecermos com maior profundidade
possíveis influências e “ressonâncias” da obra e do pensamento de Mello Moraes na
obra de Gonçalves Pinto.
Antes de entrarmos neste ponto, entretanto, faremos uma análise mais
aprofundada sobre a forma como o carteiro se refere, ao longo de seu livro, a uma
187
possível ascendência africana. Se no prefácio Gonçalves Pinto se refere aos “costumes
bahianos” que teriam sido trazidos por “nossos queridos antepassados africanos”, há,
em meio ao livro, um verbete intitulado “Alvorada da música”, onde, conforme salienta
Braga (2002: 210) o carteiro procura filiar o choro às bandas de música formadas por
escravos das plantations de cana-de-açúcar e café do século XIX. Mais do que isso, é
possível constatar que Gonçalves Pinto atribui à música destas bandas um fator
preponderante para o processo de abolição da escravatura.
O verbete começa com uma pequena explicação geral sobre o caráter destas
bandas de música. Nota-se no trecho a tentativa de caracterizar os “tempos da
monarquia” como “tempos primitivos”, “sem instrução” e “sem cultivo”, onde
predominava a violência da política dominada pelos partidos liberal e conservador. As
bandas de escravo cumpririam então, pelo que se depreende do trecho, o papel de
amortizadoras de tais agruras:
As organizações das Bandas de Musicas nas Fazendas, para tocarem nas festas de
Igrejas, nos, arraiaes, longe e perto das antigas villas e freguezias, que são
consideradas hoje, cidades, davam um cunho de verdadeira alegria n'aquelle meio
tristonho, mas, sadio, sem instrucção, sem cultivo onde imperava a soberania dos
fazendeiros, grandes nababos, chefes dos partidos politicos, liberal, e conservador
(110-111, grifo meu).
A violência da política, a prática dos cabrestos eleitorais, o uso da força dos
capoeiras por parte dos “carrascos fazendeiros” para garantir votos à custa da força
física são então enfatizados, para que logo depois o carteiro passe a descrever as bandas
de música como um contraponto a este ambiente dominado por tensões. Ele começa por
enaltecer a qualidade dos músicos escravos, ainda que atribuindo o qualificativo “rude”
à música produzida por eles:
Em taes Fazendas haviam Bandas de Musica composta de escravos, e d'ellas
sahiram muitos músicos notaveis, que se identificaram com as harmonias dos seus
instrumentos. A musica rude das passadas éras da escravidão, do eito, onde o feitor
de bacalháu em punho tinha os fóros dos Cerberos infernaes (111).
188
Logo depois Gonçalves Pinto atribuirá à música produzida pelos barbeiros o
papel de catalisador do processo de abolição, conforme se depreende do trecho a seguir:
Foi depois destas organisações de Bandas de Musica, que se foi definando as iras
dos Fazendeiros, que afrouxaram as algemas e os grilhões das correntes de
martyrios dos infelizes escravos. Tal foi a magia das notas maviosas da musica que
conseguiu abrandar os duros corações dos grandes escravocratas, transformando
em alvorada de alegria as senzalas, que começaram a serem illuminadas pelo brilho
da estrella da Redempção, e os Abolicionistas, n'uma inspiração divina começaram
a adubar o canteiro do amôr e da igualdade, onde foi plantada a semente da flôr da
Liberdade, regada e cultivada pela mão dos grandes obreiros, esse bella apotheose
que foi a Lei Aurea de 13 de Maio de 1888 (111, grifo meu)
A ideia de que a música, e mais especificamente a música de “matriz africana”
teria o poder de “amaciar” as duras relações entre senhores de engenho e escravos não é
absolutamente de exclusividade de nosso carteiro. Ela estava presente nos escritos e
pensamentos de intelectuais como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda. É
óbvio que esta relação entre música e sociedade não era apontada como uma simples
relação de causa e efeito como no pensamento de Gonçalves Pinto, mas ainda assim
pressupõe-se, no pensamento destes intelectuais, a concepção de que uma música de
matriz africana seria em parte responsável por uma “suavidade dengosa e açucarada”
que envolveria “todas as esferas da vida colonial”, no dizer de Holanda:
O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época [ou seja, a época
colonial], uma acentuação singularmente energética do afetivo, do irracional, do
passional, e uma estagnação, ou antes uma atrofia correspondente das qualidades
ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer, exatamente o contrário
do que parece convir a uma população em vias de organizar-se politicamente. À
influência dos negros, mais ainda, e sobretudo, como escravos, essa população não
tinha como oferecer obstáculos sérios. Uma suavidade dengosa e açucarada invade,
desde cedo, todas as esferas da vida colonial (...). O gosto do exótico, da
sensualidade brejeira, do chichisbeísmo, dos caprichos sentimentais, parece fornecerlhe um providencial terreno de eleição e permite que, atravessando o oceano, vá
exibir-se em Lisboa, com os lundus e modinhas do mulato Caldas Barbosa (Holanda,
1999: 61)
Segue-se a esse trecho a transcrição de uma letra de modinha atribuída a
Caldas Barbosa, com referências às “nhanhãs” e aos “negrinhos”, como a exemplificar
esse “amolecimento” das relações entre senhores e escravos. Ora, o estudo de Sandroni
189
(2001: 39-61) já nos mostrou o quanto há de “construção coletiva” na atribuição de
características puramente africanas a gêneros como lundus e modinhas. Por outro lado,
Abreu e Dantas (2007) nos mostram a importância de intelectuais anteriores a Freire e
Holanda na criação de “um espaço que reconhecia e valorizava a presença ativa dos
descendentes de africanos na nação projetada” (op. cit). É o caso de Alexandre José de
Mello Moraes Filho (1844-1919), de quem passaremos a tratar.
Autor de diversas obras de caráter transitório entre o memorialístico e o
folclórico, Mello Moraes pode ser visto, segundo Martha Abreu (1998: 186), como um
dos primeiros teóricos da aproximação entre as diversas manifestações culturais
brasileiras, incluindo aí as de origens negras e indígenas, muito embora sua obra não
deixasse de refletir os conflitos e os preconceitos das elites sobre estas populações. Seu
livro mais importante, Festas e tradições populares no Brasil — dividido em quatro
partes: festas populares, festas religiosas, tradições e tipos de rua — além de ser um
exemplo desta aproximação intercultural e uma referência importantíssima para estudos
de folcloristas do século XX como Câmara Cascudo, Basílio de Magalhães, entre outros
(id. Ib), desafiou, no dizer de Abreu,
os cânones científicos europeizantes em voga ao identificar positivamente a nação à
mestiçagem e às tradições católicas. Na sua concepção, a festa, popular e católica,
tornava-se o local da criação do “povo” que, formado pela união do português, do
africano e do mestiço, era elogiado e valorizado em oposição a tudo que parecesse
estrangeiro. (Abreu, 1998: 173)
A pergunta que então se impõe é: seria possível identificar influências da obra
de Mello Moraes no livro de Gonçalves Pinto? Sabemos que Alexandre conheceu Mello
Moraes e que chegou mesmo a freqüentar rodas de choro em sua casa. Ao descrever o
“professor de música” Aníbal, que era “íntimo do sempre chorado, e lembrado dr. Mello
Moraes” (39) o autor afirma ter tido “a felicidade de acompanhá-lo [Aníbal] em muitos
e bons chôros na casa do grande intelectual Mello Moraes, que muito o admirava e o
190
estimava. Annibal, era o ensaiador do célebre Bumba meu boi, que muito gosto e prazer
deu àquella sempre chorada festa.” (id., ib.).
Sobre a questão do Bumba-meu-boi, aliás, há um trecho do livro, já citado no
trabalho de Carvalho (2006:27), que é bastante rico de significações, e por isso creio
que mereça ser desenvolvido aqui. O trecho, intitulado “Bumba meu boi” pode ser
resumido da seguinte forma: levado por seu amigo e também carteiro Candinho Ramos
— que era também compadre de Mello Moraes — para a festa do “Bumba meu boi” que
o escritor promovia anualmente em sua residência, Gonçalves Pinto acaba sendo
convidado para representar o papel do boi, “cargo” que exigia alguém de confiança, já
que o mesmo havia sido “escangalhado” em festas anteriores, algo extremamente
condenável uma vez que o boi “custava muito dinheiro”. Ciente destes cuidados o
“Animal” responde ao seu amigo Candinho: “não tenho receio pois sempre fui
cuidadoso em tudo que assumo responsabilidade!”. Passamos mais uma vez então a
palavra ao autor:
Candinho, radiante com a minha affirmativa, apresentou-me ao Dr. Mello Moraes,
como o homem escolhido para sahir no boi, ficando combinado logo a estréa para o
dia seguinte, na hora regimental lá estava eu firme para assumir o compromisso.
Entrei todo satisfeito no celeberrimo boi andando pelas ruas de São Christovão em
visita aos amigos do Dr. Mello Moraes, finalizando a jornada na bella vivenda do
saudoso Visconde de Ouro Preto, na rua 8 de Dezembro em Mangueira, mas o caso
interessante é que se meu antecessor foi pessimo boi eu ainda fui peior ! pois ia
pelas ruas afóra convencido mesmo que era um boi de verdade bravo, pulando,
dando marradas a torto e a direito em todas as pessôas que passavam e nas que
faziam parte da comitiva, de forma que quando cheguei em casa do inesquecivel
Visconde de Ouro Preto, o boi estava em petição de miseria com o carão todo
esfacelado com um chifre só e os pannos dos lados tinham ficado pelas ruas !
Candinho, quando reparou o estado do bicho, botou as mãos na cabeça me dizendo
compadre você me collocou mal com o compadre Mello Moraes ! respondendo eu,
na maior calma deste mundo: pois não foi para dar marradas que eu sahi no boi?
(13, grifos meus)
Este é sem dúvida um trecho que nos remete mais uma vez ao jogo dialético
da malandragem apontado por Cândido no romance Memórias de um Sargento de
milícias, principalmente pela forma algo cínica com que Gonçalves Pinto responde às
191
críticas de seu amigo Candinho, cinismo que o aproxima do anti-herói Leonardo2. Mais
do que isso, entretanto, o episódio é simbólico por demonstrar a diferença de
significações que as manifestações culturais assumiam entre diferentes estratos da
sociedade da época: para Mello Moraes, o principal promotor da festa do “bumba-meuboi” no Rio de Janeiro daquela época (“era o único que conservava a tradição de todas
estas festas antigas” tendo o bumba-meu-boi desaparecido na cidade após sua morte,
nos diz Pinto) a figura do boi deveria ser reverenciada como um verdadeiro símbolo das
tradições populares, enquanto que para o carteiro Alexandre Gonçalves Pinto o boi “era
para escangalhar, pois (...) dando cabeçadas, coices, etc, o bicho tinha que virar
frangalho!” (14). Em última análise o trecho pode servir de exemplo para evidenciar o
quão diferentes eram as concepções de festa entre os dois personagens: de um lado
Melo Moraes já prenunciando o arquétipo do folclorista, para quem as tradições seriam
“puras” e portanto “intocadas”; promovendo a festa mas ao mesmo tempo colocando-se
“do lado de fora” como um espectador e zelando para que o artefato cultural (o boi no
caso) fosse preservado. Já a postura de Gonçalves Pinto só pode ser analisada pelo mote
bakhtiniano da festa como possibilidade de abertura para uma outra dimensão da vida,
que não era certamente a “vida real”: assim, ele não estava simplesmente representando
o boi, mas sendo o próprio boi: “pois ia pelas ruas afóra convencido mesmo que era um
boi de verdade bravo, pulando, dando marradas a torto e a direito em todas as pessôas
que passavam e nas que faziam parte da comitiva”. (id., ib. grifo meu)
Este episódio ilustra ainda as possibilidades de trocas culturais entre estratos
sociais diferentes: o carteiro Candinho Ramos era compadre do intelectual Mello
2
Veja-se por exemplo o trecho do capítulo VI, em que Leonardo, instado pelo padrinho a ser padre, foge
de casa, acompanhando uma procissão onde “esqueceu-se de tudo, pulou, saltou, gritou, rezou, cantou”,
acabando por dormir em um acampamento de ciganos (do qual, aliás, Almeida nos dá uma vivíssima
descrição da dança do fado). Voltando a casa no dia seguinte, trava o seguinte diálogo com o padrinho:
“Menino dos trezentos... onde te meteste tu?” “Fui ver um oratório... Não diz que eu hei de ser padre?”
(Almeida, 1977: 21)
192
Moraes e freqüentava-lhe a casa, bem como outros músicos como o próprio Gonçalves
Pinto.
Retomamos então a pergunta feita anteriormente: seria possível identificar
influências da obra de Mello Moraes no livro de Pinto? Mais uma vez, não creio que se
possa dar uma resposta definitiva à questão: o mais que podemos é tecer comentários
mais ou menos ensaísticos sobre pontos convergentes e divergentes entre os dois
autores. É preciso também atentar para as diferenças de datas entre os escritos: Mello
Moraes escreve suas principais obras no início do século XX enquanto O Choro é
escrito na década de 1930. Dessa forma, uma explicação sobre as “origens” da música
brasileira onde o autor se coloca como um descendente de africanos seria algo
provavelmente impensável nos escritos de Moraes.
Entretanto, é possível encontrar pontos convergentes: um deles está presente,
conforme assinala Braga (2002: 210-215), no “verbete” intitulado “As nossas festas” do
livro de Gonçalves Pinto. Assim como no prefácio, temos aqui um grande número de
citações arroladas por vezes de modo embaralhado: o autor descreve sumariamente as
festas de Ano Bom, o Carnaval, a Semana Santa, a Páscoa e o Natal.
Significativamente, a descrição destas festas também está presente no clássico Festas e
tradições populares no Brasil de Mello Moraes. Obviamente as descrições de Mello
Moraes são muito mais extensas — há um capítulo para cada uma das festas, enquanto
no livro de Pinto elas são descritas em um único tópico. Terá havido influência de um
autor para outro? É algo difícil de ser respondido, mas julgo pertinente fazer duas
observações: a primeira é notar como o verbete “As nossas festas” aparece de forma
“deslocada” no livro de Pinto: é praticamente a única vez em todo o livro que o autor
cita estas manifestações populares: elas não tornam a aparecer nem como “pano de
fundo” das descrições dos chorões, que ocupam a maior parte do livro (com exceção do
Carnaval, citado quase sempre relacionado com os ranchos carnavalescos, que
193
constituíam o “ponto de ligação” entre o choro e as festas momescas). Esta constatação
nos leva ao segundo ponto: o de como as descrições das festas do calendário anual tem
um caráter inteiramente saudosista, presente em diversas citações ao longo do tópico.
Veja-se por exemplo uma das frases iniciais deste tópico: “Quem é capaz de ter no
esquecimento as festas de fim de anno das épocas remotas que começavam pelo Anno
Bom (...)”, e também a citação final: “Eis aqui em pallidas e cinzeladas palavras a
transcripção das grandes festas dos tempos que passaram, festas estas que tinham
resplendor e devotamento em cada um chorão da velha guarda, no correr do anno.” (65).
Este mesmo caráter saudoso permeia a descrição de Melo Moraes, como se vê neste
trecho, carregado de ironia pela modernização dos costumes: “Mas o Brasil é um país
adiantado; acha ridículas as tradições e desfaz-se delas; absolvendo os demais povos
dessas futilidades que envergonham, trata de encobri-las e mostra-se sério. No outro
tempo não era assim.” (Mello Moraes. s/d.: 33).
À parte a questão das festas populares, creio que podemos encontrar em outras
obras de Mello Moraes pontos que poderiam ser mais facilmente comparáveis às idéias
de Gonçalves Pinto. Veja-se por exemplo a introdução do livro Cantares Brasileiros
publicado em 1900, onde o autor faz uma veemente defesa da música popular urbana
carioca, tendo a modinha e o violão como tema principais. Este texto é deveras
surpreendente pois, como já sugeriram Abreu e Dantas (2007), põe em questionamento
duas idéias recorrentes entre pesquisadores e intelectuais da música brasileira das
décadas de 1980 e 1990: a de que “o pensamento intelectual da Belle Époque se voltava
preponderantemente para valores externos e para a europeização dos costumes” e a de
que a “música popular urbana teria sido sistematicamente condenada e desvalorizada
pelo meio intelectual da época” (Abreu e Dantas, 2007:127). Da mesma forma que
Abreu e Dantas (id), também não pretendo aqui combater estas idéias, nem tampouco
194
afirmar que elas seriam completamente falsas, mas apenas abrir um campo de
questionamento que nos permita aprofundar a discussão.
O livro Cantares Brasileiros traz uma compilação de letras e músicas
(incluindo a pauta musical) de modinhas, lundus e canções de diversos autores,
incluindo aí o próprio Mello Moraes. De cara nos chama a atenção uma parceria entre
este intelectual e o conhecido compositor de lundus Xisto Bahia: intitulada “A Mulata”,
é classificada no livro como “Canção Bahiana”. A letra de Mello Moraes poderia ser
confundida com qualquer letra de samba da década de 1930, pelo caráter de valorização
da mulata:
Eu sou mulata vaidosa
Linda, faceira, mimosa
Quaes muitas brancas não são!
Tenho requebros mais belos
Se a noite são meus cabelos
O dia é meu coração
Na introdução do livro o autor faz uma espécie de reconstituição histórica da
música brasileira, começando com a música trazida pelos portugueses “nos tempos das
caravelas”, música que iria se alterar ao ser colocada “em frente de outras raças, isto é,
do índio e do negro”. Mais uma vez teríamos aqui a idéia tão presente na historiografia
da música popular a respeito do mito das três raças. Assim, gêneros como o fado
brasileiro, o lundu e a chula seriam, no dizer de Mello Moraes, o “produto híbrido de
danças espanholas e africanas”, resultado da “mestiça garbosa”, da “umbigada lúbrica”
e dos “batuques dos terreiros” (Mello Moraes, 1900: 16). Depois de fazer uma espécie
de passeio histórico por gêneros e compositores do passado — Moraes, cita, entre
outros, Caldas Barbosa, José Mauricio e Cândido Inácio da Silva — finalmente o autor
aponta o que teria sido o período mais importante da criação musical brasileira: o
período de 1850 a 1870, quando a modinha brasileira teria “desertado” dos paços e dos
195
salões para “democratizar-se”, passando às esferas das festas populares, das serenatas
noturnas, dos cantadores de esquina, dos instrumentistas populares:
Foi nesse ambiente de prosperidade e de aspirações arrojadas que a musa
democrática, sobrançada de violão, palhetando o cavaquinho, modulando na flauta,
presidia os festins do povo, vagava sonhadora nas ruas e praças, despertando às suas
vozes as Lílias, as Natércias, as Marílias, as Ármias e as Carolinas, para ouvi-la a
horas mortas, recostadas aos postigos ou enrolando ao alto da cabeça os revoltos
cabelos, debruçadas às janelas. (Mello Moraes, 1900: 23)
É bastante significativo que o autor cite como o instrumental destas serenatas
justamente aquilo que seria conhecido como o terno do choro: a flauta, o violão e o
cavaquinho. Ao passar para o domínio “popular”, portanto, a modinha teria atingido o
ápice da música brasileira tangida por instrumentistas populares que Mello Moraes
passa a citar, identificando-os como “vultos de transcendente nomeada” que “foram
conhecidos pelo crisma popular como Zuzu Cavaquinho, Lulu do Saco, Manezinho da
Cadeia Nova ou Manezinho da Guitarra, Zé Menino, o Inácio Ferreira, o Clementino
Lisboa, o Rangel, o Saturnino, o Luizinho, o Dominguinhos Reis, etc” (id: 26). Ora,
muitos destes nomes são citados também por Gonçalves Pinto e Catulo, o que confirma
mais uma vez a aproximação entre o intelectual e os cronistas populares: mais do que
isso, o ponto central de contato entre Gonçalves Pinto e Moraes parece ser a
identificação da música dos trovadores populares, a música urbana que se fazia com
violões e cavaquinhos, como o ponto culminante da música brasileira, ainda que o
primeiro identifique esta música como choro e o segundo ora como modinha, ora como
serenatas — talvez pelo fato de que o primeiro termo tenha se consolidado com mais
força apenas nas duas primeiras décadas do século XX. Cito mais um trecho de Moraes:
E nesta Capital, nos dias de festas religiosas ou nacionais, aos sábados ou ao acaso
da semana, na Praia Formosa, na Cadeia Nova, em São Cristóvão, em Botafogo,
etc., as serenatas circulavam incessantes, os trovadores de esquina estropiavam
versos e toadas, de violão a tiraloco, boiando nas ruas aos relentos estivos. Isso,
porém, longe de rebaixar as nossas cantigas, confirmava a soberania das
produções que, caídas de outras alturas, iam ainda ecoar nas profundezas mais
obscuras da alma popular. (id., ib., grifo meu)
196
Talvez possamos arriscar dizer que esta idéia traz elementos da tese
mariodeandradiana de que a identidade musical brasileira seria feita na “inconsciência
do povo”. Ao “descer” do ambiente dos salões, de onde ainda continha elementos
estrangeiros (as produções “caídas de outras alturas”) a modinha não iria se rebaixar,
mas pelo contrário, se legitimaria como uma das mais importantes criações musicais
brasileiras por encontrar ressonância, e portanto obter legitimidade, “nas profundezas
mais obscuras da alma popular”.
O autor prossegue o texto afirmando que, ainda que seu período áureo já
tivesse passado (não nos esqueçamos que Mello Moraes escreve no ano de 1900), a
modinha não havia morrido de todo:
À semelhança do tronco, que sobrevive às flores e os frutos, tem-se ultimamente
notado que elas [as modinhas] e o violão ressurgem com a antiga seiva, tendo como
apreciados compositores Cardoso de Menezes, Cavalier Darbilly, Costa Júnior,
Oscar Silva, Francisca Gonzaga, Aníbal de Castro, Catulo Cearense, Miguel
Pestana (...)
Após citar ainda mais alguns nomes de chorões que também estão presentes no
livro de Pinto, como Sátiro Bilhar, Juca Vale, Cândido Ramos e Eduardo das Neves,
Moraes conclui apoteoticamente: “Como são belas as nossas músicas! Como são suaves
os nossos cantares!”. Como já dito, trata-se de um trecho realmente surpreendente pelos
seguintes motivos: a) pela identificação da modinha “popular” — ou seja, aquela
praticada pelos chamados trovadores de esquina e pelos instrumentistas populares (o
autor cita especificamente instrumentos como violão, cavaquinho, oficleide e flauta) no
período de 1850 a 1870 — como mais alta criação da música brasileira. Este
reconhecimento da importância da música urbana no cenário nacional parece não ter
sido regra entre os intelectuais da época. Veja-se, por exemplo, Guilherme de Melo,
que, em seu clássico A Música no Brasil, publicado em 1908, praticamente ignora todo
e qualquer compositor deste segmento para se concentrar na chamada música rural e na
197
música de concerto; b) pelo reconhecimento do papel de compositores que poderiam ser
classificados como “populares urbanos”, tais como Chiquinha Gonzaga, Costa Júnior (a
quem se credita a autoria do primeiro maxixe impresso), Catulo Cearense e o palhaço
negro Eduardo das Neves, como maiores representantes desta música por volta do ano
de 1900; c) pela questão da música de mercado: ainda que não dito explicitamente é
razoável supor-se que, ao aceitar e reconhecer a importância da música de compositores
como Chiquinha Gonzaga e Costa Júnior, Mello Moraes reconhecia também a
legitimidade do mercado de partituras desta incipiente indústria cultural urbana: aliás, o
próprio fato de ter editado diversos livros com compilações de letras e músicas
populares da época (Cantares Brasileiros, Serenatas e Saraus etc) de certa forma
também insere o intelectual Mello Moraes neste contexto comercial da época; d) pelo
caráter saudosista da evocação de um tempo “áureo” da música brasileira, mas ao
mesmo tempo reconhecendo a existência de compositores e instrumentistas que
mantinham à época da virada do século esta “antiga seiva” dos tempos antigos: e
também pelo caráter apologético de quem de certa forma conclama seus leitores a não
deixarem morrer esta música, como se percebe na frase final da introdução: “Fade-nos o
destino que possamos aguardar, ao tom das serenatas e de nativas cantilenas, as auroras
de outros sóis, a luz de outro amanhecer.”(id: 27, grifo meu).
Como se percebe, são questões que nos permitem ver a já citada oposição
entre a intelectualidade e a música popular da chamada belle époque sob outros ângulos.
Ao mesmo tempo, percebem-se vários pontos de contato entre o texto do intelectual e o
do carteiro: a valorização desta música urbana, a citação e o desejo de nominar e
valorizar instrumentistas populares, um certo clima ao mesmo tempo apologético e de
“manifesto” para que esta música fosse preservada, etc. Talvez possamos concluir
dizendo que nos trabalhos memorialísticos realizados por estes diversos atores sociais
198
da época — o intelectual Mello Moraes, o poeta “semi-erudito” Catulo da Paixão
Cearense, o jornalista e cronista carnavalesco Vagalume e o carteiro e violonista
Alexandre Gonçalves Pinto — havia uma complexa e instigante relação de influências
mútuas que formam um verdadeiro caleidoscópio de interpretações dificilmente
redutíveis a esquemas teóricos conclusivos e fechados e que de certa maneira
constituem um espelho da complexa sociedade brasileira deste período.
199
Capítulo 4
A práxis musical em O Choro: aspectos do aprendizado, transmissão
musical e acervos de partituras
Neste capítulo abordaremos aspectos do livro O Choro que são
frequentemente deixados de lado nos poucos estudos sobre ele e que dizem respeito
exatamente a questões musicológicas que podem ser aferidas através de seu relato. O
primeiro tópico abordará a questão da transmissão musical, ferramenta teórica que será
a base do capítulo: utilizando textos da musicologia e da etnomusicologia procuro
conceituar e discutir processos de transmissão musical que passam necessariamente por
cinco instâncias: o oral, o aural, o escrito, o impresso e o gravado. Através desta
discussão pretendo entender melhor a forma como estas instâncias interagem e se
interrelacionam no processo de transmissão do choro. Mais ainda, a discussão será útil
para entendermos o quê se transmite — não necessariamente apenas “peças musicais”
fechadas, mas processos de acompanhamento, de fraseados, de improvisação, etc. No
segundo tópico discuto aspectos do aprendizado: utilizando as ferramentas teóricas
discutidas no primeiro tópico, procuro entender a forma como o conhecimento técnico e
de repertório era passado e de que modo tais aspectos são enfatizados por Gonçalves
Pinto em seu livro. O terceiro tópico é inteiramente dedicado à análise de acervos
manuscritos de choro: usando tanto o livro O Choro como um trabalho de “pesquisa de
campo” realizada em algumas instituições de pesquisa do Rio de Janeiro
(particularmente o Museu da Imagem e do Som desta cidade), procuro entender e
analisar uma faceta ainda pouco explorada nos estudos sobre o choro: a complexa e
multifacetada rede de acervos de partituras manuscritas, que se estendem desde 1882
(data das partituras mais antigas) até os dias atuais.
4.1) Aspectos de transmissão: o oral e o escrito
De que modo a música de choro era transmitida em fins do século XIX e
primeiras décadas do século XX? Esta será a nossa questão principal, que de certa
forma comporta em si outras questões: de que modo se dava o aprendizado musical dos
músicos de choro? Havia diferenças de aprendizado de acordo com o instrumento
utilizado? De que modo o repertório era transmitido? Qual o papel dos registros escritos
e da oralidade nestes processos de transmissão? É possível falar de uma dicotomia entre
estes dois processos? Como inserir neste processo outros suportes como o impresso, o
gravado e o aural?
A questão da transmissão oral e escrita em música já foi alvo de diversos
trabalhos musicológicos e etnomusicológicos. Para Treitler (1992: 134) a simples
formulação “transmissão escrita versus transmissão não escrita” implica tanto em um
paralelismo — ambos os processos teriam uma finalidade única, a transmissão —
quanto em uma oposição — os processos seriam diferentes e mutuamente exclusivos:
algo como a opção entre mandar uma mensagem por telefone ou pelo correio, para
utilizar um exemplo do autor. Entretanto, esta aparente dicotomia, que teria sido um
verdadeiro paradigma da musicologia e da etnomusicologia — a divisão entre culturas
“letradas” e “iletradas” musicalmente — traria, ainda segundo Treitler, percepções
enganosas: por um lado, a noção de “transmissão escrita” teria como pressuposto a ideia
de um objeto, algo concreto, passível de ser transmitido através de símbolos grafados.
Desta forma, reduzir o complexo fazer musical — que inclui aspectos como alturas
sonoras, timbre, ritmo, improvisação, etc — a um único objeto concreto transmissível
seria algo no mínimo questionável. Por outro lado, a noção de “tradição não escrita”
implicaria, à primeira vista, a ideia de performance a partir de um repositório mental (ou
201
seja, memória) de melodias fixas — noção que excluiria qualquer possibilidade de
interação com o escrito. A ideia central de Treitler é, portanto, a de que a dicotomia
entre transmissão “escrita” e “não escrita” não pode ser sustentada na prática: mais
ainda, para o musicólogo, desde o começo da tradição musical escrita europeia
conceitos como leitura, memória e improvisação foram aspectos contínuos, mutuamente
relacionados e interdependentes (Treitler, 1992: 135).
De maneira similar, Nettl (1983: 187-189) também questiona a aparente
dicotomia entre a oralidade e a escrita. O autor evoca estudos de musicólogos como
Charles Seeger e Curt Sachs, que já questionavam esta dualidade desde a década de
1950. Para o primeiro, o que havia de mais interessante na tradição oral não era o fato
de que esta se constituía como um modo radicalmente diferente de ensino e aprendizado
quando comparado à tradição escrita, mas o fato destas duas formas de transmissão
estarem inextricavelmente ligadas. Já para Curt Sachs, a transmissão cultural não podia
ser reduzida a uma relação dual, e passaria necessariamente por quatro instâncias: a
oral, a escrita (ou manuscrita, mais precisamente), a impressa e a gravada. Estas quatro
formas de transmissão, em maior ou menor grau, estariam presentes em todas as
culturas do mundo a partir da segunda metade do século XX — e nunca com um caráter
mutuamente excludente, mas numa relação de interdependência contínua. Tomando-se
o modelo de Sachs, para algumas culturas a tradição oral poderia estar muito mais
próxima do escrito do que o impresso: quando há, por exemplo, uma grande diversidade
de manuscritos para um único documento musical, fruto do trabalho de diferentes
copistas, a tendência será encontrarmos formas variantes, da mesma forma como na
tradição oral — pelo simples fato de que o trabalho de cada copista estará condicionado
não só a sua interpretação pessoal da peça musical, como a outros fatores como
esquecimentos, erros, etc. Este é um ponto particularmente importante para a análise
202
dos acervos de choro e para a questão da transmissão no gênero: voltaremos a ele
posteriormente.
Aprofundando o debate, Nettl questiona também o fato de associarmos
obrigatoriamente o conceito de transmissão à ideia de “peças” musicais fechadas: em
um nível mais profundo, poderíamos pensar em um repertório não como uma série de
“peças”, mas consistindo de um vocabulário de unidades menores como: motivos
melódicos ou rítmicos, acordes, sequências de acordes, fórmulas de cadência, etc. Desta
forma o processo de transmissão poderia ser estudado sob o prisma de como um
repertório conserva (ou não) estas unidades intactas, e como elas são combinadas e
recombinadas em unidades maiores que são aceitas como “peças musicais” em
diferentes culturas (Nettl, 1983: 190). Este conceito também será particularmente útil
em nossa análise, como se verá adiante.
Voltando ao nosso objeto de estudo, parece ter sido senso comum entre os
chorões da segunda metade do século XX que o choro se aprende prioritariamente
através da observação direta e da tradição oral — e mesmo quando o aprendizado se
dava através da partitura, esta deveria ser apenas um suporte para a memorização da
estrutura básica da música, a ser “completado” por outros aspectos não escritos como
“colorido”, “improvisação”etc. Desta forma, o “bom chorão” prescindiria do registro
escrito, pelo menos em seu lugar de práxis, a roda do choro. Veja-se por exemplo, o
depoimento a este respeito dado por Jacob do Bandolim em seu depoimento ao Museu
da Imagem e do Som:
(...) há dois tipos de chorões: há o chorão de estante, que eu repudio que é aquele
que bota o papel pra tocar choro e deixa de ter a sua... perde a sua característica
principal que é a da improvisação; e há o chorão autêntico, o verdadeiro, aquele que
pode decorar a música pelo papel e depois dar-lhe o colorido que bem entender, este
que me parece o verdadeiro, autêntico, honesto chorão (Jacob do Bandolim, 1967).
203
Se isso é verdade em muitos aspectos, não se pode negar por outro lado a
importância que os próprios chorões das primeiras gerações davam ao registro escrito,
conforme nos dá testemunha o livro O Choro. É possível encontrar no livro grande
número de citações do livro em que se valoriza os instrumentistas que “sabiam música”
em detrimento dos que não liam partitura: Videira, por exemplo, era um grande flautista
“apesar de tocar de ouvido”, ao passo que Braguinha “tocava muito mal e de ouvido”.
Por outro lado, havia bons chorões que não eram capazes de tocar nada sem a partitura.
Gilberto Bombardino, por exemplo,
era chorão de fato, conhecia bem música, mas se fosse convidado para acompanhar
um choro de ouvido, não dava nada. (...) Nos pagodes onde ia tocar, desde que
houvesse parte para ler, [tocava] a música sem pestanejar e às vezes fazendo até
floreados nos intervalos das mesmas. (...) Gilberto gostava muito que os pagodes
fossem até de manhã, pois gostava muito de um chocolate com biscoitos ou pão de
ló (...) Assim findou-se este herói da gastronomia.
Vê-se assim que a questão do registro escrito era de grande importância,
mesmo considerando-se que o bom músico era sempre valorizado, independente de
saber ou não ler partitura. Outro fator a se ressaltar é o da referência a existência de
“pagodes” onde havia “partes para ler”: o que se infere do trecho citado é que a
presença de músicos lendo partituras em festas era algo relativamente comum, fato que
seria impensável, ou pelo menos condenável, em uma roda de choro a partir da segunda
metade do século XX, como nos mostra o depoimento de Jacob. O que se pode concluir
a partir disto é o fato de que os modos de transmissão oral e escrito parecem estar
presentes desde o nascimento do gênero, e não é por acaso que o tema apareça na obra
de Pinto e no depoimento de um de seus mais importantes intérpretes das décadas de
1940 a 1960, Jacob do Bandolim. Na comparação entre estes dois podemos perceber
que para os chorões descritos por Pinto a leitura de partitura era algo tão valorizado
como o fato de se tocar “de ouvido”. Assim, se, por um lado, o flautista Videira era um
204
grande chorão, “apesar de tocar de ouvido”, Gilberto Bombardino não deixava de ser
um “chorão de fato” apesar de precisar das “partes pra ler” durante as rodas.
É importante lembrar que o conjunto instrumental típico de uma roda dos
tempos de Gonçalves Pinto incluía, além da flauta e dos violões e cavaquinhos
(acompanhamentos ritmo-harmônicos), instrumentos responsáveis pelo contracanto,
como o oficleide e o bombardino: tais contracantos eram muitas vezes lidos, conforme
demonstra o trecho citado e também o fato de que, como se verá, muitas “partes” de
contracanto (escritas normalmente em clave de fá) são encontradas nos acervos
manuscritos que nos chegaram até os dias atuais (como o acervo do trombonista
Candinho Silva, de quem falaremos adiante). Ao longo do século XX, instrumentos
típicos do contracanto do choro, como o oficleide e o bombardino, caem em desuso,
sendo as partes de contracantos graves incorporados ao violão de sete cordas; por
conseguinte, partes escritas e “obligatas” de contracanto caem praticamente
desapareceram, sendo a maior parte das vezes improvisadas pelo violão de sete cordas
(nas poucas partes em que o contracanto grave do violão faz parte da música
convencionou-se entre os músicos de choro chamá-lo de “baixo de obrigação”) ou por
um segundo instrumento solista.
Outro ponto a ser ressaltado é o de que um elemento essencial da música de
choro — o acompanhamento rítmico-harmônico — raramente era escrito. Como se verá
adiante, existem pouquíssimas partituras nos acervos manuscritos que nos chegaram da
primeira metade do século XX com indicações para violão e cavaquinho e, no entanto, o
papel destes instrumentos sempre foi descrito como de fundamental importância pelos
relatos da época.
Daí se conclui que a transmissão de choros através de partituras era (e continua
sendo) algo que contemplava apenas alguns aspectos do fazer musical — a melodia, o
205
gênero a que a música pertencia etc.; outros aspectos, como a condução rítmicoharmônica e os eventuais contracantos melódicos (quando não eram escritos) eram
transmitidos através da oralidade. Podemos aqui aplicar o conceito de Nettl, citado
anteriormente, de que ao lado do conceito de “peças” musicais fechadas — no nosso
caso “polcas”, “valsas”, “schottischs”, etc. —, existe um vocabulário de unidades
menores que são transmitidas e recorrentemente recombinadas: assim, para os chorões
da época, a melodia poderia até estar disponível em acervos manuscritos (ou
eventualmente em partituras impressas): outros aspectos como sequência harmônica e
acompanhamento rítmico-harmônico dependiam da transmissão oral e eram realizados
na prática musical. Esta realização pode ser caracterizada como o ato de escolha, no
momento do fazer musical, de caminhos possíveis de execução de determinados
aspectos a partir de um vocabulário existente: o bom instrumentista acompanhador era
aquele que ao mesmo tempo dominava ao máximo este vocabulário e que sabia fazer as
melhores escolhas no menor tempo no momento da execução. Assim, dentre o
repertório de figurações rítmico-harmônicas — chamadas atualmente de “levadas” no
ambiente do choro — e de sequências harmônicas possíveis (o acompanhamento “com
todos os seus acordes” de que nos fala Pinto), o acompanhador teria que escolher e
combinar os elementos que mais se adequavam à melodia apresentada pelo solista no
momento da roda. Esta era (e continua sendo) parte fundamental da dinâmica da roda
de choro. O instrumentista de violão e cavaquinho que fazia escolhas erradas, fosse por
desconhecer o vocabulário ou por inépcia, “caía”, segundo a gíria da época (muito
utilizada por Pinto, como veremos), ou seja, falhava no acompanhamento.
Se, por um lado, o acompanhamento era prioritariamente transmitido através
da oralidade, temos várias razões para apontar que a transmissão das melodias das
músicas de choro era frequentemente feita através do registro escrito. De fato, a grande
206
quantidade de trechos em que Gonçalves Pinto se refere a acervos manuscritos de
solistas de choro — notadamente flautistas, como se verá — aponta para a existência de
uma rede de cópias manuscritas que funcionava de forma paralela à já intensa indústria
de comércio de partituras, que se inicia no Brasil ainda no século XIX, e que se
dedicava em grande parte justamente à venda de músicas de gêneros que faziam parte
do universo do choro, como polcas, schottischs, valsas, etc. Neste ponto, podemos fazer
uma comparação entre a relação do choro com a indústria de partituras do início do
século e com indústria fonográfica a partir da década de 1930: como visto no terceiro
capítulo, ainda que eventualmente Gonçalves Pinto critique os meios de comunicação
como o rádio e o disco pela massificação e a divulgação de músicas americanas (e que
esta crítica venha muitas vezes como “ecos” da visão de jornalistas e músicos da época,
como o já citado Vagalume), na maior parte das vezes sua visão é bastante elogiosa e
entusiasta aos artistas que levavam o choro ao ambiente do rádio, como Luperce
Miranda e Benedito Lacerda. Sua crítica recai somente no fato de que os artistas de
choro do rádio pouco executavam o repertório dos “antigos chorões”, razão que o leva
inclusive a oferecer os cadernos do chorão Cupertino a Benedito Lacerda, através do
livro. Assim, enquanto na década de 1930 este repertório dos compositores “antigos”
era tocado pelos chorões que preservavam esta memória musical (vários deles
apontados por Gonçalves Pinto como ainda em atividade neste período, como era o caso
do flautista Jupyaçara Xavier, de quem falaremos a seguir) e provavelmente mesclado
ao repertório de músicas de choro veiculadas pelo rádio (de solistas então em evidência
como os já citados Benedito Lacerda e Luperce Miranda, além de outros como Severino
Rangel, Luiz Americano, etc), podemos dizer que nas primeiras décadas do século as
partituras manuscritas circulavam em paralelo à indústria de comércio de partituras,
muitas vezes suprindo lacunas que esta última apresentava principalmente no que
207
concerne a este grupo de instrumentistas populares. Estes aspectos serão aprofundados
em tópicos posteriores. Passaremos agora à análise dos processos de aprendizado
contidos no livro O Choro.
4.2) Aspectos do Aprendizado
De que modo um iniciante aprendia a tocar a música do choro nas primeiras
décadas do século XX no Rio de Janeiro? Embora não haja uma resposta direta a esta
questão, o livro O Choro de Alexandre Gonçalves Pinto nos fornece alguns elementos
bastante interessantes a este respeito: como se verá, o aprendizado do choro era um
processo multifacetado que passava por instituições de ensino oficiais e não oficiais, por
meios de transmissões escritos (manuscritas e impressas) e não escritos (orais, aurais, e,
a partir do advento da fonografia no Brasil em 1902, gravadas). Para que possamos
fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre este complexo processo de
aprendizado, convém recuarmos um pouco no século XIX para entendermos como
funcionava a dinâmica musical da época neste aspecto.
A principal instituição de ensino musical do século XIX foi sem dúvida o
Conservatório Imperial, fundado em 1841 pelo imperador D. Pedro II e que
posteriormente — na passagem da monarquia à república — se transformaria em
Instituto Nacional de Música1. Como apontado em trabalho anterior (Aragão, 2006) a
trajetória do Conservatório — a instituição “oficial” de ensino musical do Império e
posteriormente da república — foi sempre marcada por tensões e contradições que
podem ser resumidas no dilema entre a adoção de um esquema de ensino europeu por
excelência — cujo modelo foi o Conservatório de Paris — e a construção de uma
1
Em 1937, com o advento do Estado Novo, passou a se chamar Escola Nacional de Música e
posteriormente Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
208
música e de uma identidade brasileiras, meta perseguida tanto pelos nacionalistas como
posteriormente pelos modernistas a partir de 1922. Este dilema se confunde com a
história de vida de compositores e professores desta instituição que foram atores de
diversas polêmicas e discussões públicas a respeito dos (des) caminhos do
nacionalismo, em diversos períodos históricos, como Alberto Nepomuceno e Luciano
Gallet (para Nepomuceno, ver Pereira, 1995; para Gallet, ver Bardanachvili, 1995).
Talvez um fato emblemático desta tensão seja constatarmos que no século XIX
encontramos como professores do Conservatório nomes como Henrique Alves de
Mesquita, Joaquim Callado e Duque Estrada Meyer — todos citados e destacados por
Pinto em seu livro como intérpretes e compositores ligados à prática do choro —
atuando ao lado de nomes como Alberto Nepomuceno, Henrique Oswald e Leopoldo
Miguez — compositores mais destacados do romantismo brasileiro. Voltaremos
posteriormente a este ponto: por ora cumpre apenas assinalarmos que havia na
instituição oficial de ensino do Império professores e alunos ligados às práticas musicais
que posteriormente seriam classificadas como choro.
No âmbito do ensino informal, havia um grande número de professores de
diversos instrumentos, que com o aumento do mercado de música a partir da metade do
século XIX, atuavam em diversas frentes, fossem como contratados de casas
especializadas
em
música,
fossem
como
professores
particulares.
Convém
aprofundarmos melhor como se deu este processo de incremento do mercado musical:
segundo Leme (2006: 158), a segunda metade do século XIX teria sido o período em
que, devido ao desenvolvimento de novas técnicas de impressão musical, houve um
barateamento dos custos de produção de chapas de impressão, facilitando o crescimento
de um mercado produtor e consumidor:
A criação desse campo fez aumentar o número de profissionais capacitados, peçaschave na relativamente complexa engrenagem que permitiu o bom funcionamento
209
das oficinas de música impressa em funcionamento no Rio de Janeiro: preparadores
de chapas; comerciantes de chapas, prelos, papel e tinta; artistas gravadores;
técnicos em prensagem; copistas de música; compositores que se dedicavam à
música ligeira; professores de piano, canto e outros instrumentos (...)
Assim, o aumento do comércio de partituras trouxe em seu bojo um
incremento das atividades musicais na capital da república, o que incluía certamente a
venda de instrumentos e artigos musicais e a oferta de professores e aulas de música. No
que tange a oferta de professores de música, uma excelente fonte de pesquisa é o
Almanak Laemmert, publicado entre 1844 e 1889 pelos irmãos Laemmert. Fundadores
da tipografia Laemmert em 1833, foram responsáveis por diversas publicações de
autores brasileiros e editaram por décadas este almanaque que é hoje considerado um
instrumento de consulta indispensável dos aspectos sociais, comerciais e financeiro do
período2. Através do Almanak observamos que era grande a oferta de professores para
diversos instrumentos, entre os quais o piano (sem dúvida o mais popular), mas também
para canto, violão, instrumentos de sopro, harpa, entre outros. O Almanak também
corrobora o incremento do mercado de música ao longo do século XX: assim, se o
volume de 1844 traz em seu índice a categoria geral “Professores de língua, música e
sciências”, o volume de 1847 já traz no índice uma categoria específica que será
mantida nos números subsequentes: “Professores de Música”. Os professores de violão
aparecem pela primeira vez também neste volume de 1847 — um certo Mariano Brunni,
residente à rua São José n. 60 dava aulas de “harpa e violão”, enquanto que Demétrio
Rivexa, residente à rua do Espírito Santo n. 2 dava aulas de “piano, violão e rabecca”.
No volume de 1889 encontramos entre os professores de música os nomes de Ernesto
Nazareth (anunciado como “professor de piano residente à rua Major Fonseca n. 7 em
2
O Almanak Laemmert foi digitalizado pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e está disponível para
consulta através do site http://www.crl.edu/content/almanak2.htm. Consulta realizada em 2 de outubro de
2009.
210
São Cristóvão”) e Henrique Alves de Mesquita (“encarrega-se de funções de igrejas,
bailes e teatros; mestre de harmonia e composição marcial”).
Outra importante fonte para o estudo do processo de transmissão e
aprendizagem na segunda metade do século XIX e inícios do século XX é constituída
pelos catálogos das casas editoras da época — principalmente as listagens de obras
teóricas e didáticas para diversos instrumentos. Uma das mais importantes casas
editoras do Rio de Janeiro deste período — a Casa Bevilacqua, fundada em 1839 pelo
genovês Isidoro Bevilacqua — teve seu catálogo de 1913 estudado por Leme (2006).
Dentre as mais de 3.500 obras impressas por essa editora no período de 1839 a 1913, há
um número considerável de métodos e obras teóricas. Dentre estas, Leme (2006: 304)
contabiliza 105 métodos para piano, 25 métodos de leitura e solfejo, 24 métodos para
violino, 5 métodos para bandolim, 2 métodos para violão, 7 métodos para diversos
instrumentos e 20 “exercícios de escalas para diversos instrumentos” — sendo que a
autora salienta que um destes exercícios, intitulado “Escalas para flauta de 1 chave”
provavelmente teria sido a primeira obra impressa pela editora Bevilacqua. A
discrepância entre o número de métodos de piano e violão não significa necessariamente
que o primeiro tivesse mais popularidade que o segundo, apenas demonstra o quanto o
aprendizado deste último se dava por outros meios que não o impresso. Este desnível se
acentua ainda mais quando comparamos o número de obras musicais editadas para os
dois instrumentos: em todo este período há apenas uma obra editada para violão solo e
três para canto acompanhado de violão, enquanto há centenas de partituras para piano
solo e piano e outros instrumentos. Para Leme, apesar disso
o mais “popularizado” método de violão existente no século XIX, o de Mateo
Carcassi, era editado no Rio de Janeiro desde 1846, inclusive pela Bevilacqua, o
que atesta também que havia músicos e professores violonistas difundindo a obra
entre seus pupilos (id: 306-307).
211
Ainda assim, os métodos e exercícios para violão tinham baixa vendagem,
principalmente quando comparados a outros instrumentos como o piano principalmente.
Uma obra intitulada Escalas para violão, editada pela Bevilacqua, teria vendido entre
1894 e 1918 apenas 374 exemplares, segundo os registros de venda da editora estudado
por Leme (idem: 317). A baixa vendagem fez com que os editores procurassem elaborar
novos produtos que atendessem às necessidades e ao perfil daquela parcela de
instrumentistas de violão:
Em 1890, na gestão de Eugênio, a Bevilacqua e Cia lançou o Método Prático para
aprender a tocar violão sem mestre, que consta no catálogo com a referência da
chapa no 3589. Seria um produto diferente, claramente destinado a uma parcela de
público pouco letrada, talvez aos “capadócios” ou àqueles menos afeitos à leitura
musical. Vendido a 1$000 cada exemplar, o método era um livrinho pequeno, tal
como um gibi, com desenhos do braço do violão, onde o aluno podia “ler” onde
deveria colocar seus dedos para formar as posições (acordes) para
acompanhamentos harmônicos. O método ensinava o aluno a afinar seu instrumento
e dava outras instruções que facilitavam a aquisição de saberes básicos (id. Ib.).
Esse sistema de representação gráfica do braço do violão, uma espécie de
tablatura musical, seria cada vez mais popular ao longo do século XX. Feito este
preâmbulo, voltamos agora à nossa questão inicial: de que forma se dava o processo de
aprendizagem do choro no período de 1870 a 1936, data de lançamento do livro que é o
nosso objeto de estudo? Faremos a seguir um breve fichamento de situações em que o
“Animal” cita processos de ensino.
Comecemos levantando as pistas que o autor nos dá a respeito de seu próprio
aprendizado (lembremos que Pinto tocava o violão e o cavaquinho). Em sua descrição
do já mencionado flautista Videira, por exemplo, este elemento está presente: Videira
era charuteiro e bom flautista, pois “apesar de tocar de ouvido”, sabia “dizer na sua
flauta o que dizia [sic] os outros, sabendo música”. Sendo grande tocador, tinha um
grave defeito:
212
se qualquer dos instrumentos desse uma nota fora da música, em qualquer
passagem, [Videira] parava a flauta, o que era uma decepção para os convidados, e
então logo perguntava ao que errou: ‘o senhor sabe tocar?’, o que respondia o
interpelado, ‘toco pouco, e a minha prática é quase nenhuma, e depois o senhor toca
com muita dificuldade, o que muito nos atrapalha’. Com esta franqueza Videira
ficava radiante e então ia logo dizendo: ‘agora vou tocar para o senhor não cair’. E
perguntando então: ‘Qual os tons que o senhor confere nos seu instrumento?’o que
respondia: ‘dó maior, sol maior, mi menor e só’. Respondeu Videira: ‘pois bem,
então vamos tocar só nesses tons’ e assim fazia, saindo-se os fracos tocadores bem e
Videira contentíssimo, demonstrando assim a sua maestria, apesar de tocar de
ouvido (24, grifo meu).
Foi esta exatamente a situação vivida por Gonçalves Pinto, segundo sua
descrição. Tendo sido convidado a tocar em um “aniversário e batizado lá pelas ruas de
S. Diogo, hoje General Pedra”, Pinto e seu companheiro Dinga, “de saudosa memória”,
são informados pelo anfitrião de que o flautista da roda seria ninguém menos que o
Videira, que ainda não havia chegado:
Oh, que decepção! Um suor frio desceu-me por todo o corpo, parecia que ia ter uma
síncope, pois sabia por informações o ranzinza que ele [Videira] era! Pois sabia da
decepção que ia passar e meu companheiro [sic], pois os tons que sabia naquela
ocasião eram muito poucos, pois o que sabia era de principiante, que só servia
para distrair, e não para acompanhar. (idem, ibidem, grifo meu).
Arranjando um pretexto qualquer, os dois procuravam uma desculpa para
deixar a festa quando chega o temível Videira em pessoa, “com sua maviosa flauta
embaixo do braço, e que muito sorridente nos cumprimentou, satisfeito talvez, pensando
que fossemos excelentes tocadores”. Ao notar que Pinto e seu companheiro estavam
para se retirar, Videira diz aos dois:
‘Eu peço aos senhores que não se retirem, pois desta forma ficará a festa toda
estragada’. Então eu [Pinto], muito medroso e nervoso lhe disse que fomos ali só
para cantar modinhas, dentro dos tons que nós conhecíamos e não para
acompanharmos flauta, pois faltava-nos a prática. Videira dando uma gostosa
gargalhada, abraçou-me dizendo-me: ‘menino, não tenha medo do pouco que você
toca: pois eu tocarei tudo dentro das notas que você conhece’. E assim dizendo
pegou-me pela mão e a do Dinga e disse: ‘vamos lá dentro tomar uma boa talagada’
(25, grifo meu).
213
E assim, entre diversas “talagadas” em uma sala onde havia “uma bela mesa,
cheia de assados e as competentes garrafas de vinhos tintos, Porto, cervejas, etc”, a roda
de choro iria até o dia seguinte, tendo Videira tocado somente nos “tons” conhecidos
pelos acompanhadores. Alexandre finaliza a história da seguinte forma:
Daquele dia em diante, comecei a procurar Videira, não só em sua casa como em
uma charutaria na rua do Ouvidor, onde ele trabalhava como cigarreiro. Andando
sempre com ele principiei a tocar violão e cavaquinho, pois ele os conhecia
regularmente, e tornando-me desta forma um violão e cavaquinho respeitado na
roda dos tocadores batutas (...) tornando-me um bamba nos dois instrumentos de
cordas de que fiz uso por muitos anos (26).
Vê-se assim que o aprendizado de Pinto se deu através de uma relação mestrediscípulo: ainda que Videira não soubesse ler partituras, conhecia “regularmente” o
violão e o cavaquinho, o que provavelmente quer dizer que o flautista-charuteiro
dominava não só um repertório de formação de acordes, como os caminhos harmônicos
e o repertório de acompanhamento rítmico-harmônico (“levadas”) dos dois
instrumentos. Dessa forma, andando sempre com Videira, Alexandre conseguiu
repertoriar um vocabulário de estruturas de acompanhamento que o permitiu se tornar
um instrumentista “respeitado na roda dos tocadores batutas”.
Da mesma forma que Videira, outros instrumentistas também se tornarem
verdadeiros “professores” informais de seus instrumentos, sendo o aprendizado feito
quase sempre na prática da roda. Era o caso de Gedeão por exemplo, flautista que era
um “sublime artista musical”, cuja casa, na rua Machado Coelho,“perto do Estácio”, era
a “reunião dos chorões, sendo portanto uma grande escola de musicistas, onde o autor
deste livro ia beber naquela fonte sua aprendizagem de violão e cavaquinho” (17). Da
mesma forma, Lily S. Paulo era exímia violonista, “especialista nos acordes”, pois
“sendo uma companheira de choro do sempre lembrado Bilhar, que era o rei dos
acordes, muito com ele aprendeu, de maneira que [quem] escuta Lily, logo diz ali está o
Bilhar” (63).
214
Esta relação de aprendizado “mestre-discípulo” é bastante citada em diversos
trechos do livro. Com base no fichamento de situações de ensino citados no livro,
podemos fazer uma espécie de categorização de duas situações mais comuns: 1) ensino
através de professores “formais”, ligados às instituições reconhecidas de ensino:
normalmente ligados a instrumentos solistas ou aos instrumentos de sopro que
formavam as bandas musicais ou sociedades musicais do período;. 2) ensino através de
professores “informais”, ou seja, instrumentistas que não eram professores ligados à
qualquer instituição oficial de ensino, mas que, por sua extrema desenvoltura no
instrumento, passaram a ser citados como pontos de referência para o aprendizado.
Normalmente eram instrumentistas ligados ao acompanhamento, como é o caso de
Galdino Barreto e Mário Álvares da Conceição, no cavaquinho e Sátiro Bilhar e
Quincas Laranjeiras no violão. Pelo fato de que, como já vimos, o aprendizado desses
instrumentos se dava em grande parte através da transmissão oral, torna-se mais difícil
reconstruir hoje estes processos de aprendizagem: muitas vezes não temos sequer dados
biográficos confiáveis sobre estas figuras exponenciais do ensino de violão e
cavaquinho, apesar de que existe ainda, entre os instrumentistas de choro da atualidade,
uma espécie de “senso de linhagem” que determinaria uma espécie de “fio condutor” de
instrumentistas desde meados do século XIX até os dias de hoje, como se verá. Estes
instrumentistas-professores são citados não apenas por Pinto em seu livro, mas em
outras fontes da época, como os livros de Vagalume e Orestes Barbosa.
Passemos agora a uma análise mais detalhada dos itens listados acima. Do
primeiro caso, o de professores ligados às instituições “formais” de ensino temos pelo
menos um exemplo: o flautista Duque Estrada Meyer (1848-1905), sucessor de Callado
no cargo de professor do Conservatório Imperial (e mais tarde do Instituto Nacional de
Música). Meyer é citado da seguinte forma por Pinto:
215
O GRANDE PROFESSOR DUQUE ESTRADA MEYER
Impossivel me é descrever, a grandeza, e a sublimidade deste grande professor. As
suas glorias foram tantas e tantas, que só com muitas lágrimas pode-se dizer a sua
vida, como immenso maestro que foi o nome acima. Foi um genio na musica,
conhecia theoria como poucos, a sua flauta em seus labios não tocava mas chorava.
Não só conhecia os grandes choros dos immensos flautas já por mim descripto,
como tambem o classico. Tocou em muitas orchestras, sendo admiradissimo, pelos
maestros daquella época. Meyer era um genio alegre, e folgazão, de uma educação
finissima, exemplar pae de familia. No chôro quando tocava as musicas de Callado,
Viriato Silveira, Luizinho, e outros, fazia com alma sentimento e graça. Foi grande
amigo dos chorões acima, mas tinha uma grande predilecção pelo sempre chorado
musico Callado, pois quase sempre tocavam juntos. Callado em attenção a esta
grande e bondoza familia, escreveu uma quadrilha dedicada á mesma, que botou o
nome de Família Meyer que é um primor de arte, e que tenho em meu archivo como
uma joia inesquecivel. (...) (92).
Note-se que, embora não haja menção ao fato de que Meyer era professor do
Conservatório, o título do verbete nomeia primeiramente o “professor” e só ao longo da
descrição ficamos sabendo que Meyer era flautista. Ou seja, não obstante o fato de ter
sido um excelente instrumentista, conhecedor dos choros dos “imensos flautas” e
“também do clássico”, Duque Estrada Meyer era em primeiro lugar um professor.
Ressalte-se aqui que Callado havia sido antecessor de Meyer na cadeira de flauta do
Conservatório, mas a descrição de Pinto sobre Callado em nenhum momento nomeia
este como professor. Outro ponto a ser levantado: de que forma conviviam em Meyer o
erudito professor do Conservatório e o instrumentista ligado às práticas populares das
ruas do Rio de Janeiro da época? É muito difícil sabermos hoje em dia até que ponto as
práticas populares e as músicas contidas nos cadernos dos “antigos flautas” — isto é, as
músicas de Callado e Viriato, por exemplo, — faziam parte do curriculum dos alunos
do Conservatório. Um fato interessante pode talvez ilustrar o caso: em um caderno
manuscrito de partituras da coleção do flautista Jupyaçara Xavier (a ser analisado
posteriormente), datado de 1909, encontramos na contracapa um programa de um
concerto de música com os dizeres: “Grande concerto do flautista brasileiro Gabriel de
Almeida – aluno laureado do Instituto Nacional de Música e ex-discípulo do
216
inesquecido professor Duque Estrada Meyer – Ginásio de Música”. Acima, manuscrito:
“em 29 de janeiro de 1910”. Quando cotejamos os compositores que constavam no
recital com aqueles que constam no caderno temos, de um lado, Leoncavallo, Marchetti,
Dubois, entre outros — e do outro Silveira, Callado, Viriato, etc. Ou seja, o mais
provável é que houvesse realmente uma divisão entre os compositores “permitidos”
dentro do Conservatório e os compositores “de rua”, ainda que Meyer fosse ele mesmo
um discípulo de Callado e um grande conhecedor das músicas dos choros.
Outro fator que salta aos olhos é o de que, entre todos os numerosos flautistas
citados no livro, apenas um — o flautista Pedro de Assis (que depois substituiu Meyer
como professor daquela instituição) — é citado como discípulo de Meyer, embora
saibamos por outras fontes (ver por exemplo Vasconcelos, 1977: 312-320) que pelo
menos um outro importante flautista da época, Patápio Silva — responsável por
algumas das primeiras gravações de flauta no Brasil pela Casa Edison —, teve aulas
com ele. Duque Estrada Meyer deixou também algumas composições encontradas em
coleções manuscritas de antigos flautistas como os do já citado Jupyaçara Xavier — no
primeiro caderno de sua coleção encontramos uma polca intitulada “Receiosa”.
Há mais quatro professores de flauta citados no livro: João Salgado, que era
“que era um professor de grande mérito e paciência para ensinar a mais rude cabeça”
(19); Felisberto Marques, por alcunha “Maçarico” (provavelmente por ter um sopro de
ferro?) que além de “um bom executor era um exímio professor de flauta” (22); General
Gasparino, “músico de grande valor”, que ocupara “cargo de grande responsabilidade”
(91, o autor não nomeia o cargo) e um certo “Professor Nicanor”, também “professor de
flauta e exímio executor”, grande admirador de Catullo Cearense. Não sabemos se esses
professores haviam passado pelo Conservatório ou não, e se davam aulas particulares ou
em sociedades musicais da época. O que tiramos disso tudo é o fato de que, dada a
217
grande popularidade da flauta naquela época — 109 flautistas são citados ao longo do
livro, de acordo com o fichamento de Jacob do Bandolim —, os processos de
aprendizagem se davam necessariamente através de diversas fontes, entre as quais
estava a entidade “oficial” de ensino, o Conservatório Imperial (e depois Instituto
Nacional de Música).
Ainda que não saibamos até que ponto esta música era
efetivamente ensinada no Conservatório, o fato é que temos pelo menos três gerações de
professores desta instituição — Callado, Duque Estrada Meyer, e Pedro de Assis —
ligados à prática do choro e citados no livro de Pinto.
A presença do Conservatório Imperial é citada também como fonte de
aprendizado de outros músicos populares que faziam parte do universo do choro,
principalmente os instrumentistas ligados à banda e ao naipe dos metais. São diversos
os exemplos no livro neste sentido: Mondego, por exemplo, que tocava bombardino e
era carteiro aposentado dos correios, tinha “carta de professor pelo Instituto de Música,
onde souber fazer todos os cursos admiravelmente com contentamento de todos os
maestros do Instituto” (107). Com o diploma de professor passou a ser “mestre de uma
Sociedade Musical na Estrada Velha da Tijuca onde fez grande quantidade de músicos,
pois a sua proficiência e paciência era de encantar” (id.). Da mesma forma um certo
Camargo, que tocava “regularmente” uma “flauta de 5 chaves” no rancho Ameno
Resedá, era da Brigada Policial e havia feito seus estudos “no Conservatório de Música,
tornando-se ali um aluno inteligente, recebendo assim o seu diploma de professor” (29).
Sem dúvida as bandas e sociedades musicais também cumpriam papel
importante no processo de ensino e aprendizagem. Para fornecer uma “visão
panorâmica” destas instituições citadas no livro valemo-nos mais uma vez do
fichamento feito por Jacob do Bandolim, citado no primeiro capítulo. Uma das
categorias fichadas intitula-se “Bandas, clubs, etc.” e contém agremiações musicais
218
variadas como bandas militares, sociedades dançantes, orquestras de ranchos, etc.,
sempre relacionando as pessoas que são citadas ao longo do livro com as instituições
listadas. Na tabela que se segue transcrevo parte deste fichamento, incluindo apenas as
bandas e sociedades musicais; optei por retirar as orquestras de ranchos e sociedades
dançantes, por estarem mais relacionadas a aspectos de diversão do que de ensino e
aprendizagem.
Tabela 7 – “Bandas, clubs, etc.” (extraído do Fichamento de Jacob do Bandolim)
Arsenal da Guerra
João Salgado – flauta, oficleide, fagote
João dos Santos - clarinete
Justiniano - flauta
Santos Bocot – regente, requinta
Brigada Policial
Camargo - flauta
Major Rocha – oficleide e regente
Pedro da Mota - bombardino
Colégio dos Meninos Desvalidos
Carramona – piston, regente
Francisco Braga - maestro
Frederico de Barros - flauta
Henrique Martins – trombone, bombardino
Paulino Sacramento – piano, regente
Romeu Silva – sax, regente
Corpo de Bombeiros
Anacleto de Medeiros – sax, mestre
Carramona – piston – c/ mestre, 2º tenente
Geraldino - bombardino
Irineu de Almeida – bombardino, oficleide,
trombone, regente
Irineu Pianinho - flauta
João Mulatinho – bombardino – c/ mestre
Lica – bombardão, flauta
Luiz de Souza – piston, regente
Nhonhô Soares - bombardino
Pedro Augusto – clarinete, contramestre
Tuti – pratos, violão, bandolim
Corpo de Fuzileiros Navais
Gonzaga da Hora - bombardão
Corpo de Marinheiros
Malaquias - bombardão
Corpo Militar de Polícia da Corte
219
Godinho – flautim, mestre Alferes
Major Rocha – oficleide- mestre
Corpo Policial da Província do Rio de Janeiro
Damasio Porcino de Oliveira
Gil
João Elias da Cunha
Juca Marques
Juca Rezende
Fábrica de Tecidos Corcovado (Banda)
Edgar Bulhões de Freitas - flauta
João Elias da Cunha - regente
Fábrica de Tecidos Vila Isabel (Soc.
Dansante)
Macário - requinta
Flor de Santana – Banda (Niterói)
Juca Marques – oficleide, bombardino,
regente
Fortaleza de São João
Luiz de Sousa – piston, regente (menor)
Soares Barbosa – piston mestre
Independência Musical – Club União
(Estácio)
João Maia – clarinete, regente
Juca - piston
Porfírio Levefer - bombardão
Santa Cecília – Sociedade Musical (Tijuca)
Juca Afonso – requinta, poeta
Tijuca – Sociedade Musical da
Juca - piston
Gilberto - bombardino
Mondego – bombardino, regente
Salustiano – 1º trombone
10ª infantaria
Paula Freire – contramestre, clarinete
23ª infantaria
Luiz de Souza – piston, regente
Há que se discernir as bandas militares, onde o efetivo fazia parte das
corporações (polícia, marinha, bombeiros, etc.) e portanto era certamente assalariado,
das outras instituições que funcionavam como escolas de formação musical e
entretenimento, como era o caso das Sociedades Musicais. No livro há citação a duas
sociedades, ambas na Tijuca: a Sociedade Musical da Tijuca -, regida por Mondego,
que, como citado acima, tinha “carta de professor” pelo Instituto de Música e era
220
carteiro aposentado – e a Sociedade Musical Santa Cecília, que funcionava na rua
Conde de Bonfim em frente à igreja do mesmo nome (180). De modo geral percebe-se
que estas sociedades tinham a função de “cursos livres” de música: funcionavam como
instrução musical primária para leigos que depois poderiam mesmo se especializar.
Assim, o flautista Cupertino havia formado uma sociedade “de aprendizagem de
músicos onde tem se aproveitado grande quantidade de moços e moças que já se acham
diplomados pelo Instituto Nacional de Música” ( 22). Neste caso é curioso notar como a
referência ao “Instituto de Música” funciona, no texto de Gonçalves Pinto, como uma
indicação de qualidade, ainda que indicasse um universo vetado a instrumentistas de
violão e cavaquinho, por exemplo.
Continuemos agora com o segundo ponto listado anteriormente: o dos
professores “informais”, notadamente de violão e cavaquinho, dos quais temos poucas
informações, seja a respeito de suas biografias, seja a respeito de seus processos de
ensino musical. Comecemos com o cavaquinho, instrumento tão popular no ambiente
do choro e do samba da época -- como nos dá depoimento o Vagalume, como veremos
adiante — quanto pouco estudado: temos pouquíssimos registros documentais sobre a
origem deste instrumento no Brasil. Vimos anteriormente como Pinto definia a
importância do cavaquinho no choro: “todos os chorões sabem que este instrumento é
de uma necessidade de grande valor” (50). Para Vagalume, em seu livro Na roda de
samba, o cavaquinho fazia parte dos instrumentos tradicionais do samba:
O samba, o tradicional samba, deverá ser executado com todos os seus instrumentos
proprios : a flauta, o violão, o réco-réco, o cavaquinho, o ganzá, o pandeiro, a cuica
ou melhor o omelê e o chocalho. (Guimarães, 1978: 157)
Os dois maiores representantes do cavaquinho da época, citados por Pinto
Catulo e Vagalume foram Galdino Barreto e seu discípulo Mário Álvares da Conceição
(este último é citado também por Orestes Barbosa em seu livro Samba). Temos
221
infelizmente poucas informações biográficas sobre ambos. Gonçalves Pinto descreve
Galdino da seguinte forma:
Mestre dos mestres, que se celebrizou com o seu aprendiz Mario, cujo discípulo
venceu naquella época todas difficuldades do instrumento transformando a sua
tonalidade de quatro cordas para cinco, enquanto isso Galdino, continuava com o
seu cavaquinho de quatro cordas tirando infinidades de tons e combinações de
acordes que me é aqui difficil de descrever, tal é a magia, e a convicção das notas
vibradas pela palheta encantada de Galdino, este grande artista, inigualável no meio
dos chorões, aonde elle foi o único educador deste instrumento que se chama
cavaquinho. (54)
Já Vagalume cita algumas vezes Galdino em seu livro, sempre como uma
espécie de representante da “velha guarda”, um dos poucos guardiões do samba
“autêntico”:
Não seja o samba transformado em modinha, em lundú ou tango.
Que formem na vanguarda dos seus defensores Canninha, Pechinguinha, Donga,
João da Bahiana, Dudú Aymoré, «Didi», Zuza, Galdino e Prazeres, que são os
únicos, que hoje podem defendê-lo com ardor. (Guimarães, 1978: 158)
A menção a Galdino como “um dos únicos” que poderiam defender o samba
“autêntico”, na visão de Vagalume, é uma mostra de como as práticas musicais ligadas
ao choro e ao samba já estavam ligadas desde as primeiras décadas do século. Já Catulo
menciona Galdino e Mário Álvares como “dois terríveis que se podem bater, conquanto
seja verdade que o Galdino é mais antigo, e por isso, mais conhecedor desse
instrumento [o cavaquinho], que só pode ser ouvido quando tocado por um dos dois”
(Catulo, 1908). Temos assim a visão de pelo menos três referências da época — Pinto,
Catulo e Vagalume — atestando que Galdino e seu discípulo Mário Álvares formaram
uma espécie de “escola de cavaquinho” que seria passada para outras gerações. Embora
não tenhamos como saber maiores detalhes sobre o método de ensino de Galdino,
temos um forte indício de que sua “escola” teve reflexos até a segunda metade do século
XX, influenciando um dos mais importantes cavaquinhistas do período que vai de 1930
até 1970 aproximadamente: Waldiro Tramontano, conhecido como Canhoto do
222
Cavaquinho. Canhoto iniciou sua carreira no final da década de 1920, como
instrumentista do regional de Benedito Lacerda, que logo se tornaria um dos mais
importantes regionais da época das rádios, responsável pelo acompanhamento de
cantores representativos da época como Orlando Silva, Silvio Caldas, Francisco Alves,
entre outros. Além de Canhoto, participavam do grupo os violonistas Meira (Jayme
Florence) — um dos mais representativos violonistas de 6 cordas da época, professor de
Baden Powell e Raphael Rabello, entre outros — Dino (Horondino José da Silva) —
considerado o principal expoente brasileiro no violão de 7 cordas —, além de Gilson de
Freitas no pandeiro. Com a saída de Benedito Lacerta em 1950, o grupo passa a se
chamar “Regional do Canhoto”, mantendo-se em atividade até a década de 1970 em
centenas de gravações de samba e de choro, com destaque para as realizadas nos dois
primeiros discos lançados por Cartola pela gravadora Marcus Pereira em 1974 e 1976.
A ligação entre Galdino e Canhoto é encontrada em um documento preservado
em uma espécie de álbum que este último mantinha (e que hoje se encontra em poder de
sua família3) com recortes de jornal da época com “matérias” sobre o Regional do
Canhoto. Na primeira página do álbum há uma espécie de biografia de Galdino Barreto
(Anexo I), elaborada por um certo Heitor Ribeiro, sobre quem não temos maiores
informações. Através deste documento tomamos conhecimento de alguns dados mais
palpáveis sobre a vida de Galdino: além de trazer uma foto do cavaquinhista —
provavelmente o único registro iconográfico que temos dele — o documento nos
informa que Galdino teria sido “investigador da Ordem Política e Social” e teria
falecido em 1935 “com mais de setenta anos” — significativamente encontramos no
livro de Pinto um pequeno verbete intitulado “Morreu Galdino Barreto” —. A
informação mais importante do documento, entretanto, é a de que “dos discípulos de
3
No ano de 2007, ao coordenar a edição do Festival Nacional de Choro da Escola Portátil de Música
dedicada ao centenário de Canhoto, travei contato com sua família, que generosamente me autorizou a
copiar o álbum.
223
Galdino, o único sobrevivente é Waldir [sic] Tramontano, que com brilhantismo honra
o mestre”.
Trata-se, portanto, de um documento que comprova a ligação de ensino e
aprendizagem entre os dois maiores representantes do cavaquinho da primeira e da
segunda metades do século XX. Se Galdino morreu em 1935 “com mais de setenta
anos”, como afirma o documento, sua data de nascimento gira em torno da década de
1860, o que o coloca como contemporâneo dos mais antigos nomes do choro como
Callado, Viriato, entre outros. O fato de Canhoto ter colocado o documento com a
pequena biografia de Galdino na página inicial de seu álbum de recorte também
demonstra reconhecimento pelo mestre do passado.
Passemos agora ao violão. Ao contrário do cavaquinho, instrumento que
parece ter se desenvolvido no século XIX e primeiras décadas do século XX quase que
exclusivamente através da tradição oral (é possível que tal fato se explique pela própria
função do instrumento, pouco apto para o solo e utilizado basicamente com a função de
acompanhamento rítmico-harmônico, função habitualmente não escrita), já havia uma
“escola” européia de ensino e aprendizagem do violão, documentada em métodos como
o de Carcassi, que como vimos já era editado no Rio de Janeiro desde 1846. Por outro
lado, de maneira semelhante ao cavaquinho, sabemos também que a partir da segunda
metade do século XIX o violão está ligado às práticas populares, a ponto de podermos
falar a partir da década de 1870 em uma escola de violão de choro – basicamente uma
escola de acompanhamento dos gêneros que compunha este universo: polcas, valsas,
schottischs, modinhas, etc. Vimos no capítulo três como Catulo diferenciava o “violão
do choro” – ou seja o violão de acompanhamento – de outras escolas de violão,
formadas por instrumentistas que privilegiavam o solo. De que forma estas escolas
acabam se misturando é uma das questões ainda por serem respondidas.
224
4.3) O Baú do “Animal”: os acervos manuscritos de choro
Um dos mais importantes aspectos da música do choro de fins do século XIX e
primeiras décadas do século XX revelado por Alexandre Gonçalves Pinto em seu relato
diz respeito à questão da forma de transmissão do repertório dos músicos de choro:
como já afirmado anteriormente, é notável no livro a quantidade de referências aos
álbuns manuscritos de partituras e arquivos musicais particulares dos chorões. Pinto faz
questão de enumerar vários títulos de que dispõe no seu próprio acervo e outras
importantes coleções de música de compositores da época. Alguns exemplos dos muitos
que se observam no livro: “[sobre Alfredo Vianna pai] ...deixou ele um grande arquivo
de músicas antigas e modernas que devem se encontrar em poder de seu filho
Pixinguinha”, “[sobre o flautista Oscar Cabral]... tinha um arquivo que muito poucos
possuem não só em número como em beleza”, “ [sobre o flautista João Sampaio] ...
tinha diversos cadernos de choro pelos quais tinha grande zelo. Ninguém arrancava uma
música qualquer para fora, só deixava copiar em sua casa sobre suas vistas.”
Se a indústria de comércio de partituras dos séculos XIX e inícios do XX já foi
alvo de estudos como os de Pequeno (2000) e Leme (2006), as coleções de manuscritos
de choro ainda permanecem praticamente inexploradas de estudos acadêmicos. Ainda
que merecessem citações esporádicas de Ary Vasconcelos, reconhecidamente um dos
precursores do estudo do choro de finais do século XIX, estas coleções só seriam pela
primeira vez estudadas sob um ponto de vista musicológico a partir do trabalho dos
violonistas Mauricio Carrilho e Anna Paes, que durante os anos de 1998 a 1999
realizaram a pesquisa intitulada Inventário do Repertório do Choro (1870 a 1920)4
reunindo e catalogando cerca de 5000 partituras manuscritas dispersas em vários
4
Esta pesquisa foi realizada com o apoio da Fundação RioArte. Da seleção deste vasto material foram
editados pela Acari Records em parceria com a EdUERJ cinco cadernos de partituras intitulados
“Princípios do Choro” no ano de 2003.
225
arquivos do Rio de Janeiro, como a coleção Mozart de Araújo, a Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro, bem como diversas coleções particulares. Apesar da importância desta
pesquisa, outros acervos permanecem ainda hoje inexplorados, como é o caso do acervo
Jacob do Bandolim e do acervo Almirante, ambos pertencentes ao Museu da Imagem e
do Som.
Nos tópicos seguintes procuro fazer um trabalho de mapeamento e análise
destes acervos, sempre tomando como base o “roteiro” que nos é dado por Alexandre
Pinto e seu livro O Choro. Ainda que não tenha a pretensão de realizar uma análise
exaustiva, algo que fugiria ao âmbito desta tese, creio que poderei aprofundar algumas
das questões colocadas acima, a respeito da transmissão do conhecimento do repertório,
da relação entre o oral, o escrito, o impresso e o gravado, e da relação entre indústria de
partituras e estas coleções manuscritas.
4.3.1) O Acervo Jacob do Bandolim
Dos acervos citados acima, me ocuparei mais detidamente da coleção de
partituras do Arquivo Jacob do Bandolim, pelo fato, já mencionado, de ser esta ao
mesmo tempo uma das mais ricas e menos exploradas coleções de partituras de choro
do Brasil. Abro aqui um pequeno parêntesis para explicar um pouco sobre o processo de
pesquisa realizado e sobre o meu envolvimento pessoal com este acervo específico.
Como bandolinista e pesquisador de choro sempre tive grande interesse pela obra e pelo
legado de Jacob Pick Bittencourt (1919-1969): além de notável bandolinista e
compositor, Jacob teve um papel pioneiro na área de pesquisa em música popular cuja
importância ainda está por ser estudada. Foi talvez o primeiro compositor de choro que
procurou coletar e organizar sistematicamente acervos musicais antigos (muitas vezes
“herdados” de antigos chorões da velha-guarda, como se explicará a seguir),
226
preocupando-se em aprender técnicas de catalogação (estudando os modelos utilizados
na Biblioteca do Vaticano e na Biblioteca do Congresso dos E.U.A), na modernização
do suporte em papel para outros suportes (era fotógrafo amador e desenvolveu um
método próprio de microfilmagem de partituras que aplicou em seu próprio acervo),
além de ter feito inúmeras “pesquisas de campo” utilizando um gravador de rolo em que
registrou elementos importantes do choro e da música brasileira em geral. (Há fitas
gravadas com exemplos de “centros de cavaquinho5”, com exemplos de “choro
nordestino” e “pontos de macumba”, por exemplo). Após sua morte em 1969, seu
acervo foi vendido a uma empresa particular e posteriormente doado ao Museu da
Imagem e do Som do Rio de Janeiro, onde permanece até hoje (Paz, 1997).
O resultado do trabalho a ser mostrado neste tópico é fruto de uma verdadeira
“pesquisa de campo” realizada no Museu da Imagem e do Som no ano de 2009: durante
alguns meses de trabalho me embrenhei em um “mar” de documentos e partituras,
trabalho que resultou em um processo de digitalização e catalogação das cerca de 5.900
partituras manuscritas da coleção deste bandolinista, bem como de outros documentos
sobre o choro e a música brasileira em geral6.
Comecemos falando sobre a estrutura do acervo de partituras: Jacob criou
categorias sui generis para dividir o acervo, apresentada na tabela abaixo que explicita
também a quantidade de partituras e sua organização em pastas no acervo:
5
“Centro” é o termo usado entre os músicos de choro para designar as fórmulas de acompanhamento
rítmico-harmônico feitas pelo cavaquinho.
6
Esta pesquisa foi realizada com o apoio do Instituto Jacob do Bandolim, do qual faço parte, e com a
colaboração de dois estagiários, Maria Souto de Carvalho e Iuri Lana Bittar. No ano de 2002 um grupo de
músicos e pesquisadores, entre os quais me incluo, resolveu se unir em um instituto que, em parceria com
o referido museu, preservasse e protegesse este acervo, além de promover atividades culturais,
publicações etc, em torno da obra de Jacob. O Instituto Jacob do Bandolim, vem desde então realizando
diversas atividades: lançamento de publicações de partituras, shows, etc. Na área de acervo o IJB foi o
responsável pela recuperação das 122 fitas de rolo de Jacob do Bandolim (citadas anteriormente) projeto
realizado sob a minha coordenação e do pesquisador e cavaquinista Sérgio Prata. Entre os membros do
IJB encontram-se músicos e pesquisadores como Hermínio Bello de Carvalho, Luiz Otávio Braga,
Mauricio Carrilho, Joel Nascimento, Déo Rian, entre outros.
227
Tabela 8: Organização das Partituras do Acervo Jacob do Bandolim
a) Partituras Xerox – 201 músicas divididas em 5 pastas
b) Partituras Manuscritas (PM) – 2250 músicas divididas em 13 pastas
c) Partituras Manuscritas por Jacob (PMJ)- 618, arrumadas em 5 pastas
d) Partituras Manuscritas na Horizontal (PMH) – 1495, arrumadas em 10 pastas
e) Partituras Manuscritas na Vertical (PMV) – 1077, arrumadas em 7 pastas
f) Partituras Impressas – 508, arrumadas em 13 pastas
g) Pastas de Cadernos de Partitura (cadernos de manuscritos de antigos chorões): 34
cadernos
h) Pastas “Ernesto Nazareth” – 165 partituras impressas para piano deste autor
divididas em 4 pastas.
i) PMO – Partituras Manuscritas Orquestrais – 62 arranjos de Radamés, Pixinguinha
entre outros, normalmente arranjos utilizados nas gravações comerciais de Jacob.
Total do acervo: 5.976 músicas
Sobre a série de partituras manuscritas, não é possível entender muito bem o
critério estabelecido pelo compositor: as “Manuscritas na Horizontal” se referem a
partituras muitas vezes oriundas de cadernos “deitados” — normalmente de 15cm de
altura por 28 cm de largura, em média —; as “Manuscritas na vertical” se referem a
partituras com dimensão de 30 cm por 20 cm. Não é possível entender muito bem o
porquê de haver uma série de “Partituras Manuscritas” somente, já que estas partituras
mesclam papéis de música “na vertical” e “na horizontal”. Talvez tenha sido um critério
posteriormente abandonado pelo compositor. Em todo o caso, o que importa observar é
que todas estas partituras estão ordenadas aparentemente sem qualquer critério
cronológico ou por autor: o mais provável é que Jacob as classificava conforme as ia
recolhendo ou coletando de outros acervos. A série PMJ se refere às partituras
manuscritas por ele.
Focaremos nossa análise nas séries PMH e PMV, que se constituem como
reuniões de coleções distintas de diversos copistas. O mais importante deles é sem
dúvida o trombonista Cândido Pereira da Silva, o Candinho, responsável pelo maior
número de partituras manuscritas da coleção. Por sua importância capital na história do
choro, creio que podemos fazer uma pequena digressão bibliográfica para melhor
228
contextualizar seu papel como instrumentista e compositor. Nascido em 1879, no Rio de
Janeiro, Cândido Pereira da Silva foi aluno do célebre Colégio dos Meninos Desvalidos,
em Vila Isabel, instituição que abrigou e formou diversos músicos como Albertino
Pimentel, Romeu Silva, entre outros. Na juventude, integrou a banda de música da
Fábrica de Tecidos Confiança, também em Vila Isabel, onde fez contatos com outros
músicos de choro como Pedro Galdino (autor da célebre polca Flausina), Eurico Batista,
entre outros. Foi um dos primeiros músicos de choro a gravar discos comerciais nas
décadas de 1910 e 1920, em diversas formações instrumentais, sendo a mais importante
delas o Grupo Carioca, com o qual gravou músicas que depois se tornariam clássicos do
gênero, como “Saudações” de Otávio Dias Moreno e “O Nó” de sua própria autoria. A
partir de 1933, ingressou como trombonista na Orquestra do Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, onde permaneceu até 1951, quando se aposentou. (EMB: 145). Além de suas
atividades como instrumentista foi um prolífico compositor e copista: não é exagero
dizer que boa parte do repertório do choro de final do século XIX e das primeiras
décadas do século XX chegou aos dias atuais graças à sua escrita. As centenas de
partituras manuscritas que deixou são encontradas em praticamente todas as coleções de
choro que nos chegaram da primeira metade do século XX: a coleção Jacob do
Bandolim, a coleção Almirante, a coleção Jupyaçara Xavier (que será alvo de análise
em tópico posterior), o arquivo Mozart de Araújo e a coleção Pixinguinha7 contém
manuscritos deste trombonista, que abrangem o impressionante período de 1907 (data
dos primeiros manuscritos) até a década de 1950. Aliás, podemos afirmar que graças à
ação combinada de Alexandre Gonçalves Pinto e às partituras escritas por Candinho é
que podemos conhecer pelo menos parte da música e da vida de diversos compositores
populares do Rio de Janeiro da época: autores como Pedro Galdino, Galdino Barreto,
7
A coleção Mozart de Araújo encontra-se hoje depositada no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de
Janeiro; a coleção Pixinguinha encontra-se no Instituto Moreira Salles também do Rio de Janeiro.
Pesquisas exploratórias nestes acervos foram realizadas por mim ao longo dos anos de 2008 e 2009.
229
Mário Álvares, Juca Russo, Videira, entre muitos outros, só se salvaram do
esquecimento total em boa parte graças ao trabalho de Pinto e Candinho.
As centenas de partituras manuscritas por Candinho encontradas no acervo
Jacob do Bandolim podem ser classificadas em três tipos: a) melodias compostas pelo
próprio Candinho, normalmente para flauta; b) melodias de autores diversos, também
escritas na extensão característica da flauta (oitava alta); c) contracantos escritos em
região grave (clave de fá) para as melodias acima e d) partituras com cifras para violões
(bem mais raras). Como compositor, Candinho deixou uma obra extensa, formada por
mais de uma centena de músicas, das quais a maioria permanece inédita até os dias de
hoje. Afora alguns clássicos como “O Nó” e “Dança de Urso” (ver anexo II, como
exemplo de composição manuscrita de Candinho), a maior parte de sua obra permanece
desconhecida. E se boa parte de sua obra foi preservada, sem dúvida podemos creditar
tal fato a Jacob do Bandolim, amigo pessoal do trombonista: há farta documentação que
comprova a amizade entre os dois (fotos, cartas, partituras com dedicatórias, etc). Jacob
coletou e catalogou em seu acervo não apenas uma vasta quantidade de partituras de
Candinho, como também vários documentos pessoais deste (diplomas, cadernos com
anotações, etc), além de ter elaborado uma lista das obras completas do trombonista (ver
anexo III). A relação entre Jacob e Candinho representa um importante elo de ligação
entre os compositores das primeiras gerações do choro com os representantes do gênero
da segunda metade do século XX: o trombonista conviveu, ou pelo menos coletou
músicas de boa parte dos músicos populares da belle époque e este material acabou
sendo herdado — e, ainda que em pequena medida, gravado — por um dos maiores
compositores e intérpretes do choro a partir da década de 1940.
Sobre as melodias de autores diversos escritas por Candinho o mais provável é
que ele escrevesse em seus álbuns de partituras as músicas que mais lhe aprazia tocar:
230
além disso podemos supor que diversos compositores da época procuravam o
trombonista para que este escrevesse suas músicas. É significativo um bilhete
encontrado no verso de uma partitura do acervo: a música “O tempero da comida é o
sal”, de Manoel Amorim Lima, vem acompanhada do seguinte bilhete: “Amigo
Candinho: corrija a seu modo e instrumentize [sic] para compreendermos alguma coisa,
pois eu quero escrever, porém não acho jeito, e por resto pesso [sic] desculpas”.
Significativamente, encontramos no acervo uma parte manuscrita de Candinho com um
contracanto para a melodia de Amorim Lima. O pedido para que o trombonista
corrijisse e “instrumentizasse” a música — provavelmente um pedido de composição de
um contraponto — se devia sem dúvida ao fato de que Candinho possuía grande
experiência musical proveniente de sua experiência como mestre de banda — o que
incluía teoria musical e composição.
Como dissemos anteriormente, o hábito de escrever contracantos graves para
as melodias do choro era freqüente, e entre as centenas de partituras de Candinho
encontramos um número significativo destes contrapontos, para músicas dos mais
variados autores (ver anexo IV para exemplo de contraponto grave escrito por
Candinho). Também é interessante assinalar a presença de algumas poucas partituras
com acompanhamento para o violão: das quase 3000 partituras das séries PMH e PMV
da coleção Jacob do Bandolim, só encontramos 3 partituras escritas exclusivamente para
o acompanhamento de violão: as PMH números 562, 900 e 924, esta última com a
harmonia e as convenções rítmicas de uma música de Pixinguinha intitulada “Quebra
Cabeças” (ver anexo V). A cifragem utilizada por Candinho ainda é a cifragem
“antiga”, que perdurará até a década de 1940 pelo menos: ao invés da atual cifragem
231
alfanumérica, os instrumentistas utilizavam uma cifragem baseada sempre nas relações
tonais e preparações8.
Dentre outros copistas presentes no acervo Jacob do Bandolim podemos citar
Quintiliano Pinto, Arnaldo Corrêa, Patrocínio Gomes e José Agostinho Macedo.
Quintiliano Pinto é ninguém menos do que o irmão de Alexandre Gonçalves Pinto, de
quem falaremos mais detalhadamente a seguir. Seus manuscritos situam-se entre 1914 e
1918 e refletem em sua maioria a música dos “antigos flautas”, como se verá: Callado,
Viriato, Silveira, etc (ver anexo VI para exemplo de manuscrito de Quintiliano). Com
uma caligrafia bastante miúda e nem sempre muito legível, Quintiliano deixou uma boa
quantidade de músicas dos autores citados acima, todas escritas para a flauta
(Quintiliano era também flautista como veremos a seguir). Interessante notar já algumas
composições de Pixinguinha entre os manuscritos de Quintiliano, como é o caso do
choro “Baú do Raul”, manuscrito datado de 1918 (ver anexo VII).
Arnaldo Corrêa é outro copista também muito presente não apenas na coleção
Jacob do Bandolim como em outras coleções correlatas, como o acervo de
Pixinguinha9. A maioria das cópias de Arnaldo Corrêa data de 1913 e 1914: não nos foi
possível, até a presente data encontrar qualquer indicação biográfica sobre ele (ver
anexo VIII para exemplo de música manuscrita por Arnaldo Corrêa). Pela escrita das
partituras pressupõe-se não se tratar de um flautista, e sim de um clarinetista ou de um
instrumento com extensão similar. Certamente era um músico conhecido e admirado
pelos instrumentistas da época: entre as músicas de Candinho encontramos uma
intitulada “Arnaldo Corrêa” (PMH 586), com a seguinte inscrição do trombonista:
8
Assim, a 1ª do tom significa a própria tonalidade, a 2ª do tom significa a dominante, etc.
Este dado foi verificado por mim em pesquisa exploratória realizada no Instituto Moreira Salles do Rio
de Janeiro, onde está depositado o acervo de Pixinguinha. Como este acervo ainda está por ser
catalogado, não foi possível incluí-lo em detalhes no presente estudo.
9
232
“Salve! 26 de julho, aniversário do Arnaldo”. Sobre os outros copistas, como Patrocínio
Gomes e José Macedo temos ainda menos informações.
4.3.2) Os cadernos manuscritos da Coleção Jacob do Bandolim
Passemos agora a uma análise detalhada do talvez mais importante item da
coleção de partituras Jacob do Bandolim: os 34 cadernos manuscritos. Abrangendo
quase um século de duração — o primeiro data de 1887 e o último de 1966; alguns
contêm mais de uma centena de partituras —, estes cadernos comprovam a importância
do registro escrito e da rede de troca entre estes músicos: não nos foi possível até o
presente momento averiguar de maneira precisa de que forma Jacob os teria herdado —
é bem possível que através do trombonista Candinho Silva. Os cadernos estão
identificados e datados da seguinte forma:
Tabela 9 – Coleção de Cadernos Manuscritos Acervo Jacob do Bandolim
Caderno 1 – Nestor S. Caiuby – 1887
Caderno 2 – Quintiliano Pinto – 1911
Caderno 3 – Quintiliano Pinto –1912 (Obs: irmão de Alexandre Gonçalves Pinto)
Caderno 4 – J. Marinho – s/ data
Caderno 5 – J. S. Cauby – s/ data
Caderno 6 – Junior S. Cauby – 1915
Caderno 7 – Junior S. Cauby – 1915
Caderno 8 – Quintiliano Pinto – 1917/1919
Caderno 9 – Quintiliano Pinto – 1917/1922
Caderno 10 – J.S. Cauby – 1932/35
Caderno 11 – J.S. Cauby – 1935
Caderno 12 – Manoel Pedro do Nascimento – 1939/52
Caderno 13 – Patrocínio Gomes – 1941/1942
Caderno 14 – Patrocínio Gomes – 1941/42
Caderno 15 – Patrocínio Gomes – 1942
Caderno 16 – Arlindo Nascimento – 1943/48
Caderno 17 – “Coletânea de Música – Propriedade de Patrocínio Gomes”
Caderno 18 – Albertino Aguiar (Bisoga) – 1944
233
Caderno 19 – Gustavo Ribeiro – 1946
Caderno 20 – Arlindo Nascimento – 1947
Caderno 21 – Arlindo Nascimento – 1947/48
Caderno 22 – Arlindo Nascimento – 1948
Caderno 23 – Patrocínio Gomes – 1948
Caderno 24 – Arlindo Nascimento – 1948/1959
Caderno 25 – Patrocínio Gomes – 1949
Caderno 26 – Arlindo Nascimento –1950/58
Caderno 27 – Arlindo Nascimento – 1951/1953
Caderno 28 – Arlindo Nascimento/ Manuel Pedro do Nascimento – 1959
Caderno 29 – Arlindo Nascimento – 1960
Caderno 30 – Arlindo Nascimento – 1960
Caderno 31 – Arlindo Nascimento – 1962
Caderno 32 – Arlindo Nascimento – 1963/66
Caderno 33 – Manoel Pedro do Nascimento – sem data
Caderno 34 – Músicas religiosas – sem data
No total os 34 cadernos contém 1315 músicas dos mais variados autores. A
catalogação deste material foi feita pela pesquisadora Anna Paes e serviu como base
para a análise que se segue. O primeiro caderno, datado de 1887, traz na capa a
inscrição “Pertence ao Snr. Nestor Soares Caiuby”, de quem não nos foi possível achar
maiores referências, a não ser o fato de que morava na cidade de Itú, São Paulo,
indicação contida em várias partituras. Contém 43 músicas no total, sendo que 42 não
tem qualquer indicação de autor. Boa parte das músicas são estrangeiras: assim,
encontram-se músicas como “La Dosset” — classificada como “quadrilha inglesa” —
“Les femmes du feu” — classificada como “Grande Valsa”, “Les chants des inares du
pape” e o “Carnaval de Veneza”. Observa-se no caderno uma diversidade de copistas,
algo que será comum em outros cadernos da coleção: provavelmente cada caderno
pertencia a um núcleo familiar, tendo um proprietário principal, mas que contava com
uma série de “colaboradores” em sua escrita. Assim, se boa parte das partituras foi
escrita pelo proprietário do caderno, como a “Mazurca” sem indicação de autor, mas
com a inscrição “cópia de Nestor S. Caiuby – Itú – 1-12-87” — várias delas trazem a
indicação de outros copistas. A “Valsa Amorosa” por exemplo, foi “copiada por
234
Antonio Pinto de Almeida Cesar em 15 de outubro de 1887”. Outra música, intitulada
“Banda dos Pausinhos” foi “copiada por Juca T. P. Campos”. Não nos foi possível
estabelecer a ligação destes dois copistas com Nestor Caiuby, mas este fato reforça a
ideia de que o caderno funcionava como uma espécie de álbum de família, onde
parentes e amigos escreviam e copiavam músicas para consumo doméstico. Outro fato
interessante a ser notado é a procedência de São Paulo, o que faz supor que o hábito da
escrita de álbuns de partituras manuscritas em paralelo ao consumo de partituras
impressas era algo que se repetia em outras partes do o país. Ao contrário do que se
poderia esperar, não há no caderno nenhuma partitura de autores “clássicos” do choro
do Rio de Janeiro, como Callado e Videira. Pela escrita das partituras conclui-se que o
seu proprietário não era flautista (a maioria das músicas dos cadernos dos flautistas é
escrita em oitava alta, o que não acontece neste caderno) — pela extensão das partituras
é razoável supor que se tratasse de um clarinetista.
Há ainda um outro caderno pertencente a Nestor Caiuby, datado de 1908.
Contém 87 músicas, sendo a maior parte (61) sem indicação de autoria. Neste caderno
já é possível encontrar alguns autores do choro carioca, como Albertino Pimentel e
Felisberto Marques, além de uma grande quantidade de compositores de São Paulo,
como Erotides de Campos e Mauricio Braga; é interessante observar também uma
composição intitulada “Schottisch e Polca”, sem indicação de autor. A primeira parte da
música é um schottisch, com sua característica marcante de melodia pontuada, e a
segunda parte se transforma em uma polca (ver anexo IX). Tal mescla de gêneros em
uma mesma música não era algo incomum (veja-se por exemplo o dobrado “Pavilhão
Brasileiro” de Anacleto de Medeiros, escrito todo em 6/8 e que na última parte se
transforma em uma polca em 2/4), e mostra como de certa forma estes gêneros
235
acabavam se “amalgamando” dentro de uma linguagem instrumental que depois seria
substantivada sob a designação “choro”.
Os cadernos de números 6, 7 (ambos datados de 1915), 10 (datado de 1932 a
1935) e 11 (de 1935 a 1936) são de Júnior Soares Caiuby, provavelmente algum parente
— talvez filho — de Nestor Soares. O primeiro deste caderno traz a indicação “Santos,
22 de dezembro de 1915”. Como característica geral, observa-se mais uma vez um
número expressivo de músicas estrangeiras como valsas de Strauss e de outros autores
da chamada “música ligeira” européia, como Franz Léhar e outros menos conhecidos.
No caderno 10, por exemplo, encontramos uma peça denominada “Lustspiel”,
classificada como “Ouverture cômica” de autoria de um certo J. W. Kalliwoda,
acompanhada da seguinte inscrição: “copiada da parte de cítara do sr. Jorge Winckler,
Rio Claro, 25-3-1933”. A cítara, instrumento hoje pouco usual, foi um instrumento
presente no ambiente do choro pelo menos até a década de 1980: Pinto cita em seu livro
dois citaristas que tocavam choro, e na segunda metade do século XX o instrumentista
Avena de Castro (1919 – 1981), destacou-se como compositor e intérprete de choro.
Além de composições estrangeiras, os cadernos de Júnior Cauby apresentam,
tais como o de Nestor, grande quantidade de compositores do estado de São Paulo: além
do já citado Erothides de Campos, encontramos nomes menos conhecidos como Miguel
Camelloto — autor de uma valsa intitulada “Giuseppe Verdi” — e Nicolino Milano. Os
nomes já atestam a influência italiana, bastante compreensível em se tratando do interior
do estado de São Paulo.
De todos os cadernos da coleção, talvez os mais importantes sejam os de
números 2, 3, 8 e 9, datados respectivamente de 1907-1911, 1912, 1917-1919 e 19171922, pelo fato de pertencerem ao já citado Quintiliano Pinto, flautista e irmão de
236
Alexandre Gonçalves Pinto, o personagem principal deste trabalho. Quintiliano é
descrito da seguinte forma no livro do “Animal”:
Quintiliano Pinto, irmão do escriptor, um dos velhos chorões e de nome na roda dos
que tocavam ou não. Quando a nossa Mãe morreu, elle apaixonou-se tanto, que
nunca tendo escripto qualquer musica, compoz uma valsa, bastante triste, que botou
o nome de "Minha Mãe", porém apesar de não compor, tocava todas as musicas dos
velhos e novos flautas ou de outro qualquer instrumento. Tocou em muitos bailes,
serenatas e festas, e, tinha muito gosto pela musica, especializando-se das antigas
do seu tempo. Só deixou a flauta, já bastante idoso, e pela moléstia que aos poucos
foi minando o seu organismo, sepultou-se no Cimeterio do Pichincha em
Jacarépaguá proveniente de uma paralysia, e que hoje como seu irmão, ainda choro,
e lastimo a sua morte, pois sempre tocamos juntos, e muitos nos estimavamos. Paz á
sua alma é o que peço a Deus como todos os seus companheiros que com elle
dormem o somno da eternidade (29)
A menção ao fato de Quintiliano ser conhecido “na roda dos que tocavam ou
não” reforça a ideia de que Alexandre abarcava em seu conceito de “chorão” não apenas
aqueles que tocavam, mas os que estavam presentes ao ambiente da roda, como vimos
no capítulo três. Também o fato de que Quintiliano havia se especializado nas “músicas
antigas do seu tempo” é comprovado na análise do repertório de seus cadernos: boa
parte deles é composto de músicas de compositores classificados como os “antigos
flautas” por Pinto: Callado, Viriato, Videira, Juca Kallut, entre outros. Passemos agora a
uma análise mais pormenorizada de cada caderno.
O primeiro caderno de Quintiliano abrange o período de 1907 a 1911 e contém
44 músicas, a maioria (13) de Joaquim Callado — sendo que destas 13 músicas, 12 são
quadrilhas, o que comprova a popularidade deste gênero no início do século. Boa parte
das partituras traz a indicação: “Copiada por Quintiliano Pinto em” seguido da data, que
varia dentro do período já citado de 1907 a 1911. Esta inscrição nos permite levantar
uma questão, que aliás é pertinente a todo o material manuscrito aqui analisado: as
“cópias” de Quintiliano seriam resultado de um ato mecânico de cópia de outra fonte,
ou o flautista aprendia as músicas através da tradição oral (“de ouvido”) e depois as
transcrevia? E se são resultado da cópia direta de outras partituras, como estabelecer um
237
“roteiro” das fontes primárias das quais estas cópias são resultado? São perguntas
difíceis de serem respondidas de forma absoluta: por um lado, sabemos pelo relato de
Pinto que o ato de copiar álbuns de partituras era relativamente comum na época.
Lembremos a sua descrição, já citada aqui, do flautista João Sampaio que “... tinha
diversos cadernos de choro pelos quais tinha grande zelo. Ninguém arrancava uma
música qualquer para fora, só deixava copiar em sua casa sobre suas vistas.”
Depreende-se do trecho citado que os processos de empréstimos e cópias das partituras
manuscritas eram frequentes, ainda que alguns, como João Sampaio, fossem tão zelosos
com o seu material que só permitiam cópias sob “suas vistas”. Por outro lado, é lícito
supormos que muitas destas partituras fossem escritas a partir da percepção da tradição
oral, ou seja, após um aprendizado “de ouvido”. É o caso de partituras que aparecem
frequentemente em diferentes álbuns e que se tornaram muito populares em suas
épocas, muitas delas recebendo letras de poetas como Catulo da Paixão Cearense, o que
aumentava ainda mais a sua aceitação popular. Deste repertório podemos citar diversos
exemplos: os schottischs “Yara” e “Implorando” de Anacleto de Medeiros, o tango
“Sertaneja” de Mário Álvares, as valsas “Sorrir Dormindo” e “Camponesa” de Juca
Kallut, a polca “Atraente” e o tango “Gaúcho” de Chiquinha Gonzaga, entre muitas
outras — boa parte deste repertório, inclusive, chegou até os nossos dias através da
tradição oral. Uma análise das diversas cópias destas músicas encontradas nos acervos
manuscritos nos mostra a existência de variações entre elas, algumas até bastante
significativas, a ponto de podermos falar de diferentes “versões” de uma mesma música,
o que corrobora a teoria de que elas eram muitas vezes escritas a partir do aprendizado
oral. Retomaremos esta questão nas conclusões deste trabalho: voltemos agora à análise
dos cadernos.
238
O caderno de número 3, datado de 1912, contém 22 músicas de variados
autores, tendo a grande maioria a inscrição “Copiada por Quintiliano G. Pinto em
1912”. É interessante notar que uma das músicas do caderno, intitulada “Feijoada das
Pragas”, de autoria de Juca Russo, contém também a inscrição: “Propriedade
exclusivamente do autor”. Seria uma forma de se assegurar a autoria da música, em uma
época em que a questão dos direitos autorais ainda era incipiente? Note-se que é a
primeira vez em que uma inscrição como esta aparece em um caderno. Juca Russo é
descrito por Pinto como “um príncipe no violão e no cavaquinho” (195), filho de Juca
Valle, violonista acompanhador dos “velhos flautas” Callado e Viriato.
Finalmente, os cadernos de números 8 e 9, (datados de 1917-1919 e 19171922) contêm 20 e 65 músicas respectivamente. No caderno 8 encontramos pela
primeira vez duas músicas de Pixinguinha, intituladas “Luiz Tocando” e “Salutaris”.
Quintiliano nomeia o autor como “Alfredo da Rocha Vianna Filho” e não pelo apelido
que tornaria célebre o autor de “Carinhoso”. Neste caderno encontramos ainda músicas
que posteriormente seriam consideradas “clássicas” do gênero, que se tornariam parte
da tradição oral do choro até o final do século XX e que seriam gravadas por diversos
intérpretes neste período. É o caso do choro “Bonicrates de Muletas” de autoria de
Biliano de Oliveira — gravada por Jacob do Bandolim e até hoje muito popular em
rodas. No caderno 9, das 65 músicas, 34 são de autoria de Candinho Silva, o que
demonstra mais uma vez a popularidade das composições deste trombonista.
Voltemos agora à análise dos demais cadernos da coleção. Os cadernos de
números 13, 14, 15, 17 e 25 pertenciam ao bandolinista Patrocínio Gomes, autor de pelo
menos uma composição que ficou célebre entre os músicos de choro a partir da década
de 1940: o choro “Pardal Embriagado”. Os cadernos são datados respectivamente de
1941, 1940-42, 1942, 1943-1956 e 1949. O primeiro caderno de Gomes, datado de
239
1941, traz na sua primeira página a inscrição: “Caderno de Músicas – Pertence a
Patrocínio Gomes. Rio 1 de julho de 1941 – Travessa D. Rosa no 40. B. Pinheiros”.
Contém 30 músicas, dos mais diversos autores de choro, todas elas copiadas por seu
proprietário, com exceção da valsa “Sonhando” do flautista Dante Santoro, copiada por
um “R. Macedo”. Interessante notar a presença de um tango argentino intitulado “Mano
a Mano” de Carlos Gardel, entre a série de choros. Esta é aliás uma questão curiosa que
estará presente em outros cadernos de Gomes: a mistura de autores “clássicos” do choro
com cópias de músicas de sucesso comercial da época, muitas delas estrangeiras.
Assim, se o caderno 17, datado de 1943-1956 — talvez o maior caderno de todos em
quantidade de músicas: 128 — contém diversos autores de referência como Candinho
(autor de nada menos do que 56 das composições deste caderno), Pixinguinha e outros,
o caderno 19, datado de 1949, contém uma grande quantidade de partituras de outros
gêneros, notadamente de rumbas e boleros, gêneros então em voga na época.
O mesmo fato pode ser observado nos cadernos de Manuel Pedro Nascimento,
clarinetista e seu filho Arlindo Nascimento, bandolinista. Ambos eram músicos
freqüentadores do “Retiro da Velha Guarda”, conforme será visto no capítulo cinco.
Somados, os cadernos pertencentes a dupla representam a maioria da coleção, com 8
volumes. Como característica geral, observa-se que estes cadernos contêm, além de
alguns choros clássicos de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, etc, composições de choro
das décadas em que o caderno foi manuscrito — ou seja, músicas contemporâneas da
época. Assim, por exemplo, o caderno de número 16, de Manuel Pedro Nascimento,
contém 42 músicas, sendo que a quase totalidade é de compositores das décadas de
1940 e 1950 como Jorge Raposo, José de Freitas, Arlindo Nascimento, entre outros. E,
como os cadernos de Patrocínio Gomes, há uma grande influência da música comercial
da época: assim, o caderno 16, de Arlindo Nascimento tem 46 músicas, quase todas
240
transcrições de sambas, canções, foxes, frevos e outras músicas divulgadas pelas rádios
e pelo disco da época.
Tabela 10: Gêneros Musicais mais representativos nos Cadernos Manuscritos do
Acervo Jacob do Bandolim: por décadas
Datas/Gênero
Blues
Bolero
Choro
Fox
Frevo
Gavota
Habanera
Marcha
Maxixe
Mazurca
Polca
Quadrilha
Ragtime
Rancheira
Samba
Schottisch
Tango
Valsa
Sec.
XIX
até 1930 a 1960
década de 1930
2
11
445
30
13
4
3
4
2
27
211
18
3
1
58
19
111
18
1
2
21
7
21
6
7
206
Total
2
445
5
13
4
3
22
3
29
232
18
3
7
22
64
26
317
Uma análise geral das designações de gênero usadas pelos próprios copistas
nos cadernos do período aponta para algumas conclusões interessantes. Como vemos na
tabela acima, algumas designações de gêneros são encontradas somente no período de
fins do século XIX até o início da década de 1930: a quadrilha, por exemplo, cai em
total ostracismo a partir desta década. Outros gêneros muito populares no início do
século, como a polca e o schottisch, apesar de não serem totalmente esquecidos no
período posterior, têm sua representatividade bastante reduzida. O termo “choro” só
aparece a partir da década de 1930, o que confirma a ideia de que a expressão era usada
nas primeiras décadas do século XX para designar o grupo musical ou a reunião de
241
músicos em determinado lugar para a prática da “roda”. Chama a atenção também o fato
de haver pouquíssimas músicas designadas como “maxixe”, em ambos os períodos, o
que talvez confirme o fato de que esta designação estava muito mais ligada à dança do
que à música propriamente.
4.3.4) Os cadernos de Jupyaçara Xavier
Uma das mais importantes fontes de pesquisa da atualidade sobre o acervo de
choro do século XIX e início do XX é a coleção do flautista João Jupyaçara Xavier, que
faz parte do acervo Almirante também atualmente no Museu da Imagem e do Som.
Temos poucas informações biográficas sobre este flautista, sendo que nossa maior
referência é mais uma vez o relato de Gonçalves Pinto, que nos dá de Xavier o seguinte
retrato:
Flauta de outros, e deste tempo para orgulho meu e de seus amigos. Ainda vive,
apesar dos seus janeiros ainda não deixa de ir ás festas, chôros e reuniões de amigos
com a sua linda flauta toda de prata, fazenda as alegrias dos lares. Jupiaçara
conheceu todos os chorões d'aquelle tempo que muito os aprecia e que ainda hoje
tem grandes recordações. Conserva na sua linda vivenda os retratos de quasi todos
os grandes flautistas acima mencionados, pois é uma reliquia que d'alli não se retira
por modo algum.
O único documento que nos dá mais algumas pistas sobre Jupyaçara é uma
carta do próprio flautista endereçada ao radialista Almirante datada de 194410 e que
julgamos interessante transcrever aqui:
Rio 4 de junho de 1944,
Ao prezado Almirante,
Os meus saudares respeitosos.
10
Esta carta faz parte do acervo Almirante, hoje no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, e foi
encontrada pela pesquisadora Anna Paes em pesquisa realizada em julho de 2009.
242
Sou admirador do vosso talento, bem [como] da vossa operosidade, descobrindo
músicas antigas de autores e compositores brasileiros, incentivando no espírito da
mocidade o bom gosto e o conhecimento do que existe de sublime, em se tratando
de lídimos compositores, cultores da dança familiar. O vosso acurado esforço, sem
desfalecimento, é invejável, trazendo para o rádio, sob o impulso do microfone, o
máximo do vosso talento. Sem contestação direi: nunca ninguém teve essa
iniciativa, tarefa aliás difícil. V. Sa. reúne as qualidades que todos reconhecemos.
Fidalguia no trato e quiçá educação e paciência, colecionando músicas de choro
tornando desta arte conhecidos os compositores célebres daquela época, a [sic]
sessenta, setenta anos e mais como o grande flautista e compositor Calado, Viriato,
J. Pereira da Silveira flautista profissional e compositor de lindas contradanças e de
outros gêneros, Inagnacio [sic] Machado exímio flautista, e igualmente compositor,
Luizinho, João Duarte, Saturnino, João Fluminense, José Moura, Chiquinha
Gonzaga, Pedro Galdino, Guilherme Cantalice, o saudoso Albertino Pimentel 2º
tenente regente da Banda de música do Corpo de Bombeiros da Capital Federal,
tendo deixado como insinamento [sic] bagagem enorme de belíssimas composições
para choro. Existe ainda o professor de orquestra Candido Pereira da Silva (o
Candinho) que tem escrito maior número de músicas para choro.
Sou o mais obscuro amador musicista, ainda assim um apaixonado pela música.
Businei um pouco na flauta sem maior habilidade. Tenho predileção pelo
instrumento, tanto assim que, ainda o conservo com carinho há 32 anos sempre bem
conservado quanto a qualidade e feitura. O objetivo destas linhas despretensiosas é
pedir-vos indulgências par o humilde que vos escreve, bem assim, a fineza de
chegar a nossa residência a rua Teles 87 (casa 1) Jacarepaguá, primeiro poste acima
do Largo do Campinho, onde terei maior liberdade [de] demonstrar ao mestre, o
que, acima, venho a expor. Queira, pois, escrever-me, marcando dia e hora que
melhor vos convenha. Possuo 10 cadernos de músicas de choros: belas polcas,
mazurcas, valsas, schottischs, quadrilhas e outros gêneros de músicas. Desejo ouvir
sua opinião abalizada.
Com estima,
J. Jupyaçara Xavier
À margem: “Sou um octogenário: já ouvi pois!”
É realmente interessante fazer um paralelo entre esta carta e o pedido de
Gonçalves Pinto a Benedito Lacerda no sentido de divulgar o repertório dos
compositores “antigos” de choro, visto no capítulo três. Transparece aqui uma vez mais
a questão da relação deste gênero musical, e particularmente dos músicos do século XIX
e do início do século XX, com a indústria fonográfica das décadas de 1930 e 1940: esta
parece ser aliás a razão comum que leva Gonçalves Pinto e Jupyaçara, dois
representantes dos “chorões antigos” (Jupyaçara diz na carta ser um octogenário na
década de 1940, o que situa seu nascimento por volta da década de 1860) a escreverem
243
no final de suas vidas (é verdade que Pinto escreve de forma indireta) para dois grandes
representantes do rádio: Almirante e Benedito Lacerda. A diferença, entretanto, reside
no fato de que, enquanto Lacerda talvez nunca tenha tomado conhecimento dos pedidos
de Pinto, o cantor e radialista Almirante estava fortemente interessado em obter acervos
do passado: tendo abandonado a carreira de cantor a partir da década de 1940 para se
especializar em programas de rádio que alcançariam grande sucesso nacional, tais como
“Caixa de Perguntas” (1938) e “Incrível, fantástico, extraordinário” (1947), Almirante
inicia a partir da década de 1940 uma campanha de recuperação de antigos músicos,
cantores e compositores que se inicia com o programa “História de Orquestras e
Músicos” em 1944 e culmina com a série de programas “O Pessoal da Velha Guarda”,
programa que apresentava, todas as quartas feiras, orquestrações de Pixinguinha para o
repertório “antigo” do choro. Neste ambiente de verdadeira “campanha” em prol da
recuperação de acervos e de dados biográficos sobre músicos e orquestras brasileiras,
Almirante solicita aos ouvintes que tivessem acervos antigos de partituras ou dados
sobre a vida de compositores importantes, que enviassem o material para a rádio, o que
faz com que em pouco tempo centenas de cartas com farto material cheguem às suas
mãos (EMB, 2000: 20 e Cabral, 1990). É neste contexto que deve ser analisada,
portanto, a carta do flautista Jupyaçara. Embora não tenhamos comprovações da
resposta de Almirante, podemos inferir que o radialista aceitou o convite do octogenário
flautista de lhe fazer uma visita e acabou “herdando” os cadernos, material riquíssimo
que analisaremos a seguir.
A coleção Jupyaçara se compõe de onze cadernos, sendo dez de partituras
manuscritas e um de poesias, em sua maioria com letras de choros de poetas da época,
como Catulo da Paixão Cearense. Os dez cadernos contêm 859 músicas manuscritas no
total: um levantamento das músicas, autores e anotações nas partituras (datas, copistas,
244
etc) foi elaborado por mim ao longo deste trabalho e demonstra alguns fatos
interessantes. Em primeiro lugar, podemos observar que, ao contrário do que se poderia
esperar, as músicas dos cadernos não foram escritas por uma pessoa só: ao contrário, há
uma grande diversidade de copistas, principalmente nos primeiros cadernos, o que nos
leva a pensar que pelo menos parte da coleção Jupyaçara é na verdade uma reunião de
manuscritos provenientes muitas vezes de fontes diferentes — o que reforça a tese de
que existia de fato uma rede de cópias e de troca destas partituras. Os cadernos também
não estão numerados de forma cronológica, como se poderia esperar. Aparentemente o
mais antigo deles é o caderno de número 9: tendo na capa a inscrição “M. Corrêa”, este
caderno traz uma página com a seguinte anotação: “Este caderno tem as músicas
seguintes: 6 quadrilhas/ 6 polcas / 6 valsas. Forão [sic] todas escolhidas para flauta. São
Paulo 13 de abril de 1882 [o último número foi cortado, mas parece ser 2]. A última
folha traz a seguinte inscrição: “2-15-82 São Paulo 1ª Flauta”. É difícil precisar hoje
quem seria este “M. Corrêa” e de que modo Jupyaçara teria “herdado” este caderno,
mas é interessante notar mais uma vez a procedência de São Paulo. No repertório deste
caderno aparecem, além de Callado e Henrique Alves de Mesquita, compositores
desconhecidos como J.J. Santana e D. Amélia Eliza, autora de uma curiosa “Valsa
Chinesa”: seriam autores paulistas? Não nos foi possível averiguar: entretanto percebese mais uma vez a referência a São Paulo no tango intitulado “O Veludo” de autoria de
um certo João O. Duarte, que dedica a música ao “flautista paulista” de mesmo nome.
Talvez o fato mais importante que resulta da análise deste caderno seja a comprovação
de que as músicas de compositores de choro, como Callado e Mesquita, circulavam
ainda no século XIX em forma de manuscritos por diferentes estados do Brasil e não
ficavam circunscritas à então capital federal.
245
O segundo caderno em ordem de antiguidade parece ser o de número 1, cuja
data pode-se situar em torno de 1909. Compõe-se de 158 músicas, sendo que destas há
44 que contêm a indicação inequívoca do copista: os nomes que aparecem mais
freqüentemente são os de duas copistas mulheres sobre as quais não temos nenhuma
informação — Gilda Mattos (todas com data de 1909) e Ismênia Polly de Amorim
(todas com data de janeiro de 1910). Aparece ainda o já citado Quintiliano Pinto, que
assina o manuscrito de uma polca intitulada Saudades de Isabel, de Callado, dedicandoa “ao meu amigo Jupyaçara” em 1909 (Anexo X). A diversidade de copistas escrevendo
em um mesmo caderno também é algo que nos faz pensar: seriam membros da mesma
família, compartilhando um caderno como quem compartilha um álbum de recordações
ou um diário? Ou será que um mesmo caderno circulava entre um número distinto de
pessoas, sendo que cada um fazia suas anotações e depois o passava adiante? São
perguntas difíceis de responder de forma absoluta. É neste caderno que se encontra,
colada na contracapa, um programa de um concerto de música com os dizeres: “Grande
concerto do flautista brasileiro Gabriel de Almeida – aluno laureado do Instituto
Nacional de Música e ex-discípulo do inesquecido professor Duque Estrada Meyer –
Ginásio de Música”, como exposto em tópico anterior.
O terceiro caderno mais antigo é o de número 4, datado de 1912. Ao contrário
dos dois citados anteriormente, este caderno foi escrito por uma só pessoa: o trompetista
Albertino Pimentel, conhecido pela alcunha de “Carramona”, compositor que chegou
até o século XXI com pelo menos uma música que virou parte da “tradição oral” do
choro: a polca “Coralina” gravada repetidas vezes ao longo do século XX11. Nascido em
1874, Pimentel foi, assim como Candinho Trombone, aluno do Colégio dos Meninos
11
Ary Vasconcelos, em seu livro Carinhoso etc. – História e Inventário do Choro cita 5 gravações desta
música, a primeira de 1910 com o grupo Morro do Pinto e a última de 1977 com o grupo “Os
carioquinhas no choro”. No entanto desde o lançamento deste livro, na década de 1970, a música já
recebeu diversas outras regravações, com solistas variados, entre eles o bandolinista Joel Nascimento.
246
Desvalidos, em Vila Isabel, onde se iniciou no trompete fazendo parte da banda de
música do referido colégio: diz a lenda biográfica que, tendo se apresentado com a
banda do referido colégio para a princesa Isabel, esta teria ficado impressionada com o
seu desempenho ao trompete, e tendo notado que o menino tinha um olho vazado,
mandou-o ao oculista que lhe colocou um olho de vidro (EMB: 165). O fato é que
Pimentel entra em 1900 para a Banda do Corpo de Bombeiros e rapidamente sobe na
hierarquia da instituição, chegando a regente da mesma após a morte de Anacleto de
Medeiros em 1902. O caderno número 4 se inicia com uma transcrição do “Hino
Nacional Brasileiro” de Francisco Manuel da Silva e é seguido de 29 músicas de autoria
do próprio Albertino, sendo uma delas intitulada “Jupyaçara”. A intenção de
homenagem fica patente ao final do volume, onde encontramos a seguinte dedicatória
escrita em letras rebuscadas ao gosto da época: “Ao distincto Capitão Jupyaçara,
modesta lembrança do obscuro amigo Albertino Pimentel (o Carramona) Rio 1º de
janeiro de 1912.” (Anexo XI).
Os cadernos de números 2, 5 e 10 têm suas datas fixadas logo em suas
primeiras páginas: 1937-39, 1936 e 1939, respectivamente. Ainda assim, o que se
verifica é que não há tampouco aqui uma unidade de copistas e de datas dos
manuscritos. O caderno 10, por exemplo, apresenta grande número de músicas copiadas
por Jupyaçara em datas distintas, como 1935, 1936 e 1942 — prova de que o
octogenário flautista escreveu até o fim da vida, portanto. No meio do caderno aparece
novamente uma cópia de Quintiliano Pinto, datada de 12 de setembro de 1926: a música
intitula-se “Tira o dedo do pudinho” e é oferecida novamente ao “distinto amigo J.
Jupyaçara Xavier”.
O caderno número 8 apresenta na capa os dizeres: “Flauta- Músicas de Choro
– J. Jupyaçara Xavier” e logo em seguida a inscrição: “Músicas para flauta – Pertence a
247
J. Hilário Xavier da Costa”. Tudo indica que este é mais um caderno “herdado” por
Jupyaçara: a caligrafia não corresponde em momento algum ao do flautista. Deste J.
Hilário Xavier da Costa sabemos apenas que era compadre de Albertino Pimentel pelo
fato de que este último dedicou-lhe uma música intitulada “Eu e meu compadre”,
presente no caderno 3 com os seguintes dizeres: “Polca composta pelo professor
Albertino Pimentel e dedicada ao seu compadre João Hilário da Costa”. Pelo tipo de
repertório — composto em grande parte por autores do século XIX como Callado,
Viriato, Henrique Alves de Mesquita, entre outros — e pelo precário estado de
conservação das partituras, é razoável presumir-se que este caderno pertence no máximo
à primeira década do século XX — embora não haja nenhuma indicação de data em
suas páginas. Aliás, a única partitura com alguma indicação de data intitula-se
“Recordações dos três amigos” e traz os seguintes dizeres: “Escrita por Guilherme
Cantalice e feita por Julio (Bahianinho) em 30 de novembro de 1878”. A indicação é
ambígua: a música foi composta por Julio Bahianinho e escrita por Cantalice — não
sabemos, entretanto, se a cópia foi feita em 30 de novembro de 1878 ou se esta é a data
da composição. No canto da página, a lápis, algumas observações com a caligrafia de
Jupyaçara: “Até 1934, 56 anos. Até 1942, 64 anos”.
Passemos agora a uma pequena análise do repertório dos cadernos: mais uma
vez reafirma-se aqui a popularidade das músicas de Callado — do total citado de 859
músicas da coleção, verifica-se que 89 são de sua autoria, ou seja, mais de 10% do total.
Verifica-se também aqui que há músicas que aparecem em diferentes cópias, o que sem
dúvida atesta, como já citado, a popularidade de algumas músicas em detrimento de
outras. Assim, destas 89 músicas de Callado muitas aparecem em cópia: as quadrilhas
Mimosa e Manoelita, por exemplo, aparecem respectivamente em três e duas cópias em
cadernos distintos; as polcas “Puladora” e “Salomé” aparecem em cinco cópias cada
248
uma em diferentes cadernos. “Cruzes, minha prima” também aparece três vezes ao
longo da coleção, sendo duas vezes no caderno número 1. Curiosamente, a polca que se
tornaria a mais conhecida (e talvez a única a permanecer na tradição oral até o final do
século XX), “A flor amorosa”, aparece apenas uma vez no caderno 8. Mais importante é
constatar que a maior parte destas músicas jamais foram editadas e que chegaram até
nós exclusivamente por seus registros na coleção Jupyaçara.
O segundo compositor com maior número de músicas é o trombonista
Candinho Silva (44 músicas), seguido por Albertino Pimentel (40 músicas), Anacleto de
Medeiros (35 músicas), o flautista Viriato Silveira (26 músicas) e Francisca Gonzaga
(14 músicas). Interessante notar mais uma vez que os últimos cadernos, escritos a partir
de 1930, já contêm uma quantidade significativa de músicas que eram sem dúvida
divulgadas pelas rádios e pelo disco da época: músicas como “Samba de nêgo”, de
Pixinguinha e “Pelo Telefone”, de Donga, passam a compor o repertório dos cadernos,
sempre mesclado às músicas dos “antigos flautas”.
4.4) Uma musicologia popular
Analisadas algumas das mais importantes coleções de choro que nos chegaram
das primeiras décadas do século XX resta-nos agora estabelecer algumas relações entre
elas. A primeira relação diz respeito ao fato de que partituras dos mesmos copistas
aparecerem em diversas coleções: assim manuscritos de Quintiliano Pinto e Candinho
Silva aparecem nos álbuns de Jupyaçara e nas partituras avulsas da coleção Jacob do
Bandolim. Manuscritos de Arnaldo Corrêa aparecem na coleção Pixinguinha e
novamente nas partituras “herdadas” por Jacob. Tal fato comprova o quanto estas
partituras circulavam dentro de um círculo específico de músicos que certamente
249
tocavam juntos e tinham relações de amizade: esta é comprovada pelo hábito, comum
na época, de se dedicar composições ou cópias aos colegas. Assim, encontramos na
coleção Jacob do Bandolim músicas de Candinho feitas em homenagem a outros
instrumentistas: “Arnaldo Corrêa”, um choro e “Jupyaçara”, uma valsa, são exemplos
disso. Também Quintiliano Pinto escreve um manuscrito e o dedica à Jupyaçara, assim
como Albertino Pimentel, que chega a presentear o flautista com um álbum manuscrito
de suas composições.
A segunda constatação importante é a de que, a partir do final da década de
1940, quando começa a se interessar pela constituição de um acervo (Paz, 1997), Jacob
do Bandolim inicia um processo — ainda que bastante incipiente e não muito
sistemático — de comparação e análise das diversas fontes de acervos diferentes.
Encontramos em centenas de partituras de seu acervo anotações feitas por ele que
procuram estabelecer relações das músicas escritas entre as diferentes coleções.
Podemos citar diversos exemplos que ilustram a questão: a música “Dominante” de
Pixinguinha (PMH 043), manuscrita por Jacob, contém as seguintes anotações ao lado
da página: “arq. Candinho”, “arq. Arnaldo Corrêa”, “conf. Candinho” (ver anexo XII).
Ou seja, aquela música estava presente nos arquivos de Candinho e Arnaldo Corrêa: é
mais difícil inferir o que quer dizer a inscrição “conf. Candinho”. Possivelmente queira
dizer: “conferida”, ou “a ser conferida” por Candinho. A música “Honória” de Galdino
Barreto, também manuscrita por Jacob traz a seguinte observação: “Arquivo Candinho,
cop. Arnaldo Corrêa. Conferir Candinho/Figueiredo à lápis” (anexo XIII). Ou seja, a
cópia manuscrita de Jacob fora feita a partir do manuscrito de Arnaldo Corrêa
pertencente ao arquivo Candinho e deveria ser conferida com o próprio Candinho —
não sabemos o que quer dizer “Figueiredo a lápis”, talvez uma outra cópia da mesma
250
música feita à lápis? A música “Nogueiredo ou Nogueirita”, de Cantalice, também
manuscrita por Jacob traz a observação: “Conferida por Candinho”.
Estas observações não se restringem somente às músicas manuscritas por
Jacob. Diversos manuscritos de Quintiliano e Arnaldo Corrêa, bem como de outros
copistas, trazem indicação do bandolinista procurando relacionar as diferentes fontes. O
PMH 601, por exemplo, manuscrito de Quintiliano para a música “Qualquer coisa” de
Irineu de Almeida traz as seguintes observações de Jacob no canto da página: “Conferir
C. 39, Conferir MF 11, Conferir MF 39”. Até o presente momento da pesquisa não nos
foi possível averiguar a que se referem as siglas “C” e “MF”: certamente a outras fontes
e/ou arquivos que deveriam servir como referências de comparação com o manuscrito
citado. Outro exemplo é a música Miúda (PMH 746), manuscrito de Arnaldo Corrêa,
que traz a seguinte observação de Jacob: “Conferir estas versões”.
Sabemos também que Jacob copiou diversas partituras da coleção Jupyaçara:
ao que tudo indica, o bandolinista teve acesso à coleção através do radialista Almirante,
de quem era amigo pessoal12. São muitas as partituras manuscritas pelo bandolinista
com a indicação: “cop. Jupyaçara” — e todas elas realmente se encontram no acervo de
Xavier. Também é fato que o bandolinista copiou músicas de outras fontes que ainda
não conseguimos identificar: por exemplo a música “Hilda” de Mário Álvares (PMH
798) que traz a inscrição: “Cop. Betinho. Ver outra versão no caderno n. 1, 30-06-1907
ou 1917”. Não nos foi possível até o momento verificar quem teria sido o citado
“Betinho” e quais os cadernos pertenceriam a ele. Além das indicações das fontes e das
cópias em diversos cadernos, Jacob anotava também de forma freqüente variações de
melodias e de forma das mesmas músicas. Assim, verifica-se, por exemplo, no
12
Significativamente, encontra-se no arquivo Almirante no Museu da Imagem e do Som do Rio de
Janeiro um pequeno papel em que o radialista — sempre muito cioso do material que emprestava a
terceiros, conforme nos diz Cabral (1990) — tomou a seguinte nota: “Jacob pede emprestada as partituras
de Jupyaçara” (material encontrado pela pesquisadora Anna Paes em pesquisa realizada no MIS-RJ em
julho de 2009)
251
manuscrito da partitura da polca “Puladora” de Callado (PMH 739) a seguinte
observação de Jacob: “Na versão de Candinho, depois da 2ª entra a primeira, como se
segue e uma entrada para a 3ª parte acima escrita. José Agostinho Macedo chama de
‘Imortal’” (ver Anexo XIV).
Em suma, este trabalho realizado por Jacob, ainda que de forma pouco
sistemática, aponta para a realização de um trabalho analítico e musicológico das
coleções, feito por um músico popular fora do ambiente da academia. Mais do que isso,
aponta para o fato de que, ao longo de sua trajetória de cerca de 150 anos, o choro —
através de diversos compositores e intérpretes como Candinho, Jupyaçara, Quintiliano e
Jacob do Bandolim — sempre esteve construindo e auto-referenciando um repertório e
uma história, processo em que o registro escrito teve sempre um papel de grande
importância, ainda que pouco ressaltado na bibliografia sobre o gênero.
Ainda que uma análise completa de todos os acervos manuscritos de partituras
dispersos em diversas instituições do Rio de Janeiro fuja ao âmbito e aos objetivos deste
trabalho, creio que algumas conclusões parciais podem ser relatadas. Estas conclusões
podem ser resumidas da seguinte forma: a) a importância do registro escrito no choro, e
particularmente do choro de fins do século XIX e primeiras décadas do XX foi um fato
subestimado (e em muitos casos ignorado), pela bibliografia do gênero até os nossos
dias; b) o registro das composições de choro, dispersa em milhares de manuscritos
dispostos em diferentes álbuns e coleções funcionou sempre como uma espécie de
“ambiente paralelo” à indústria editorial da época, suprindo as carências desta e
servindo como meio de propagação de um repertório que certamente “nutriam” o
ambiente das rodas de choro. Assim, boa parte do repertório dos compositores de choro
deste período jamais foi editado, e a única maneira com que estas músicas circulavam
era através desta rede de manuscritos e cópias entre diferentes instrumentistas. Aliás,
252
podemos dizer que esta espécie de “rede paralela” de cópias de partituras manuscritas
no choro perdura até hoje13; c) a influência da música da rádio e do disco passa a ser
sentida de forma decisiva nos cadernos a partir da década de 1930: esta influência se
refletia não apenas pela música de choro que era tocada nas rádios — com intérpretes
como os já citados Luiz Americano, Luperce Miranda, Pixinguinha, etc — como pela
influência de músicas de outros gêneros que não o choro, como o samba, a marchinha, o
frevo e músicas estrangeiras inclusive; d) o trabalho de arquivamento, classificação e
comparação entre esta vasta coleção de manuscritos gerou, a partir do trabalho de Jacob
do Bandolim, um primeiro movimento daquilo que poderíamos classificar como uma
espécie de trabalho musicológico realizado fora do ambiente acadêmico e dentro do
próprio ambiente do choro.
13
Ainda que a segunda metade do século XX tenha presenciado a edição de diversas coleções de
partituras de choro, a precariedade e a grande quantidade de erros de boa parte destas coleções fez com
que a “rede de manuscritos” continuasse a se fazer necessária. Veja-se por exemplo a popularidade que
apostilas didáticas manuscritas, como as realizadas na Oficina de Choro da Funarte na década de 1980,
escritas pelo bandolinista Afonso Machado e o violonista Luiz Otávio Braga alcançaram, sendo
fotocopiadas por todo o país. É muito importante notar que, atualmente, de modo paralelo às fotocópias
de manuscritos, já há também coleções particulares de partituras digitalizadas (normalmente em
programas de editoração de música como o Finale) sendo trocadas por músicos de choro: uma delas,
talvez a mais famosa no Rio de Janeiro é a do bandolinista Marcilio Lopes, que reúne cerca de 500
partituras de choro e é intitulada “O Baú do Panda”.
253
Capítulo 5
Representações de O Choro na atualidade
Cumpre agora analisarmos as redes de significação do livro O Choro na
atualidade. Como sugerimos no início da tese, a obra de Gonçalves Pinto foi, a partir de
sua “redescoberta” na década de 1970 por Ary Vasconcelos, alvo de uma teia de “resignificações” por parte de músicos, jornalistas, acadêmicos e amantes do choro de
forma geral. Assim, a partir de uma questão principal – de que forma uma narrativa do
passado altera nossa concepção do presente? – procuro ao longo do capítulo entender:
1) de que forma um discurso do passado, ou melhor dizendo, uma teia polifônica de
discursos, como é o caso de O Choro, é utilizada para ao mesmo tempo historicizar e
re-significar práticas sonoras e sociais do passado na atualidade; 2) de que forma os
diversos atores sociais que se reúnem em torno do termo “choro” identificam no livro
comportamentos e práticas do passado que se mantém (ou não) na atualidade.
O cerne da questão é, portanto, a produção de discursos da atualidade sobre
um (ou vários) discurso(s) do passado. Como base metodológica para a elaboração deste
capítulo vali-me principalmente de entrevistas com músicos de choro, pesquisadores,
editores e agitadores culturais que tem ou tiveram alguma relação com a obra de
Gonçalves Pinto, sob os mais variados aspectos. Assim, o primeiro item é dedicado ao
“Retiro da Velha Guarda”, espécie de reunião semanal de músicos de choro mais
antigos (ou “da velha-guarda”, como o nome diz), alguns dos quais chegaram ainda a
ser retratados no livro “O Choro”, como Napoleão de Oliveira e Léo Vianna. O “Retiro”
durou até a década de 1970, aproximadamente, e meu principal informante sobre esta
“comunidade” de músicos foi o bandolinista Déo Rian, que, então em início de carreira,
254
freqüentou as reuniões e travou conhecimento com diversos daqueles músicos. Procuro
analisar de que forma aspectos do ambiente da “roda” ressaltados no livro se
mantiveram ou não nestes encontros entre antigos músicos até a década de 1970. O
segundo tópico do capítulo é dedicado à Revista “Roda de Choro”, publicada na década
de 1990, dentro de um movimento de “renovação” do choro que estava ligado a
diversos fatores, como o aparecimento de novos intérpretes, conjuntos, bem como
novos espaços de promoção e comercialização do choro - entre os quais pode ser
apontado o “renascimento” do antigo bairro da Lapa, no centro do Rio, com o (re-)
estabelecimento de diversas casas noturnas e um público boêmio consumidor de
gêneros considerados “de raiz”, como o samba e o choro (ver a este respeito Oliveira,
2001). A revista era editada pelo livreiro Rodrigo Ferrari e pelo designer Egeu Laus, e
continha uma seção dedicada às “Histórias do Animal”. O fito era realizar uma
brincadeira que levasse o leitor a crer que Gonçalves Pinto havia “voltado” aos tempos
atuais e “misteriosamente” recontasse na revista alguns “causos” do seu livro e também
histórias da atualidade, narradas “ao estilo” do carteiro. O terceiro tópico é dedicado ao
movimento de “redescoberta” do choro antigo (ou seja, de compositores e obras de
finais do século XIX e primeiras décadas do século XX entendidos como ligados ao
choro) por um grupo de músicos ligados a gravadora Acari. A partir de uma pesquisa
intitulada Inventário do Choro, patrocinada pela Rio Arte, os violonistas e
pesquisadores Anna Paes e Mauricio Carrilho coletaram e catalogaram um acervo de
cerca de oito mil partituras de choro deste período. Parte deste material foi gravado em
duas séries de Cds lançados pela gravadora Acari, intituladas Princípios do Choro (série
com 15 Cds que contempla os compositores nascidos até 1880) e Choro Carioca,
música do Brasil (série com 9 Cds que contempla compositores de todo o Brasil
nascidos até 1900). Uma série de cinco cadernos de partituras também foi editada,
255
baseada na coleção Princípios do Choro. Em todas estas publicações, o livro de
Gonçalves Pinto funciona não apenas como base para o restabelecimento de biografias
de compositores mas como, fundamentalmente, “memória oficial” do choro. Neste
tópico realizei entrevistas com músicos ligados à gravadora, procurando entender de que
forma a leitura do livro por parte de cada um deles modificou ou não seus
entendimentos e suas visões sobre o choro, tanto no que concerne a aspectos de
interpretação musical como de concepções e idéias sobre esta(s) música(s). O quarto
tópico é dedicado a mais recente “re-significação” do livro O Choro: uma obra de
literatura infantil (acompanhada por um Cd) intitulada “Pedro e o choro”. De autoria de
Simone Cit, com direção musical de Roberto Gnattali, o livro é uma espécie de paródia
do clássico de Sergei Prokofiev “Pedro e o Lobo”, onde a figura do lobo é substituída
pelo “Animal”, ninguém menos do que o carteiro Gonçalves Pinto. Também aqui me
vali de entrevistas com os autores do livro para entender de que forma nosso objeto de
pesquisa foi “reconfigurado” para servir como base para um livro infantil. Finalmente,
no último tópico apresento uma entrevista com uma neta de Alexandre Gonçalves Pinto,
que pude conhecer em circunstâncias que serão explicadas posteriormente.
Antes de entrarmos nestes tópicos, cabe-me agora fazer uma reflexão sobre
meu próprio papel como pesquisador e, ao mesmo tempo, intérprete e músico de choro
ligado, por diferentes maneiras, a vários destes atores sociais citados no parágrafo
anterior. Esta posição, se por um lado facilitou muito o trabalho de entrevistas (pela
proximidade que eu tinha com muitos dos entrevistados), por outro lado levanta a
questão do distanciamento e de uma um tanto problemática “imparcialidade” esperada
tradicionalmente de uma pesquisa científica. Tal reflexão está ligada, de maneira mais
ampla, à crise de representação da autoridade etnográfica que colocou em xeque as
premissas da antropologia clássica, tal como apontado por Clifford (1998:17-59). Para
256
este autor, tal crise seria resultado direto do processo de desintegração e redistribuição
do poder colonial nas décadas posteriores a 1950, das repercussões das teorias culturais
radicais dos anos 60 e 70, e da percepção, cada vez mais acentuada nas últimas décadas
do século XX, de que o Ocidente não poderia mais se apresentar como “o único
provedor de conhecimento antropológico sobre o outro”, tornando-se necessário,
portanto, “imaginar um mundo de etnografia generalizada”. (id: 18-19). Em outras
palavras, se os padrões de etnografia da antropologia clássica (que Clifford situa entre o
período que vai de 1900 a 1960) eram calcados na relação entre a figura do antropólogo
versus os nativos – em um ambiente marcado por um universo de mundos culturais
descontínuos, calcado em antinomias como “metrópole-colônia”, “rural-urbano”,
“aldeia tribal-centro urbano” –, nas sociedades modernas, altamente segmentadas e
complexas, estes padrões se diluem na figura de uma multiplicidade de mediadores:
Com a expansão da comunicação e da influência intercultural, as pessoas
interpretam os outros, e a si mesmas, numa desnorteante diversidade de idiomas
(...). Este mundo ambíguo, multivocal, torna cada vez mais difícil conceber a
diversidade humana como culturas independentes, delimitadas e inscritas. (id: 19)
Ora, esta multiplicação de mediadores contribui de forma decisiva para
“desestabilizar a dicotomia entre categorias nativas e do analista, entre visões emic e
etic” (Travassos, 2006), o que acaba por criar o mundo de “etnografia generalizada”
citado por Clifford. Assim, as perspectivas de mediação e análise não mais se limitam à
figura clássica do pesquisador acadêmico (antropólogo, etnomusicólogo, etc.); ao
contrário, soma-se a esta figura uma cadeia de mediadores formada pelos mais diversos
atores sociais, que buscam, continuamente, “traduzir valores e idéias de um grupo social
em enunciados inteligíveis para membros de outro grupo” (id.).
Aplicada ao presente trabalho, esta reflexão nos ajuda a situar nossas próprias
expectativas em relação ao significado de uma tese acadêmica. Ao longo do processo de
257
feitura deste capítulo, como já dito, entrevistei atores sociais variados – músicos de
choro, livreiros, designers, jornalistas, professores universitários e amantes do choro de
forma geral – e cada um deles me passou a sua “visão” sobre meu objeto de estudos.
Nem sempre estas visões estavam de acordo com a minha própria concepção sobre o
livro; por outro lado, muitas vezes as entrevistas me fizeram ter novos ângulos de visão
sobre o livro, assim como, tenho certeza, minhas próprias idéias sobre a obra de
Gonçalves Pinto também mudaram, de alguma forma, a visão dos próprios
entrevistados. Ao transcrever as entrevistas percebi que boa parte dos meus
interlocutores também estava interessada nos objetivos e nos resultados que eu já tinha
obtido em minhas pesquisas sobre O Choro: assim, em algumas delas eu acabei também
sendo entrevistado. Desta forma, tenho total consciência de que meu próprio trabalho,
longe de se constituir como algo “definitivo” sobre meu objeto de estudos, é mais um
elo nesta cadeia de mediadores. Dentro desta perspectiva, minhas atividades como
instrumentista e músico de choro – em outras palavras, como alguém “de dentro” deste
meio – me conferem peculiaridades que, a meu ver, não invalidam minha capacidade de
observação crítica. Estudos historicamente recentes da etnomusicologia (ver por ex.
Barz e Cooley, 1996), influenciados sem dúvida pela crise da autoridade etnográfica
exposta anteriormente, reposicionam o papel do insider:
Longe, porém de julgar tal fato [a posição do insider] um empecilho, a
etnomusicologia contemporânea tem reconhecido que os diferentes modos de
interferência do observador de um processo cultural, do teoricamente mais
“neutro” ao mais “intervencionista”, diferenciam-se tão somente pela intensidade,
mas exigem o mesmo nível de autocrítica por parte do pesquisador, de modo a não
incidir em interpretações subjetivas epistemologicamente irrelevantes (Araújo,
2003).
Feita esta reflexão, passo a explicar um pouco da metodologia utilizada neste
capítulo. Dividi minhas entrevistas em três frentes de trabalho: na primeira procurei
258
entrevistar músicos de choro mais antigos: procurava, entre outras coisas, saber se eles
teriam tido contato com membros do grupo descrito por Alexandre Gonçalves Pinto e
poderiam prestar mais informações sobre o próprio carteiro. A segunda frente buscava
localizar possíveis descendentes do carteiro: obviamente tinha todo o interesse em saber
se seria possível levantar mais dados biográficos sobre meu personagem. E finalmente,
na terceira frente busquei entrevistar atores sociais da atualidade que tivessem sido
influenciados pela leitura do livro, e, mais ainda, que tivessem atuado de alguma forma
como catalisadores de “re-significações” da narrativa.
5.1)
Remanescentes da geração do “Animal”: o Retiro da Velha Guarda
Como dito acima, um dos meus primeiros objetivos ao realizar minhas
entrevistas era o de tentar encontrar músicos que de alguma forma tivessem tido
contato, se não com o próprio, pelo menos com membros do grupo descrito por
Gonçalves Pinto. Como vimos no primeiro capítulo, houve, a partir da década de 1920,
vários acontecimentos sociais que acarretaram mudanças significativas no meio dos
antigos chorões descritos por Gonçalves Pinto. Conforme Tinhorão (1998a), o advento
do rádio e a consolidação da indústria do disco terminaram por deixar obsoletas as
festas animadas por músicos de choro, mote principal do livro do carteiro. Da mesma
forma, a profissionalização dos instrumentistas, o contato com outros tipos de influência
musical, tal como a dos jazz-bands, foxs-trotes, etc., teria, no dizer de Tinhorão,
determinado a percepção de que o “tempo” dos chorões descritos por Pinto já era
“passado”.
Vimos ao longo do capítulo três que esta questão não era tão simples como
quer nos fazer parecer Tinhorão: o próprio Gonçalves Pinto saudava os instrumentistas
259
de choro que se profissionalizavam nas rádios e estabelecia um elo de ligação entre eles
e os instrumentistas do passado. Ao falar sobre a polca, como vimos, ele chega a fazer
uma comparação entre diversos nomes da “velha-guarda” – Callado, Viriato, Bilhar,
Quincas Laranjeiras – e da época em que escrevia – Pixinguinha, Benedito Lacerda,
Nelson Alves – para reforçar esta linha de continuidade entre o “passado” e o “presente”
do choro. Entretanto, é inegável que, para boa parte daquela comunidade descrita no
livro, as condições do “choro” se modificaram: as festas, que antes eram exigiam a
presença de músicos, ainda que diletantes, passaram em grande parte a ser animadas ao
som dos discos e rádios; as práticas sociais e musicais em torno dos termos “polca” e
“modinha” passaram a ser cada vez menos populares, em detrimento de novos “gêneros
musicais” como o samba, por exemplo. É certo, entretanto, que pelo menos uma parte
do universo descrito pelo “Animal” continuou existindo em reuniões destes antigos
músicos, ainda que certamente mais escassas, até a década de 1960, pelo menos. Tais
reuniões foram muito pouco documentadas até o presente momento, e parte do meu
desafio ao procurar entender os possíveis desdobramentos do livro O Choro na segunda
metade do século XX era o de tentar dimensioná-las.
Boa parte das dificuldades decorria do fato de que as memórias destas reuniões
dos poucos remanescentes do grupo descrito por Gonçalves Pinto eram (e continuam
sendo) parcialmente subterrâneas. Entre os poucos documentos que as confirmam estão
os escritos de Jota Efegê das décadas de 1960 e 1970: um exemplo é a sua descrição das
rodas de choro na casa de Napoleão de Oliveira, violonista e compositor, membro
(como vimos) do rancho Ameno Resedá e chorão descrito por Gonçalves Pinto em seu
livro. Estas rodas teriam perdurado até a década de 1970, quando da morte de Napoleão,
já na casa dos noventa anos (em 1973, mais especificamente). Em uma crônica datada
de 1976, intitulada “O animado choro terminava com a gostosa sopa do Napoleão”, Jota
260
Efegê nos dá um vívido retrato do que eram estes encontros. O mote da crônica é saudar
a criação, por Mozart de Araújo e “um grupo de gente moça” de um Clube do Choro:
para o articulista, tal clube seria uma comprovação de que
As excentricidades que vêm aparecendo e tentando ser cadastradas como inovações
da música popular, pouco a pouco, por falta de conteúdo, estão desaparecendo. E o
gostoso choro, o simplório chorinho fazendo uma música intuitiva, executada por
instrumentistas versáteis, está voltando com plena aceitação e entusiasmo dos que o
ouvem (Efegê, 1976: 231).
Dentro deste ambiente de “volta” do choro, quando os “próprios jornais”
davam “apoio aos novos conjuntos” que surgiam ligados ao gênero, o articulista
ressaltava a importância da retomada da memória de encontros de “chorões da velha
guarda” que haviam perdurado até “bem pouco tempo”. Entre eles estava a
“animadíssima” reunião mensal (sempre no último domingo de cada mês) promovida
por Napoleão de Oliveira em sua casa, no bairro do Irajá. Participavam da reunião, no
dizer de Jota Efegê, músicos como Léo Vianna, irmão de Pixinguinha, ao violão;
Luperce Miranda, ao bandolim, sempre acompanhado pelos filhos, bons violonistas;
Bereta e Neca na flauta; Juvenal e Nascimento no clarinete; Nico e Paes Leme nos
violões; e, mais jovem do grupo, Deo Rian no bandolim. Eventualmente, apareciam
ainda Pixinguinha, Donga e Jacob do Bandolim.
Do grupo de instrumentistas citados, os mais velhos, aparentemente, eram o
próprio Napoleão e o violonista Léo Vianna, ambos citados no livro do Animal. Os
demais músicos, segundo Efegê, estavam na casa dos quarenta anos (com exceção de
Deo Rian, mais novo). O fato de ser o mais velho não impedia Napoleão de “comandar”
a roda, mostrando “o mesmo entusiasmo de boêmio e carnavalesco fundador do
‘Ameno Resedá’”. Curiosamente, apesar da boemia do anfitrião, “não era permitido o
consumo de bebidas alcoólicas: bebia-se apenas refrigerante”: ao final da noite, era
servida “uma gostosa sopa preparada por Isabel, mulher de Napoleão”.
261
Naturalmente, o curto artigo de Jota Efegê não nos permite saber com mais
detalhes aspectos que seriam de grande importância no âmbito deste trabalho e que nos
permitiriam fazer possíveis comparações com os ambientes das rodas descritas por
Gonçalves Pinto: dados como o tipo de repertório tocado por estes músicos, a existência
ou não de álbuns de partituras nas rodas, a relação entre os músicos, o grau de destreza
dos executantes etc., não aparecem de forma clara ao longo do artigo.
Entretanto, consegui “reconstituir” parte deste ambiente através do depoimento
do bandolinista Déo Rian, hoje na casa dos sessenta anos. Nascido em 1944 em
Jacarepaguá, Déo iniciou-se na música ainda criança, tocando cavaquinho:
Eu nasci e sempre morei em Jacarepaguá. Lá em Jacarepaguá tinha muito isso,
qualquer festinha tinha aquela reunião de músicos. Meu pai gostava de cantar,
gostava de tocar pandeiro, e tinha um amigo que se chamava Oscar, que tocava
violino. Foi até ele quem afinou meu cavaquinho em afinação de bandolim. Mas ele
tocava violino de choro mesmo. Eu comecei tocando cavaquinho ré-sol-si-ré, foi ele
quem afinou pra mim em afinação de bandolim (Déo Rian, entrevista realizada
em 15 de outubro de 2009).
Entretanto, só a partir dos quinze anos Deo começaria a se aprimorar no
instrumento, tendo aulas com o músico Moacir Arouca:
Seu Moacir Arouca era da velha guarda, tocava clarinete pra caramba, foi quem me
ensinou a tocar bandolim, sem tocar bandolim. Ele era tenente do exército, músico.
Tocava pra caramba, lia “de cara”, solfejava, tudo... Chorão de primeiríssima
qualidade. Tocava na gafieira do Méier (idem).
O fato de Déo identificar Moacir como “pertencente à velha-guarda” não
significava apenas que este músico já tinha certa idade (“ele já tinha 60 e poucos anos
nesta época”, diz Déo no decorrer da entrevista), mas principalmente que ele pertencia a
um círculo de músicos que se autodenominavam “velha-guarda” e que freqüentavam
reuniões como as de Napoleão de Oliveira e as do “Retiro da Velha Guarda”, como
veremos a seguir. As lições com Moacir Arouca se baseavam em um método de
bandolim francês:
262
Eu ia de bicicleta pra casa dele na Taquara. Ele me dava aula no porão, ele estudava
ali. Ele ficava com uma varinha, pegava o método Cristóphal — é um método francês,
traduzido pro português, eram dois volumes. Eu só estudei o primeiro, [quando]
comecei a estudar o segundo ele ficou doente e faleceu. Ele [Moacir] botava o método
e dizia: “faz isso aqui”. Aí eu fazia a lição, não estava boa, ele dizia “não, esta lição
não está boa não, faz novamente, vai fazendo isso aí” Aí ele saía. E eu ficava fazendo.
Se eu errava uma nota, mesmo de longe ele gritava, “não, a nota não é essa aí não”
(idem).
Aos poucos, com a melhora no aprendizado técnico, Déo começa a assimilar um
“repertório de choros”, repertório que “seu Moacir” tinha todo manuscrito em cadernos:
Ele tinha tudo em cadernos, aqueles cadernos horizontais, tinha tudo ali. Tanto é que
eu tive um caderno dele, não sei pra quem eu emprestei, era um caderno com vários
choros dele. Eu emprestei pra alguém, não me devolveram e perdi. Ele tinha vários
choros bons (idem).
Com o progresso no bandolim, Déo começa a freqüentar diversas rodas de choro
em Jacarepaguá e nos subúrbios do Rio de Janeiro: entre estas rodas estavam duas que
eram formadas, no dizer do próprio Déo, por “gente da velha guarda”. A primeira era
conhecida como o “Retiro da Velha Guarda”:
Este Retiro da Velha Guarda, aí muito mais tarde, eu tinha lá para os meus 14 ou 15
anos, foi um senhor chamado Amorim que me levou pra lá — ele era um seresteiro,
foi até ele quem levou o Jacob pra morar lá em Jacarepaguá. O seu Amorim era um
detetive aposentado. Ele tocava um pouquinho de violão, gostava de cantar... Ele
conhecia a turma toda da Velha Guarda. Eu conheci o seu Amorim em uma roda de
choro em Jacarepaguá, que ele freqüentava aquelas rodas, junto com os chorões de
lá, e coisa tal. Aí eu o conheci e ele gostou muito de mim, ficou meu amigo demais,
e aí me levava pra todos os lugares. Um dia ele chegou pra mim e disse: “Garoto,
vou te levar lá no retiro da Velha Guarda” (idem).
O que era, afinal, o “Retiro da Velha Guarda”? É o próprio Déo quem responde:
O Retiro era uma reunião da turma da Velha Guarda. Era uma reunião aos domingos,
na parte da tarde. Era na casa do senhor João Dormund, um funcionário da casa da
Moeda, um cara fabuloso, espetacular. Ele tocava violão, pouco. Ele quase não
tocava na verdade. Mas adorava aquela música. Tinha um jantar, seu João fazia
um jantar, fazia uma macarronada, um negócio qualquer... Ia até mais ou
menos umas nove ou dez horas da noite e começava por volta de uma ou duas
da tarde (idem).
263
Sobre João Dormund, além do fato de ter sido funcionário da Casa da Moeda,
tocar pouco ou “quase nada” e ter falecido “lá por 1966, 1967”, Déo não pode precisar
mais dados. Em sua casa, entretanto, se reunia semanalmente um grupo de músicos, e
esta reunião era denominada pelos próprios como o “Retiro da Velha Guarda”. Antes de
se reunirem na casa de João Dormund, o “Retiro” já existia, como explica Déo, na casa
de um outro violonista chamado Alcebíades Vieira Nunes. Com sua morte “a reunião
passou a ser na casa de João Dormund, sendo que eu não cheguei a freqüentar a casa do
Alcebíades”, esclarece Déo. Entre os músicos que freqüentavam o “Retiro”, o
bandolinista relaciona:
Léo, irmão de Pixinguinha; Napoleão de Oliveira, que foi um dos fundadores do
Ameno Resedá; o Honório Cavaquinho, primo do Pixinguinha e fundador daquele
Grupo Honório — todos estes já tinham oitenta e cacetada. Eles chegaram a
conhecer Mário Álvares, Albertino Pimentel, Anacleto de Medeiros. Tinha ainda o
Manuel Pedro do Nascimento, que tocava clarinete; o Ary de Sá, no cavaquinho;
Neca na flauta; Cincinato no bandolim. O Nelson da velha guarda ia lá com o filho
Chia, que tocava violão de 7 cordas (idem).
O que caracterizava as rodas do “Retiro da Velha Guarda”? Pelo depoimento
de Déo Rian, alguns aspectos podem ser ressaltados, além do próprio fato de que boa
parte de seus membros já beiravam setenta ou oitenta anos. Um deles diz respeito ao
repertório tocado, que era formado quase que exclusivamente por compositores também
identificados como sendo “da velha guarda”, ou seja, os compositores que formavam
uma espécie de cânone do choro – cânone “construído” durante décadas pelas práticas
musicais das rodas e pelos discursos que as acompanhavam, como é o caso do livro “O
Choro” – entre os quais podem-se citar Anacleto de Medeiros, Callado, Chiquinha
Gonzaga,
Ernesto
Nazareth,
Mário
Cavaquinho,
entre
outros.
Alguns
dos
instrumentistas do “Retiro” haviam conhecido parte destes nomes, e, durante a roda,
contavam histórias sobre eles. O já citado Napoleão de Oliveira, por exemplo, então
com quase noventa anos tinha, segundo depoimento de Déo “sido amigo do Nazareth,
264
conheceu Mário Cavaquinho, contava várias histórias do Mário”. Assim, não há dúvida
que um dos fatores que ligavam aqueles músicos era o conhecimento de um repertório
específico; era este um aspecto fundamental que determinava a aceitação de um novo
membro no grupo, e que aparece exemplificado na forma como o próprio Déo relata ter
sido seu primeiro contato com o “Retiro”:
Eu comecei a freqüentar o Retiro do João em 1962 mais ou menos. Quando eu
cheguei lá, a turma lá, aquela velharia, o Léo me perguntou: “aí garoto, você toca
bandolim há quanto tempo?” E eu: “não, estou estudando, toco um chorinho ou
outro, coisa e tal.” O Léo: “você está estudando com quem?”. Nessa época eu não
conhecia o Jacob ainda não, conhecia só de nome é claro. Eu disse “Estudo com seu
Moacir Arouca”. Quando eu disse isso o Léo virou pro pessoal e disse, “olhai
pessoal, aluno do Arouca!” Aí eles perguntaram o que é que eu ia tocar. Aí eu
mandei um choro do Antonio Maria Passos, eles aí ficaram malucos! Nem me
lembro mais desse choro, mas ele ficaram malucos. Porque o seu Moacir me passava
essas músicas, essas músicas velhas que ele tocava (idem).
Percebem-se no depoimento dois fatores decisivos para a aceitação do então
jovem bandolinista no grupo: o primeiro era o fato do mesmo ser aluno de um
instrumentista também identificado como “da velha guarda”, o que fez com que Léo
Vianna se virasse para os membros do grupo, chamando atenção para o fato de que o
novo elemento “era aluno do Arouca”. E o segundo, decisivo, foi o fato de Déo ter
tocado “um choro do Antonio Maria Passos”. Antonio Maria Passos era flautista, tendo
pertencido a banda do Corpo de Bombeiros sob a regência de Anacleto de Medeiros,
além de ter feito parte do “Conjunto Chiquinha Gonzaga” e do grupo “Passos no Choro,
que realizou diversas gravações para a Casa Edison na década de 1910. Em outras
palavras, um autêntico “membro da velha-guarda”, o que fez com que os músicos do
Retiro “ficassem malucos” com aquele jovem bandolinista. A partir daí, Déo passou a
integrar o time de músicos que freqüentava o “Retiro” e se tornou mesmo amigo pessoal
de vários daqueles instrumentistas mais antigos: “O Léo, irmão do Pixinguinha, ficou
265
muito meu amigo, ele ia lá em casa me buscar [para as reuniões do Retiro]”, diz Déo em
meio ao depoimento.
Um segundo fator que identificava os músicos do Retiro com o universo
descrito pelo Animal diz respeito à forte ligação que eles mantinham com os acervos
manuscritos de partituras, principalmente os solistas da “roda”:
Na roda do Retiro da Velha Guarda a maioria dos solistas tocava lendo. Os
acompanhadores não, era muito raro alguém ler. Solistas eram o Manuel [Pedro do
Nascimento, clarinetista], o Arlindo [Nascimento, bandolinista e filho de Manuel],
o Cincinato [bandolinista] e eu, que estava começando. Eu novo tocando música
antiga, eles adoravam! O Manuel, por exemplo, tocava tremendo, naquela época
ele devia estar com uns setenta e tal, quase oitenta anos. Então ele tocava
tremendo, já estava tremendo o lábio. Mas lia pra caramba. Só tocava lendo.
Botava o caderno na frente e sai de perto, os violões que se virem... (idem).
Os cadernos de Manuel Pedro do Nascimento estão hoje integrados ao acervo
Jacob do Bandolim, como vimos no quarto capítulo. Da mesma forma que Manuel
Pedro, o próprio João Dormund, em cuja casa se davam as reuniões do “Retiro”, tinha,
apesar de “tocar muito pouco”, conforme o depoimento de Déo, um grande número de
cadernos manuscritos, alguns escritos por ele mesmo e outros “herdados” de chorões
mais antigos. Pelo depoimento de Déo, percebe-se que havia uma contínua troca destes
cadernos manuscritos entre os solistas: tal como algumas descrições do livro do Animal,
eram comuns as rodas onde os solistas tocavam lendo e também as cópias de partituras
entre os músicos. Alguns destes cadernos foram preservados em acervos particulares; o
próprio Déo afirma ter “herdado” alguns dos cadernos de seu mestre Moacir Arouca;
vimos no capítulo anterior que vários dos cadernos de solistas do Retiro foram
incorporados posteriormente ao acervo Jacob do Bandolim, como é o caso dos cadernos
do clarinetista Manuel Pedro do Nascimento e de seu filho Arlindo Nascimento.
266
Finalmente, há outro fator que estabelece uma forte ligação entre a narrativa
do Animal e as rodas do Retiro da Velha Guarda, e que fica patente neste trecho do
depoimento de Déo Rian:
Tinha uma coisa curiosa nas rodas do “Retiro”. Sempre que eu ‘mandava’ um
choro mais moderno, do Jacob, do Altamiro ou de outro compositor, eles sempre
acompanhavam como se fosse polca. Podia ser o choro mais “sambado” que
tivesse, o ‘Bole-bole’, por exemplo, o acompanhamento era sempre de polca. Eu
até cheguei a comentar isso com o Jacob, lembro que ele disse: ‘quando eles te
acompanharem assim, você não liga não, é o jeito dos velhos acompanharem’
(idem).
“O jeito dos velhos acompanharem” era, portanto, baseado nas figuras rítmicas
da polca. Vimos, no capítulo três, como figuras rítmicas típicas do samba do Estácio
foram incorporadas ao universo do choro a partir da década de 1930, em um processo
que envolveu músicos de choro ligados às rádios e ao disco que acompanhavam artistas
de samba de forma geral. A partir desta década este novo padrão rítmico – que poderia
ser caracterizado como “choro-sambado” – seria utilizado em boa parte dos choros
compostos na segunda metade do século XX e é freqüente nas gravações de autores e
intérpretes como Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Luiz Americano, entre outros. Ora,
como frisado anteriormente, este é sem dúvida uma espécie de turning point do choro:
ainda que fosse possível identificar padrões de acompanhamento ligados a outros
gêneros tais como schottisch, valsa e quadrilha – sendo que esta última estaria fadada ao
desaparecimento na segunda metade do século XX –, era a polca (com suas variantes,
como demonstra o discurso de Gonçalves Pinto no capítulo dois) o principal veículo de
expressão dos chorões “da velha guarda”. “Naquela época tudo era polca”, nos diz
Pixinguinha em seu depoimento ao Museu da Imagem e do Som na década de 1970. Era
“o jeito dos velhos acompanharem”, nos diz Jacob através do depoimento de Déo.
O que é importante frisar, portanto, é a permanência de um grupo de
instrumentistas mais antigos que até a década de 1970 permaneceu infenso aos novos
267
padrões do “choro-sambado” e manteve viva a polca como sua principal forma de
expressão musical. Poderíamos dizer que estes músicos eram, de certa forma,
representantes da memória que Gonçalves Pinto defendia tão tenazmente ao enfatizar a
importância da polca. A partir do surgimento do novo padrão “sambado”, cujo pioneiro
seria (de acordo com o depoimento de vários músicos, inclusive o de Déo Rian) o
flautista Benedito Lacerda e seu conjunto, o padrão de acompanhamento básico da
polca (com suas variantes) passaria a ser associado a uma “levada antiga”: a “forma dos
velhos acompanharem”. Ressalte-se que este padrão não deixará de existir no choro da
segunda metade do século XX, mas será sempre associado a uma forma antiga de se
tocar: por outro lado, os instrumentistas mais velhos passam a se identificar como
“velha-guarda” pelo fato de não adotarem o novo padrão de “choro-sambado” surgido a
partir da década de 1930 e continuarem a fazer da polca seu principal veículo de
expressão. Para eles, assim como para nosso velho carteiro, a polca continuava sendo a
principal “tradição brasileira”.
5.2)
A Revista “Roda de Choro” e a coluna “Histórias do Animal”
Passaremos agora a analisar uma das mais importantes “releituras” do livro “O
Choro” na década de 1990: a revista “Roda de Choro”, surgida em 1995 por iniciativa
do livreiro Rodrigo Ferrari e do designer Egeu Laus. A revista teve cinco números,
editados entre os anos de 1995 e 1998, e recebeu o apoio da Fundação RioArte, órgão
ligado à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Sua finalidade era apresentar artigos,
resenhas de lançamentos de CDs, colunas sobre a história dos instrumentos típicos do
choro, cartas dos leitores, partituras, etc. Em seu primeiro número, datado de novembro
268
de 1995, um editorial, assinado pelo designer e amante do choro Egeu Laus, explica os
propósitos da revista:
Revista, boletim, informativo, folheto, fanzine. Não sabemos bem como chamar
esta publicação. Sabemos, sim, dos horizontes da nossa viagem: música, hoje.
Tradição e modernidade. (...) De todos os cantos e de todas as épocas, do oficleide
ao sintetizador, da pena de ganso ao Macintosh, perpassando todos os gêneros, sem
atravessar o ritmo, sincretizando Europa e África, juntando pretos, brancos e
bugres: é o brasileiro e centenário som do choro. É nele e com ele que resolvemos
falar. Não um lamento saudosista mas uma roda viva de choro, no tempo e no tom
de 1995, juntando arranjadores, instrumentistas, cantores, pesquisadores, músicos e
poetas, colecionadores, estudantes, produtores, e principalmente você, tarado por
choro mas isolado na sua aldeia (Laus, Egeu, In: Revista Roda de Choro, n. 0,
1998)
Mais uma vez se percebe o quanto a noção de “gênero musical” é indissociável
de outros significados e discursos “não-musicais”: no pequeno trecho acima o termo
“choro” é associado a conceitos como “sincretismo”, “raça” (“pretos, brancos e
bugres”), “nacionalismo”, “tradição” (“oficleide” e “pena de ganso”) e “modernidade”
(“sintetizador e Macintosh”). Assim, se por um lado a revista tinha por um lado a
preocupação de mostrar a “modernidade” do choro – em diversas colunas de articulistas
que falavam sobre a atualidade do gênero, o aparecimento de novos conjuntos,
divulgação de partituras de compositores da atualidade, etc. – havia a preocupação de se
mostrar também o lado “histórico” do choro. Não por acaso faziam parte do corpo
editorial da revista pesquisadores como Ary Vasconcelos, bem como professores
universitários como Luiz Antonio Simas. E, representando ainda melhor a
“antiguidade” do choro, surgiu a idéia da coluna “Histórias do Animal”:
A idéia era transformar o Animal em um personagem que está “pairando” a roda.
Pegar o Animal e fazer dele uma espécie de colunista social da revista, recontando
os “causos” do livro, mas também fazendo crônicas das rodas atuais imitando de
alguma forma a sua maneira de contar histórias (entrevista com o livreiro Rodrigo
Ferrari realizada em 5 de janeiro de 2011).
269
Desta forma, já no “número zero” da revista aparece a primeira coluna, que é
dedicada a traçar uma breve biografia de Alexandre Gonçalves Pinto para o grande
público. Assinada pelo editor Rodrigo Ferrari, ela procura ressaltar a importância do
carteiro para a história do choro:
Através do Animal é que podemos conhecer um pouco mais dos músicos cariocas
da virada do século, tanto os que depois fariam sucesso quanto os que cairiam no
esquecimento. Ele cita, por exemplo, Alfredo Vianna, melodioso flauta que viria a
ser nada menos que pai de Pixinguinha. Nessa época o Pixinga já havia se exibido
até na Europa com os Oito Batutas, então Alexandre priva-se de fazer muitos
comentários sobre ele, já que todo mundo sabia de quem se tratava. Percebe-se
assim que a preocupação do cronista era mesmo falar dos chorões anônimos,
aqueles que fora das rodas não eram ninguém. Óbvio que ele cita vários
medalhões, como o próprio Catulo, Anacleto de Medeiros, etc, mas o mais
sensacional do livro são as páginas que falam dos desconhecidos amigos do
Animal: figuras fantásticas como Honório do Thesouro, Pedro Sachristão, Luiz
Gonzaga da Hora, João da Harmônica, enfim, chorões sem currículo – na sua
maioria funcionários públicos – que ele reverencia maravilhosamente, traçando
seus perfis musicais, desvendando seus hábitos e manias (Ferrari, Rodrigo In:
Revista Roda de Choro, no. 0, 1995)
270
Figura 5: “Histórias do Animal” na Revista Roda de Choro
Feita a apresentação do “Animal” o articulista avisa:
A partir do próximo número, vocês ficarão em companhia do Animal. Ele vai contar
histórias do arco da velha apresentando um retrato fiel do Rio de Janeiro do seu
tempo, com seus personagens e a sua música. Nossa equipe de reportagem promete
continuar batalhando, buscando informações e fatos novos sobre nosso ilustre
colaborador. Aqueles que souberem algo a respeito podem contribuir conosco,
enviando carta ou fax para a Coluna do Animal (id.)
A ideia, portanto, era fazer uma brincadeira onde a figura do Animal fosse
“revivida”, e ao mesmo tempo, como se vê pelo trecho acima, tentar amealhar novos
271
dados sobre o carteiro, a partir de uma possível colaboração de leitores que
eventualmente tivessem mais informações sobre dados biográficos de Gonçalves Pinto.
Desta forma, o próximo número da revista já trará a primeira coluna “escrita pelo
Animal”. Intitulada “A volta do Animal” ela começa com uma pequena explicação onde
o “carteiro” se “apresenta” aos leitores:
Orgulhosíssimo! Assim me senti quando convidado pela Revista Roda de Choro para
fazer parte dessa empreitada. Nunca fui um bamba da gramática nem pensei figurar
entre os colaboradores de qualquer periódico, mas convite tão delicado é difícil
declinar. Prometeram que meus escritos seriam sempre minuciosamente revisados,
sendo os possíveis erros responsabilidade deles, que não corrigiram os meus. Assim,
fico à vontade para contar coisas que eu vivi enquanto estava em plena atividade
entre os vivos – muitas registradas em meu livro “O Choro”, de 1936 – e também as
que presenciei aqui, lugar distante mas com boa vista (id.)
Ao final da coluna, um pequeno “box”, assinado pelos editores,
chamava
atenção dos leitores desavisados:
Recebemos em nossa redação, misteriosamente, envelopes assinados pelo chorão do
início do século Animal. Os dados sobre ele já eram obscuros, agora é que ninguém
entende mais nada. Num caso ímpar de paranormalidade parece que ele novamente
está entre nós. É nosso dever, então, abrigá-lo em nossa roda. (id.)
Sempre escrita pelo editor Rodrigo Ferrari, a coluna passará então a recontar
alguns casos do livro e também histórias da atualidade como se o “Animal” tivesse
“voltado”. Tal como no livro original, a ideia era satirizar também alguns “casos”
relacionados com músicos atuais, sempre tentando reproduzir o estilo de Gonçalves
Pinto. Segundo Ferrari, uma das questões que surgiram quando se concebeu a idéia da
coluna dizia respeito à linguagem do livro original: os “causos” do livro a serem
reproduzidos na coluna deveriam ser reproduções literais ou a linguagem deveria ser
adaptada? Optou-se pela modernização:
272
Me dei a licença de reescrever um pouco a gramática e o português, porque se não
ficaria uma coisa completamente anacrônica, mas eu tentei preservar as expressões e
o caráter geral do texto. Eu só mudei umas coisas que tinham erros que muitas vezes
nem eram do Animal, eram erros de tipografia mesmo, de composição. Porque ali
tem isso: o livro tem muito erro do Animal, muito erro que pode ser creditado a ele,
mas também tem muito erro que é da gráfica, erros de composição de tipos. Então já
na primeira coluna eu coloquei o Animal falando que a revista tinha se
comprometido a revisar os seus textos, uma brincadeira pra explicar um
pouco desta modernização da linguagem (Ferrari, entrevista realizada em 5 de
janeiro de 2011).
Assim, a primeira coluna já traz a história do “Alma de Maçon” (analisada por
nós no segundo capítulo): embora conservando algumas expressões usadas no original,
a linguagem é, como dissemos “atualizada” e com correções ortográficas e gramaticais.
Na mesma coluna, o “Animal” ainda parabeniza Ary Vasconcelos pelo seu aniversário
de setenta anos, dizendo-se “sempre agradecido” pelo fato do pesquisador ter sido
responsável por sua “redescoberta” para toda uma geração de “chorões de hoje”. Nos
quatro números que se seguem, as colunas misturam “causos” tirados do livro com
histórias da atualidade. Sobre estas, nos diz Rodrigo Ferrari:
Eu passei a prestar atenção nas histórias que aconteciam em torno do ambiente das
rodas que de certa forma remetessem ao ambiente descrito pelo Animal. Nessa
época da revista nós passamos a fazer muitas rodas, então sobravam histórias. Em
alguns casos eram histórias que eu ouvia de freqüentadores de rodas, como a
história do “molho” que aparece no número três. Em outros casos eu mesmo fui
testemunha ocular destes casos, como a história da “cítara do Avena” que aparece
no número cinco. E aí eu procurava escrever incorporando o “jeito” do Animal
(entrevista com Rodrigo Ferrari, realizada em 5 de janeiro de 2011).
Na maioria das vezes, as histórias da atualidade tinham relação direta com as
temáticas do livro de Gonçalves Pinto. No terceiro número, por exemplo, a história de
Salvador Marins, flautista que sempre que chegava a uma roda de choro ia primeiro à
cozinha do anfitrião verificar se o “gato estava dormindo no fogão” faz par com outra
história da atualidade, que segundo Ferrari lhe foi contada pelo arquiteto e amante do
273
choro José Leal. É a história de um “penetra” que aparecia rotineiramente em uma casa
de família na hora do almoço ou do jantar para filar a bóia; sendo convidado para a
mesa, fazia antes “mil encenações”, recusando o oferecimento do anfitrião, “uma vez
que não queria incomodar”, mas acabava, após muita insistência, indo sentar-se para
“regalar-se” com os pratos. Até que um dia, depois de muitos almoços e jantares
“filados”, o anfitrião perdeu a paciência e, após a primeira recusa do “penetra”, resolveu
não mais insistir, sentando-se com a família e ignorando o indesejado elemento, que
ficou na sala “ouvindo o tilintar dos copos e talheres”. Ouvindo alguém à mesa pedir
para que lhe passasse o molho, o “penetra” então grita da outra sala: “Ah! Tem molho?
Então eu quero!”.
Como se vê, são casos que relembram de certa forma as histórias do livro O
Choro; mais do que isso promoviam entre os leitores e colaboradores da Revista um
imaginário do que seria o ambiente do choro no início do século. Esta percepção é
apontada na carta de um leitor, endereçada à “Coluna do Animal” e reproduzida no
segundo número da revista. Como dissemos anteriormente, uma das finalidades da
coluna, conforme proposta dos editores presente logo no número zero, era o de tentar
amealhar mais dados biográficos sobre Gonçalves Pinto. O leitor de nome Alfredo
Marques, da cidade de Petrópolis, envia então uma carta na qual soma suas próprias
memórias às do “Animal”. A carta se inicia com a indicação do que seria, segundo o
leitor, a “enorme importância” das histórias do Animal:
Meu caríssimo Animal: como de regra, passa-se ao animal a tarefa mais penosa,
estafante, duradoura e útil. Veja o caso do bíblico jegue: prestou à humanidade
maiores e melhores serviços que todos os economistas acumulados desde José do
Egito. Coube assim a você o fardo de recriar no imaginário do respeitável público a
dignidade, ingenuidade, solidariedade, sensibilidade, e tantos outros ‘ade’, além do
humor, típicos dos viventes de seu tempo. Santo ofício, árduo, penoso, carga para
Animal mesmo (Marques, Alfredo In: Revista Roda de Choro n. 2).
274
Logo em seguida, o leitor passa a desfiar suas próprias memórias, que se
ligavam às do Animal, como se verá:
Sabe, se eu não tivesse sido um ‘pirralho’ tão cioso de seus próprios negócios, teria
hoje algumas histórias do Animal para contar a você. Quero dizer do próprio Sr.
Alexandre Gonçalves Pinto, companheiro de meu pai no antigo DCT. Meu pai (...)
em 1941 (...) resolveu falar do Animal, sempre se referindo aos excepcionais
conhecimentos de seu amigo nas rodas de choro do início do século (...). Acontece
que eu não levava os adultos muito a sério (...) meus pensamentos divagavam em
paragens absolutamente imprevisíveis como a de recuperar a hegemonia dos ares
perdida para o Valzinho em memorável batalha aérea, falha do meu cerol (...); ou
como recolher o maior número de trapos velhos para o enchimento de uma bola de
meia (...). Assim (...) perdi as histórias do Animal contadas por meu doce pai. (...)
(mas) pode estar certo de que estarei entre os seus mais assíduos e fervorosos
leitores (idem).
A carta foi publicada em trechos no segundo número da Revista, como
dissemos. Embora não revele novos dados biográficos relevantes sobre Gonçalves
Pinto, ela é altamente simbólica pelo fato de posicionar a figura do “Animal” como
responsável pelo ato de recriação de um “imaginário” no público atual daquilo que
seriam as “características principais” dos “viventes daqueles tempos”. Assim, atributos
como “sinceridade”, “ingenuidade”, “solidariedade” e “humor” são ligados, na visão do
leitor, ao universo recriado pelo Animal.
Em suma, ao “recriar” o Animal como colunista, a Revista Roda de Choro
acabou por transformá-lo em “personagem” do choro, espécie de porta-voz do passado,
referência de memória, símbolo de “antiguidade” e ao mesmo tempo, como aponta o
leitor Alfredo Marques, responsável pela criação de um imaginário coletivo de um
mundo específico: o choro antigo. Trata-se de um processo que poderia ser apontado
como uma dupla mediação: de um lado temos o livro onde Gonçalves Pinto constrói
suas memórias ligadas às práticas sonoras e sociais ligadas ao choro para os leitores da
década de 1930 e para “a posteridade”. De outro temos a coluna “Histórias do Animal”,
criada pelos editores da revista “Roda de Choro”, funcionando como uma espécie de
275
“recriação” do livro para os leitores da atualidade. Esta última mediação envolve
algumas mudanças: a linguagem do livro é em parte “modernizada” para que não
parecesse “arcaica” ao leitor atual. Além disso, incorporam-se novas histórias ao
repertório do Animal, histórias identificadas com o mundo popular-satíricocarnavalesco do carteiro e que são em parte trazidas por pessoas do ambiente do choro
(como foi o caso da história do “molho”, contada originalmente pelo arquiteto, amante
do choro e amigo pessoal de Rodrigo Ferrari, que a recontou na coluna) e em parte fruto
da observação direta do autor da coluna, que passou a “ prestar atenção nas histórias que
aconteciam no ambiente das rodas que remetessem ao universo do Animal” conforme
depoimento citado. Desta forma, o “Animal” passa a ser, graças à mediação destes
diferentes atores sociais (editores da revista, colaboradores, amantes do choro, leitores,
etc.) uma espécie de construção coletiva, personagem símbolo de uma construção de
memória específica: a memória do choro.
Não foi apenas como personagem histórico que Gonçalves Pinto foi alvo de resignificações para a atualidade. Seu livro também serviu como ponto de partida para um
movimento de redescoberta – que incluiu pesquisas em acervos antigos, restaurações e
edições de antigas partituras manuscritas do século XIX e primeiras décadas do século
XX – do repertório de compositores ligados ao choro no período descrito pelo Animal.
É este o assunto de nosso próximo tópico.
5.3)
A gravadora Acari e o resgate do “choro antigo”
Fundada no ano de 1999 pelos músicos Mauricio Carrilho e Luciana Rabello, a
Acari Records foi definida por seus criadores como “a primeira gravadora do país
276
especializada em choro”. Como dito no início deste capítulo, boa parte de seu catálogo
é voltado para o registro do repertório do choro do século XIX e inícios do século XX;
dentre as principais coleções publicadas encontra-se a série Princípios do Choro com 15
Cds focalizando a obra de compositores nascidos até 1870. Resultado de um trabalho de
pesquisa realizado pelos violonistas Mauricio Carrilho e Anna Paes, intitulado
Inventário do Choro - que reuniu cerca de oito mil partituras de choro, entre
manuscritas e editadas, dispersas por acervos da cidade do Rio de Janeiro -, as
gravações fazem parte, segundo o encarte da coleção, de um trabalho de “resgate de
material que permanecia em total obscuridade e inacessível ao público comum”. Para os
membros da gravadora, o trabalho de Gonçalves Pinto foi uma das principais
motivações e funcionou como um “guia” para todo o processo de pesquisa, conforme
texto do encarte da coleção:
Gonçalves Pinto traça o perfil de todos os chorões da velha guarda e grande parte
dos chorões de seu tempo com uma narrativa espontânea e despretensiosa. Apesar
dos erros grosseiros de sua escrita, produziu um dos mais legítimos depoimentos da
história da música popular brasileira. Por ser o Animal um músico que viveu e
testemunhou a fase da história da música do Brasil que trazemos à luz nesta coleção,
recorremos aos seus textos ao longo de todo o trabalho e eles são aqui
incansavelmente citados. A existência de vários compositores cujas partituras se
encontram nos cadernos de chorões do século XIX pôde ser confirmada a partir de
seu livro. Seus escritos foram referência e muitas vezes nortearam a pesquisa,
esclarecendo muitos aspectos desconhecidos da vida e da obra dos cinqüenta autores
aqui registrados (Encarte da Coleção Princípios do Choro – Acari/Biscoito Fino,
2002)
O texto salienta, portanto, a “legitimidade” do livro de Gonçalves Pinto e o
aponta como principal referência do processo de pesquisa que resultou na coleção.
Entretanto, uma das questões que procurei formular aos músicos membros da gravadora
e também participantes das gravações foi de que maneira eles tomaram conhecimento
do livro e qual teriam sido suas primeiras impressões de leitura. De modo geral as
277
respostas mostram um estranhamento inicial. É o caso do depoimento do bandolinista
Pedro Amorim, por exemplo, um dos músicos presentes nas gravações da coleção:
Tomei conhecimento do Animal através do nosso querido e inesquecível amigo Ari
Vasconcelos, ainda no final dos anos 70. Não sou nem nunca fui pesquisador, nunca
tive método nem organização para nadar neste mar de águas fundas e traiçoeiras. A
primeira idéia que me veio (devo confessar), de dentro de uma ignorância atroz: por
que o Ari Vasconcelos valoriza tanto este livrinho tão mal escrito? Porque eu achei
simplesmente engraçado, até gostei de ler, mas como se fosse uma piada, com
aqueles erros grosseiros e as histórias tão mal contadas. Eu teria aí meus 21, 22 anos,
que é uma idade danada de boa pra gente cometer erros e enganos. (Depoimento de
Pedro Amorim ao autor dessa tese, em 12 de dezembro de 2010)
A mesma sensação de estranhamento também teve a cavaquinhista Luciana
Rabello:
Conheci o livro do Animal através de meu irmão e jornalista Ruy Fabiano, que na
época era crítico de música aqui no Rio. Eu tinha 15/16 anos e achei a linguagem
bastante engraçada, curiosa. O que mais estranhei, num primeiro momento, foram os
muitos erros de gramática (Luciana Rabello, depoimento ao autor dessa tese em 20 de
dezembro de 2010).
O estranhamento inicial, que nos dois depoimentos citados dizem respeito
principalmente aos erros de gramática e a coesão do texto, foram superados ao longo do
tempo pelas novas perspectivas que a obra abria. Para Luciana Rabello, o fato de ter
trabalhado com o pesquisador Mozart de Araújo na catalogação de seu acervo quando
jovem ajudou a ver o livro sob um novo prisma:
Fui dimensionando a importância do livro com o tempo e na medida em que fui me
aprofundando no conhecimento dessa cultura. Na época do trabalho com Mozart
Araújo, chamou-me atenção o imenso número de compositores e músicos
relacionados no livro. Encontrar partituras de obras de diversos deles durante o
trabalho de catalogação foi mesmo emocionante. Eles ganharam vida! Cheguei a
fazer uma lista de todos os compositores dessa época que encontrei no acervo do
Mozart, numa inspiração arqueológica ou coisa parecida. Corri pro livro do
Animal, de posse dessa lista, pra reler o que havia sobre cada um daqueles
compositores. Guardo essa lista até hoje, talvez pelo impacto que isso teve pra
mim, pois despertou-me a curiosidade de conhecer uma parte da história da nossa
música e da nossa cidade mantida em total obscuridade (idem).
278
O violonista Mauricio Carrilho também relata o seu estranhamento inicial
sobre o livro e chama a atenção, em seu depoimento, para o fato de que a obra de
Gonçalves Pinto era praticamente desconhecida pelos instrumentistas de choro não só
de sua geração, mas da geração de músicos de choro da época do rádio:
Ninguém falava desse livro antes do relançamento em 1978, que eu saiba. Nunca
ouvi qualquer menção a ele por parte dos instrumentistas mais velhos. Quando esse
livro foi relançado, eu comprei na Funarte. Comprei orientado pelo Hermínio [Bello
de Carvalho, produtor cultural]. Comprei e li, mas na época eu não entendi a
dimensão que ele tinha. Foi só quando eu reli esse livro há uns quinze anos atrás,
quando eu voltei a ter acesso a este livro – porque o meu eu tinha emprestado, aí
sumiu, eu acabei comprando um outro – aí é que eu vi que era a chave para
desvendar esse buraco negro, esse elo perdido das primeiras gerações do choro. A
gente estava querendo saber quem eram as pessoas, como é que era essa música, e
esse livro mostrava todos os caminhos, todos os ambientes, todas as figuras
principais (Mauricio Carrilho, depoimento realizado em 20 de janeiro de 2010)
Carrilho chama a atenção para o fato de que havia, antes do início do trabalho
de pesquisa da gravadora, um grande desconhecimento do repertório de compositores de
choro do século XIX. Segundo seu depoimento houve uma “quebra” de continuidade de
transmissão de repertório que se deveu, em parte, ao surgimento de novos compositores
de choro atuantes no ambiente da rádio e do disco, que fez com que a maior parte do
“repertório antigo” fosse gradualmente esquecido:
Quando eu comecei a tocar em rodas de choro, ainda adolescente, na década de
1970, esses compositores mais antigos, do século XIX, como Callado, Chiquinha e
Anacleto eram tocados em rodas, mas em geral tocava-se muito pouca coisa de
cada um deles. No repertório da gente tinha alguma coisa destes autores, mas a
gente não sabia o tamanho e a dimensão deste repertório. Essas que a gente tocava,
tocava porque tinham ficado na tradição oral do choro, e foram repassadas
oralmente de geração em geração. Músicas como Flor Amorosa do Callado, Três
Estrelinhas e Implorando do Anacleto. Mas nesse processo a maior parte do
repertório desses autores se perdeu (idem).
Para Carrilho o aparecimento de novos solistas na década de 1990 que
começavam a se preocupar em fazer um trabalho de pesquisa de repertório do século
XIX e o livro de Gonçalves Pinto foram a base para um movimento de retomada de
279
compositores e obras deste período. Um desses solistas, apontado por Carrilho, é o
flautista e médico Leonardo Miranda:
Quem primeiro me chamou a atenção pra dimensão desse repertório mais antigo foi
o Leonardo Miranda. Conheci ele em rodas no final da década de 1980, início da
década de 1990. O Léo começou a tocar um monte de música do Callado, ele
começou a apresentar uma quantidade de músicas desses caras que a gente conhecia
uma ou duas, que eu fiquei impressionado. Várias do Callado, do Anacleto, tudo
coisa que eu não conhecia. Aí eu comecei a perceber que isso era uma mina de ouro,
e que estava inexplorada, estava perdida. Aí eu fiz um projeto [Inventário do Choro]
para fundação Rio Arte pra recuperar esse material; o projeto tinha como norte o
livro do Animal, pelo fato de que ele continha boa parte dos nomes que eu estava
buscando (idem).
O livro funcionou então como guia e bússola para um processo sistemático de
recuperação e gravação deste repertório. Além da coleção Princípios do Choro a
gravadora Acari lançou também, em parceria com o Banco do Brasil, uma caixa com a
íntegra das obras de Joaquim Callado encontradas em arquivos dispersos pela cidade,
como a coleção Mozart de Araújo e a Fundação Biblioteca Nacional. Apesar do caráter
de “resgate” deste repertório, Carrilho salienta o fato de que as gravações realizadas não
procuraram reproduzir um “som de época”. Segundo o violonista, procurou-se utilizar
técnicas e saberes modernos na recriação destas músicas, o que incluía tanto
procedimentos técnicos ligados a gravação em estúdio quanto procedimentos modernos
de harmonização. Um dos desafios deste processo de “recriação” dizia respeito ao fato
de que a quase totalidade das partituras de compositores do século XIX não tinha
qualquer indicação sobre o acompanhamento rítmico e harmônico que deveria ser dado
às melodias escritas, conforme se vê no depoimento abaixo:
É claro que a gente tinha um conhecimento da oralidade e também da audição de
algumas gravações antigas, assim como o de tocar essa música em rodas com
diversas gerações diferentes. Isso tudo foi fundamental pra gente conseguir
estabelecer um padrão de acompanhamento dos gêneros – ritmicamente falando – e
também embasado na história, no estilo – mas acrescentando coisas que a gente
tecnicamente podia fazer e que eles não tinham técnica pra fazer... Acho que isso
tem a ver com a harmonia também. A gente harmonizou sem quebrar a naturalidade
280
da música nem as características mais evidentes, mas acrescentamos situações
harmônicas que “lincam” as pessoas de hoje ao repertório do século XIX. O cara
consegue entender a música do século XIX porque ela fica com um acabamento de
sonoridade, de harmonização e de sincronia rítmica; e também um acabamento de
técnica ligada a sonoridade dos instrumentos atuais, às condições modernas de
gravação – todo desenvolvimento técnico e tecnológico dos últimos tempos, enfim –
a gente usou isso pra recriar essa música. Do contrário a gente cairia em uma coisa
que eu acho destestável que é a ‘folclorização’ do choro (idem)
A “folclorização do choro”, para o violonista, seria representada por tentativas
de recriação deste repertório mais antigo a partir da “procura pelas sonoridades
primitivas das primeiras gravações”, sem que se levasse em conta as inovações
harmônicas e rítmicas das gerações do choro da segunda metade do século XX. Dessa
forma, houve, no dizer de Carrilho, uma utilização consciente de procedimentos
modernos, ligados à harmonia e à concepção rítmica em uma “releitura” desse
repertório. No que se refere à concepção rítmica de acompanhamento, Carrilho salienta
o fato de que, em um número expressivo de gravações da série Princípios do Choro,
utilizou-se o “acompanhamento sambado” (para usar de suas próprias palavras) criado a
partir da geração de Benedito Lacerda:
Eu acho que a gente conseguiu entender a concepção de acompanhamento desse
pessoal da velha guarda e do pessoal da geração pós-Pixinguinha. E a gente usa
esses elementos rítmicos de acordo com a figuração da melodia ou com a intenção
que a gente tem de levar [o acompanhamento] mais para um lado ou para o outro.
Em outras palavras, o conhecimento do “pessoal da velha guarda”, representado
pelas figuras de acompanhamentos “antigos” (como a polca), seria misturado ao
conhecimento da “geração pós-Pixinguinha”, representado pela inserção de figuras
rítmicas do samba no choro para uma releitura deste repertório antigo. Esse processo
implicou também na recriação de gêneros musicais que estavam completamente
esquecidos, como a quadrilha:
Nesse processo a gente ressuscitou alguns gêneros que estavam completamente
mortos, como a quadrilha, por exemplo. Como era um gênero que não existia mais
281
na tradição oral e como a gente não tinha acesso, na época, às gravações de
quadrilha do início do século, a gente meio que reinventou a quadrilha. Nas nossas
gravações elas ficaram menos dançantes, e a gente explorou mais a beleza
melódica das quadrilhas. As melodias eram lindas e a gente fez harmonias mais
ricas, com um andamento mais lento. Tudo isso pra virar uma música pra se ouvir,
e não pra se dançar. Porque na época era uma coisa muito funcional e acho que é
justamente por isso que ela parou, por isso que as pessoas pararam de compor. E a
partir desse tratamento que a gente deu, muitas pessoas voltaram a compor
quadrilha na atualidade. Eu acho que quadrilha foi um gênero que a gente
ressuscitou. Assim como outros, como lundu, habanera. Ninguém tocava mais
essas coisas, nem os “velhos” da geração do Meira e do Canhoto (idem).
Percebe-se dessa forma que, se por um lado o livro é um dos elementos (talvez
dos mais importantes, de acordo com os depoimentos) do processo de “resgate” destes
compositores antigos, sua utilização, conforme fica claro no depoimento acima, nem
sempre era seguida no intuito de se recriar fielmente as condições de época. No caso da
quadrilha, em que pese o fato de Gonçalves Pinto realizar uma descrição bastante
detalhada da dança e do caráter alegre e coreográfico da música, tais elementos não
foram utilizados pelos músicos da gravadora: preferiu-se uma “recriação” que
privilegiou outros aspectos como a elaboração harmônica e a escolha de um andamento
mais lento1.
Um outro fator também bastante ressaltado pelos músicos durante a entrevista
foi o de que a leitura do livro de Gonçalves Pinto não funcionou apenas como estopim
para a recuperação de compositores antigos, mas também como parte do entendimento
do que seriam as “origens do choro”:
Um dos grandes legados, até mesmo emocionais, trazidos pela leitura do livro é a
maneira despojada, simplória, natural e despretensiosa com que ele descreve essas
personalidades e todo o cenário social da época. Faz-nos entrar em contato com a
verdadeira origem da cultura carioca. Transporta o leitor àquele ambiente. E talvez o
mais importante: prova que o choro nasce como uma forma de expressão coletiva,
uma música de encontro, de congraçamento. E, por acreditar ser esta sua maior
1
Para maiores informações sobre o processo de “recriação” da quadrilha por músicos da Acari Records
remeto o leitor ao meu artigo “Aspectos de mudança e continuidades no choro: o caso da quadrilha”
publicado nos anais da ANPPOM 2009.
282
riqueza, considero o livro do Animal único e importantíssimo documento histórico
(depoimento de Luciana Rabello)
Ao mesmo tempo em que o livro é reinterpretado como documento de origem,
os
discursos
dos
músicos
entrevistados
apontam
para
ligações
entre
experiências/estruturas descritas e as vivências dos próprios músicos:
Eu acho que o livro nos mostra principalmente o ambiente onde a música era
tocada e a forma como a música era feita. Aí você começa a fazer a relação com o
que você mesmo viveu, porque a gente pegou um pouco disso ainda. As rodas,
quando eu comecei a tocar, adolescente, tinham essa função ainda. Essa função
social mesmo de juntar pra tocar e beber e comer. Era uma coisa só. Então as festas
em que rolavam rodas eram festas que tinham comida dois dias seguidos. Cansou
de ter festa na minha casa que começava sábado de manhã e seguia direto até
domingo de tarde. Então era bem parecido com as situações descritas no livro
(Mauricio Carrilho, depoimento em 15 de janeiro de 2011).
Por outro lado, processos de ruptura são também identificados. Uma das
questões levantadas por mim durante o processo de entrevistas era de que forma os
músicos identificavam diferenças entre as situações musicais e sociais descritas no livro
e as da atualidade. Para a cavaquinhista Luciana Rabello fatores de descontinuidade
residem principalmente na maneira como os músicos atuais encaram essa música:
A grande diferença do choro ali descrito [no livro do Animal] e o de hoje, reside
exatamente nesse aspecto: os chorões de hoje (ao menos os da minha faixa etária)
pouco se encontram com esse despojamento e pra tocar choro unicamente por
prazer. Talvez pelo fato da nossa geração ser a primeira a ter podido se dedicar
profissionalmente exclusivamente ao choro, esses encontros deixam de ser
relacionados aos momentos de lazer. Naturalmente, há aspectos positivos e
negativos em ambas as épocas. Não fica aqui uma crítica ao momento atual.
Apenas a constatação que os estímulos são diferentes e, por consequência o
comportamento, tendo reflexos na própria linguagem musical. Hoje é comum numa
roda de choro o músico/compositor levar partituras quando pretende mostrar uma
nova composição. Esse chorão contemporâneo tem por desafio não apenas exibir
sua capacidade de acompanhar "de prima", mas mostrar melhor acabamento,
melodias e harmonizações mais ousadas e surpreendentes, em busca de novos
caminhos. É natural que o criador que teve acesso a informações de épocas
posteriores seja motivado a isso. Por termos na nossa cultura musical compositores
283
como Ernesto Nazareth, Pixinguinha e alguns outros, não sei se podemos chamar o
que descrevo acima como um processo de evolução, mas com certeza são
características de um novo tempo (Depoimento de Luciana Rabello)
Em outras palavras, a profissionalização dos músicos do choro teria sido
responsável por uma mudança de atitude em relação a esta música: ao invés de se
constituírem como “momentos de lazer”, a reunião de instrumentistas passou a ser
ligada a ideia de “trabalho”. Por outro lado, o depoimento sugere que a “sofisticação”
(muito embora a própria cavaquinhista problematize a noção de “evolução do choro”)
harmônica da atualidade teria de alguma forma modificado a dinâmica das rodas. O
chorão contemporâneo não teria apenas como premissa a habilidade de “acompanhar de
prima”, mas de apresentar “acabamentos, melodias e harmonizações mais ousadas e
surpreendentes”. Depreende-se do depoimento, o fato de que esta procura por um
“refinamento” melódico e harmônico teria, de alguma forma, afetado o “despojamento”
da roda: uma vez que os caminhos de harmonia e melodia se tornam “ousados e
surpreendentes”, a prática de acompanhamento “de prima”, ou seja, calcada apenas no
conhecimento do repertório tradicional, passa a ser inviável. Daí o fato de que
compositores e músicos passam a levar partituras para a roda.
É curioso que a utilização de partituras nas rodas de choro da atualidade seja
apontada como um fator de ruptura com o universo descrito por Gonçalves Pinto, já
que, como vimos anteriormente, o carteiro descreve vários encontros de instrumentistas
onde os solistas levavam seus cadernos manuscritos. No entanto, é preciso frisar que nas
rodas descritas pelo carteiro, assim como no Retiro da Velha Guarda, descrito no tópico
anterior, apenas os solistas liam; o acompanhamento era todo “de ouvido” e o que
qualificava um bom acompanhador era sua capacidade de não “cair” isso é, de não
cometer erros de harmonia. O depoimento de Luciana Rabello aponta para o fato de que
284
a “sofisticação” harmônica das composições atuais teria levado à necessidade de que
também os acompanhadores passassem a se utilizar de partituras, uma vez que o
acompanhamento deixava de ser o tradicional. Este é um fator, portanto, visto como
uma ruptura com o universo descrito no livro.
Finalmente, outro dado importante presente nas entrevistas por mim realizadas
com os músicos ligados a gravadora Acari aponta para a interpretação do livro não
apenas como um “discurso de origem”, uma narrativa ligada ao passado; mas pelas
modificações que sua leitura proporcionou ao “presente” do choro, e por conseqüência,
às perspectivas do futuro:
Para mim o livro do Animal não só salvou o choro do século XIX mas salvou
também o choro do século XXI. Porque ele foi a referência, a bússola pra gente
fazer vários trabalhos que resultaram em um monte de desdobramentos como é a
própria Acari e como são as diversas oficinas de choro que a gente faz no mundo
todo. A gente tinha no sangue essa música, mas não tínhamos material musical que
fechasse o circuito da relação entre a música do século XIX e a música do século
XX, e a gente só conseguiu chegar a esse material, que é essa coleção imensa de
partituras, por causa do livro do Animal. No fundo é um livro do passado que
modifica o futuro; toda a nossa forma de compor e de tocar foi alterada pelo
conhecimento dessa música do passado, proporcionada pelo livro (entrevista com
Mauricio Carrilho)
Em suma, o livro de Gonçalves Pinto é tomado não apenas como estopim para
um movimento de recuperação do repertório antigo; ele é apropriado, por um lado,
como uma narrativa mítica das origens do choro, e por outro, como projeção do futuro,
conforme se percebe por este último depoimento. Creio que caberia aqui uma reflexão
sob o modo como um discurso do passado é apropriado por um grupo específico e
transformado em diretriz para o futuro. Neste sentido, podemos retomar aqui o conceito
de Vila (1995), exposto no primeiro capítulo, para quem a constituição de gêneros
musicais passaria necessariamente pelo enfoque da narrativa. Esta seria uma forma de
construção e ordenamento do mundo em um processo que é ao mesmo tempo sincrônico
e diacrônico: através da eleição de determinadas narrativas do passado como modelos,
285
grupos constituem sua identidade do presente e projetam suas expectativas para o
futuro. Ao eleger, portanto, o livro de Gonçalves Pinto como “narrativa de origem” da
história do choro, o grupo de músicos ligados à gravadora Acari está, de certa forma,
construindo seu próprio passado e escolhendo, entre vários discursos que nos chegam
através da história, aquele que mais convém à situação do presente. Falamos em eleição
de uma narrativa mítica: cumpre salientar que não se sugere com isso que tal narrativa
seja falsa. Como demonstrou Sahlins (2008: 44-52) estruturas míticas e simbólicas estão
continuamente imbricadas na construção histórica em um processo que é essencialmente
dialético. Mais uma vez se percebe aqui uma dupla mediação: o discurso do carteiro
elege uma série de elementos que serão tomados como símbolos da identidade do choro,
o que inclui figuras que se tornarão míticas (como Callado), um repertório específico
(formado por um corpus de compositores da “velha-guarda”), situações sociais que
serão apontados como paradigmáticas (festas com comida e bebida, encontros entre os
músicos, etc.). Todos estes elementos constituirão, na escrita de Gonçalves Pinto
aspectos que configuram identidade e homogeneidade ao grupo. Por outro lado, seu
discurso é reapropriado por um grupo de músicos da atualidade, naturalmente em um
contexto histórico completamente diverso daquele em que o livro foi escrito, como uma
teia de significações que justifica e confere sentido às práticas do presente. Este
processo é mais complexo do que parece ser à primeira vista: não se trata de
simplesmente “replicar” atitudes e estruturas do livro na atualidade e sim de escolher,
dentre a diversidade de narrativas, conceitos, pensamentos, repertórios, práticas sonoras
e sociais que o compõem, aquelas que serão tomadas como pontos de partida para novas
significações do presente e projeções para o futuro. Em outras palavras, é um processo
que envolve recriação, seja de práticas musicais do passado que são reconfiguradas,
como é o caso da quadrilha (regravada com andamento mais lento e com uma
286
abordagem harmônica diferente da original), seja de situações sociais específicas que
serão vistas como paradigmáticas, ainda que não tão presentes na atualidade, como o
“despojamento” das rodas antigas, sempre ligadas a “dimensão festiva” da vida.
5.4)
“Pedro e o Choro”: o “Animal” para as crianças
Passamos agora a tratar de uma das mais recentes “recriações” da figura de
Gonçalves Pinto. O livro-Cd Pedro e o Choro de autoria de Simone Cit e direção
musical de Roberto Gnattali transforma a figura do “Animal” em um personagem de
história infantil. Lançado em 2008 com o patrocínio da Petrobras, ele se insere, segundo
as informações do próprio livro, em um projeto intitulado “Histórias da Música Popular
Brasileira para crianças”, que recebeu o prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura
em 2007. Com sua primeira tiragem sendo “quase inteiramente distribuída para
professores”, o livro tem forte apelo pedagógico, apesar de ser considerado por seus
autores mais como uma “obra literária” e não como um livro didático (Cit, 2008: 166).
Paródia do clássico “Pedro e o Lobo” de Sergei Prokofiev, o livro é uma
adaptação da história original que utiliza elementos brasileiros: todos os temas musicais
são choros, inéditos ou conhecidos, que se associam aos animais apresentados ao
decorrer da história. Os autores se utilizam em boa parte de choros que tem nomes de
bichos, como “O Voo da Mosca” de Jacob do Bandolim, “Camundongo” de Waldir
Azevedo, “Urubu Malandro”, tema popular, entre outros.
Na história, o menino Pedro vive com sua avó Helena, com quem toma aulas de
música, e alguns bichos de estimação. Ao final de cada aula Pedro ficava “folheando um
livro antigo, presente de um bom amigo de sua avó no passado”, nada menos do que o
livro O Choro de Alexandre Gonçalves Pinto:
287
O curioso escritor do livro que Pedro olhava
tinha um estranho apelido que o deixou intrigado
sem entender o sentido do codinome adotado.
Uma história musical, pelo que a avó tinha dito,
e Pedro achava esquisito que quem a tivesse escrito
fosse por todos chamado de Animal. (Cit, 2008: 28)
O menino vai então pedir explicações à avó sobre o autor e a razão do apelido, o
que faz com que a velha leia a poesia de Max-Mar que abre o livro. Assustado com a
idéia de que um “Animal” havia escrito o livro, Pedro só presta atenção ao primeiro
verso: “Alto, já bem grisalho e urucungado”; mais assustado ainda, o menino decide sair
às escondidas da avó, à cata deste “perigoso animal”, levando seus animais de
estimação. No caminho eles se encontram com outros animais que são incorporados ao
grupo; após muitas aventuras, já bem longe de casa e sem ter conseguido encontrar o
“animal” Pedro resolve escrever uma carta para a avó, se utilizando de um carteiro que
encontra pelo caminho, ninguém menos do que o próprio Alexandre Gonçalves Pinto. A
confusão é desfeita e o “carteiro-personagem” esclarece:
Acredite, pessoal, pois é a mais pura verdade. Sou chamado de Animal e, cá entre
nós amiguinhos, eu acho o apelido legal. Carteiro de profissão nas horas vagas eu
toco cavaquinho e violão. O livro que eu escrevi fala com toda a sinceridade de
gente que conheci tocando pela cidade.” (id.: 145)
O livro se encerra então com uma grande roda de choro com todos os
personagens e animais. Na pequena seção dedicada “aos professores”, ao final, os
autores chamam a atenção para as possibilidades pedagógicas da obra e para a figura
histórica de Alexandre Gonçalves Pinto, remetendo inclusive para um link na internet
onde seria possível acessar a obra, até então de difícil aquisição2.
Essa curiosa “reutilização” de Gonçalves Pinto como personagem de uma obra
voltada para o público infantil chama nossa atenção mais uma vez para os processos de
2
Após o relançamento em 1978, O Choro ficou décadas sem reedição, passando a ser um livro de difícil
acesso. Em 2010 a Funarte fez uma segunda edição do livro. O Instituto Moreira Salles publicou em seu
sítio virtual uma versão em pdf.
288
re-significação do livro na atualidade. A autora Simone Cit nos fornece mais elementos
para o entendimento deste processo:
A ideia de Pedro e o Choro surgiu da obra de Prokofiev, em uma aula para crianças.
A partir dessa primeira ideia, passei a pesquisar choros com nomes de bicho para
construir o roteiro. Daí a pensar o Animal como o Lobo da minha história foi só um
pulinho na imaginação, não sei nem precisar o momento. Quando fiz o projeto (...) o
Animal já estava na história, mas eu ainda não tinha escrito o texto. E como ele é
todo rimado, muita coisa aconteceu que eu não havia previsto. Mas a intenção
sempre foi a de que o Animal fosse uma metáfora do conhecimento chorístico. O
choro não é um gênero solitário, longe disso... É a música das rodas, dos encontros.
Ao buscar o Animal, o nosso Pedro conhece choros e chorões... (Simone Cit,
depoimento ao autor, em 22 de janeiro de 2011, grifo meu).
Gonçalves Pinto então se torna, mais do que um personagem de livro infantil,
“metáfora do conhecimento chorístico”; ao mesmo tempo sua narrativa contribui para a
construção de um imaginário do choro como uma música coletiva, “a música das rodas,
dos encontros”.
5.5)
Em busca do “Animal”
Termino o presente capítulo relatando os resultados de minhas buscas a
possíveis familiares e descendentes de Alexandre Gonçalves Pinto. É preciso esclarecer
em primeiro lugar, um pouco das circunstâncias em que estas pesquisas foram feitas. No
ano de 2004, antes, portanto, de iniciar meu doutorado, fui convidado a integrar uma
equipe que reunia as pesquisadoras Anna Paes e Nana Vaz de Castro e que tinha por
objetivo viabilizar um projeto de reedição do livro de Gonçalves Pinto, cuja edição da
Funarte já havia há muito se esgotado. A ideia era fazer uma edição crítica do livro,
acrescentando dados sobre os biografados, listas de composições, fatos históricos etc.
Para viabilizar o projeto, entretanto, era necessária a autorização de possíveis herdeiros
e um de nossos primeiros passos foi a de pensar de que forma seria possível localizálos, se é que eles efetivamente existiam. O fato de que nem o próprio Ary Vasconcelos
289
conhecia dados sobre a vida pessoal de Gonçalves Pinto, como se depreende da leitura
do prefácio da reedição de 1978 nos fez supor que a edição da FUNARTE havia sido
feita sem qualquer contato com a família.
Apesar da constatação das dificuldades, iniciamos as buscas da forma mais
prosaica possível: procurando em uma lista telefônica online pelo nome de “Alexandre
Gonçalves Pinto”. Surpreendentemente a pesquisa revelou quatro resultados, sendo que
um deles com um endereço em Botafogo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro.
Lembrando que o depoimento de Bororó a Ary Vasconcelos ligava Gonçalves Pinto a
este bairro (conforme o prefácio da reedição da FUNARTE), resolvemos iniciar nossas
buscas por aquele telefone. Desta forma localizamos uma neta do “Animal”, D. Cleuza,
então com 79 anos. Conseguimos marcar então uma entrevista com ela, que foi
realizada na casa de Marcelo Gonçalves Pinto, bisneto de Alexandre e neto de D.
Cleuza. Cumpre dizer que nosso objetivo principal durante a visita era obter autorização
para uma reedição da obra: ainda assim levamos um gravador para entrevistar D.
Cleuza. Como afirmado anteriormente, na época eu ainda não havia nem sequer
formulado meu projeto de doutorado, e meu interesse na entrevista era o de alguém que
tinha lido o livro e que naturalmente tinha interesse pelo tema, mas que ainda não
tencionava escrever especificamente sobre ele. Transcrevendo a entrevista para esta tese
lamentei o fato de não ter feito algumas perguntas específicas, que teriam sido
importantes para o trabalho; quando tornei a procurar a família, já iniciado meu
doutorado, D. Cleuza já havia falecido. Some-se a isso o fato de que, durante a
entrevista realizada em 2004, D. Cleuza, então com 79 anos, afirmava continuamente
que “estava muito esquecida”, lamentando a todo instante não poder nos dar dados
muito precisos sobre o avô. Segundo ela, Alexandre falecera quando ela ainda era
criança, e seu tempo de convivência com ele tinha sido curto, ainda que intenso. Ainda
290
assim, creio que a entrevista revela alguns novos dados sobre o carteiro, ainda que
poucos e fragmentados, pelos motivos expostos acima.
A seguir transcrevo os trechos mais significativos da entrevista:
PA – A senhora é filha de...
D. Cleuza – Sou filha de Xandico, Alexandre Gonçalves Pinto Filho, que era
filho do Alexandre Gonçalves Pinto. Meu pai, assim como meu avô, era carteiro e
também tocava cavaquinho. Na minha casa sempre teve música. Na minha casa
freqüentou Jacob do Bandolim, Pixinguinha, o César Faria. O filho dele é o Paulinho
da Viola. Frequentaram minha casa, naquela época a gente fazia cervejinha... O Jacob
tinha uma coisa, quando tocasse todo mundo calava. Se falasse alguém ele parava. Ele
vinha na minha casa.
PA – Quantos filhos seu avô teve?
D. Cleuza – Meu avô teve seis filhos. Tem um que não era da minha avó, era
de outra mulher que ele teve, o nome dele era Otávio. Da minha avó tinha: Julieta,
Sefízia (tudo nome grego), tinha meu pai, que era Alexandre também; e tinha Yolanda.
São seis, não é? O nome da minha avó era Virginia. Tinha outro que era... Antonico.
O Otávio é que era filho dele com outra mulher. Ele vivia com ela, não chegou
a casar não... Foi a paixão da vida dele aquela mulher. Depois ele casou com a minha
avó. Tanto é que ele tinha escrito aqui (aponta o braço) – naquele tempo já se usava
tatuagem – o nome dela. Ele depois quis tirar, depois de muitos anos, mas não
conseguiu. O nome dessa outra mulher parece que era Amélia. Ou Aurélia, alguma
coisa assim.
PA – A senhora sabe quando e onde seu avô nasceu?
D. Cleuza – Ah, quando eu não vou lembrar. Sei que ele se criou naquelas
bandas de São Cristóvão, Meier, por aí. Da onde é mesmo eu não me lembro. Quando
eu nasci ele morava no Engenho Novo. Porque o vovô sempre morou por lá. Não,
minto, vovô foi de Vila Isabel. Tem uma tia, esta Yolanda, namorou o Noel Rosa.
Quando eu nasci meus pais moravam em Vila Isabel também, na mesma rua que meu
avô. Os meus pais moravam em uma casa e o meu avô em outra casa, na mesma rua. E
depois viemos para Botafogo. Ele era agarrado com esta filha Julieta, que ele ajudava.
Viemos para São Clemente, Fernando de Guimarães, Arnaldo Quintella
PA – Mas a senhora chegou a morar com o seu avô?
D. Cleuza - Desde Fernando de Guimarães morávamos todos juntos. A família
se uniu pra morar junto, ele queria ter a família junto. Ele era muito agarrado com a
família. Mas o que eu posso dizer a vocês é muito pouca coisa, sabe, na época a gente
era criança, a gente não se ligava muito nesse negócio de música. Só uma deu pra
música a Celuta, minha prima, que já morreu. O Cupertino é que ensinava a ela piano.
O meu avô adorava música, por ele as netas todas, ele queria que tocassem piano. E ele
queria ensinar a gente, mas a gente começava a caçoar dele, porque ele falava as
coisas com a gente, as notas, mas a gente errava, acabava caçoando dele. Aí ele
291
desistiu, disse “vocês não estão querendo nada” (risos). Mas a vontade dele era que as
netas todas tocassem música.
PA - A senhora se lembra de quando ele estava escrevendo este livro, ou de
quando saiu este livro?
D. Cleuza - Me lembro! Eu já era crescidinha, como aparece naqueles
retratos ali (aponta). Ele tinha os livros em casa, lembro dele distribuindo, todo
contente, para os amigos. Tudo dele era escrito, ele sabia a idade dos filhos, dos netos,
tudo escrito. Depois a gente se desfez de tudo dele, não sei nem que fim levou, a gente
não sabe mais. O César [Faria] me conhece, quando eu vejo ele me cumprimenta.
Xandico, meu pai, tocava cavaquinho. Fumava cachimbo, também, ele gostava de tocar
e fumar cachimbo.
PA – A senhora sabe em que ano seu avô morreu?
D. Cleuza – Ih, meu filho, o ano eu não lembro não. Ele faleceu depois da
minha avó, morreu na r. Arnaldo Quintella. Ele era forte, tinha aquele cabelinho
caído... A filha dele mais velha morreu há quatro anos, se isso tivesse sido descoberto
há mais tempo ela tinha muita coisa pra contar. Ele gostava muito de tomar vinho.
Morreu na casa de uma vizinha, se encheu de vinho, chamaram ele pra almoçar lá. Ele
devia estar com a pressão alta. Se encheu de vinho, comeu... Quando foi pra casa horas
depois ele passou mal.
PA – A senhora lembra se o seu avô tinha partituras de músicas em casa? E
que fim elas levaram?
D. Cleuza – Lembro que ele tinha muitas partituras sim. Parece que essas
partituras o meu pai [Xandico, filho de Alexandre], deu para o Jacob [do Bandolim].
Deu a ele porque ele era famoso, e ninguém pensou que alguém ia precisar daquilo
algum dia. O Serginho, filho do Jacob, adorava a minha mãe. A gente tinha até um
retratinho dele com a dedicatória.
Como se vê, o depoimento adiciona alguns dados à biografia de Alexandre
Gonçalves Pinto, ainda que, em razão da idade avançada, D. Cleuza não pudesse dar
informações mais precisas. Assim, se não foi possível precisar seu ano e lugar de
nascimento, o depoimento de sua neta nos mostra que ele morou em Vila Isabel, tendo
posteriormente se mudado para Botafogo com a família. Neste bairro teria morado nas
ruas S. Clemente, Fernando de Guimarães e Arnaldo Quintella, onde faleceu. Fator
digno de nota é o contato, mencionado no depoimento, entre a família Gonçalves Pinto
e importantes nomes do choro da época, como Pixinguinha e Jacob do Bandolim. O
mais provável é que esse contato tenha se dado após a morte de Alexandre; tendo em
292
vista que Jacob do Bandolim iniciou sua carreira em meados da década de 1940, é
pouco provável que o carteiro ainda estivesse vivo por essa época. De qualquer forma, a
entrevista comprova que houve uma efetiva ligação entre Jacob do Bandolim e a família
de Gonçalves Pinto; entretanto não consegui localizar no acervo do bandolinista, hoje
parte do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, nenhum documento ou escrito
sobre este encontro.
293
Considerações Finais
Como dito no início do primeiro capítulo dessa tese, o período histórico
conhecido como a Belle époque carioca é repleto de significados e discursos (orais,
escritos e sonoros) em torno de conceitos como nacionalismo, identidade, ancestralidade
e autenticidade. Por sua complexidade, é ainda um período que desafia pesquisadores da
atualidade, que recorrem a diferentes fontes de época para tentar montar, cada um a sua
maneira, uma espécie de mosaico histórico deste período que testemunhou o nascimento
de diversos discursos sonoros que seriam posteriormente eleitos símbolos da
nacionalidade, como o samba e, em menor escala, o choro. Naturalmente, este jogo de
construção de memória não se restringe aos pesquisadores acadêmicos: dele participam
também outros atores sociais como jornalistas, músicos, produtores culturais, entidades
e amantes de música de forma geral.
Esta multiplicidade de vozes, se por um lado enriquece a discussão, certamente
também a torna mais complexa. Acontecimentos históricos, sociais e sonoros do
passado são reinterpretados por esta cadeia de mediadores através do tempo, em
perpétua produção de discursos, muitas vezes antagônicos, sobre eventos do passado.
Este processo, obviamente, não está infenso a simplificações, reificações e fantasias (em
todos os níveis, inclusive o acadêmico); dada a complexidade de fontes e “vozes” que
nos chegam do passado, há um perigo quase constante de se atribuir características
simplificadoras a estes discursos, que são, em sua maioria, complexos e polifônicos.
Assim, se os discursos de Vagalume e Orestes Barbosa são respectivamente, contra e
pró o advento da rádio e do disco, é certamente simplificador reduzir seus relatos a uma
simples discordância ou aquiescência com a incipiente indústria fonográfica da época.
294
No que se refere a Alexandre Gonçalves Pinto, uma das simplificações muito
presentes na bibliografia acadêmica e extra-acadêmica é a de considerá-lo como um
ingênuo ou “primitivo”, cujo relato serviria apenas como fonte de pesquisa para uma
história social do choro. O “bom” Alexandre, no dizer de Tinhorão, apesar de ter escrito
um livro de “grande ingenuidade” (1998B), revelaria fatos “sociológicos” importantes;
uma de minhas motivações para escrever a presente tese foi, portanto, a de
problematizar esta visão. Conforme espero ter demonstrado, seu livro é um relato
complexo que deve ser estudado e analisado como tal. Como demonstram as muitas
frentes de pesquisa levantadas ao longo dessa tese, a obra do carteiro poderia ser
comparada a uma espécie de novelo em que diversos “fios” podem ser “puxados”, cada
qual apontando para uma frente de pesquisa. Passo agora em revista estas frentes,
salientando os aspectos que, segundo minha visão, podem ser apontados como
contribuições do presente trabalho para um entendimento mais profundo deste que é um
dos mais importantes documentos da música popular urbana do Rio de Janeiro.
Em primeiro lugar realizei uma revisão bibliográfica de obras acadêmicas e
extra-acadêmicas que tratam do livro: vimos que, de forma geral, tais obras identificam
no livro apenas “dados sociológicos” e o analisam muitas vezes de forma depreciativa
(p. ex. Cazes, 1998), ou pelo menos condescendente, identificando seu autor como um
ingênuo ou primitivo, como reforçamos acima. Ora, não há dúvida de que o livro é uma
das mais importantes fontes de época, que nos permite desvelar aspectos históricos e
sociais da época – meu próprio trabalho aborda estes campos de maneira efetiva. Apesar
disso, procurei encontrar novas ferramentas metodológicas que pudessem aprofundar
minha análise; neste sentido, o binômio memória social-etnografia foi fundamental: ele
permitiu “enxergar” o livro para além da visão tradicional que o vê como um
amontoado de frases aparentemente sem nexo e coesão gramatical.
295
É evidente que o livro é um documento de memória social do choro. Para além
desta constatação, procurei mostrar, ao longo da tese, que esta construção de memória
partiu não apenas do carteiro: ela é resultado, sem dúvida, de uma memória social (ou
coletiva para utilizarmos o conceito de Halbwachs) que foi construída por diferentes
mediadores da época e que abrangia questões sobre nacionalidade, ancestralidade e
historicização do choro. Assim, alguns discursos podem ser identificados como
“narrativas míticas” sobre a origem do choro, como, por exemplo, aquele que identifica
Joaquim Callado como formador do primeiro conjunto e “pai dos chorões”. Seus feitos
como instrumentista e compositor correram de boca em boca e se constituíram como
uma construção coletiva que foi absorvida e repetida por diferentes gerações. Gonçalves
Pinto nada mais faz, em seu livro, do que registrar parte das histórias e feitos míticos
que ouvia da boca de seus companheiros mais antigos do choro, ainda que ele próprio
não tivesse conhecido Callado.
Aprofundando ainda mais a questão da memória, procurei mostrar de que forma
o livro foi, ao longo do século XX, se transformando de “memória subterrânea” a
“memória oficial” do choro. Seu lançamento, em 1936, não obteve quase nenhuma
repercussão – pelo menos, não consegui encontrar nenhum dado sobre ele nos principais
periódicos mais importantes da época. Faço a ressalva de que, por questões de tempo e
de falta de material humano – teria sido necessário uma equipe de trabalho, neste
sentido – não me foi possível realizar uma pesquisa extensiva em todos os jornais de
época, ainda que eu tenha pesquisado nos principais, como o Jornal do Brasil e O
Globo. A falta de dados sobre a data exata do lançamento também dificultaram
naturalmente as pesquisas. Em todo o caso, creio ser razoável supor que as razões que
levaram Catullo a se negar a escrever um prefácio para a obra – os “desmantelos
296
gramaticais” – possam ter influído de maneira decisiva para que o livro fosse ignorado
pela grande imprensa.
Vimos ainda que o livro permaneceu como memória subterrânea até a década de
1960, quando encontrei o que aparentemente é o primeiro estudo mais aprofundado
sobre ele: o fichamento elaborado por Jacob do Bandolim, que serviu como base para
várias leituras propostas na tese. Saliento apenas o fato de que, mesmo neste período o
livro teve muito pouca repercussão entre os instrumentistas de choro: minhas pesquisas
com alguns músicos mais velhos, como César Farias e Carlinhos Leite, ambos
contemporâneos de Jacob mostraram que eles desconheciam totalmente o livro. Mesmo
no depoimento de Déo Rian sobre o Retiro da Velha Guarda, - reunião de músicos da
“velha-guarda” que permaneceu até a década de 1960 com alguns dos músicos que
foram “retratados” por Gonçalves Pinto - não foi possível encontrar nenhuma referência
ao livro: como disse Déo ao longo de seu depoimento, nunca houve, pelo menos nas
rodas que ele presenciou, a menor menção a Gonçalves Pinto e a seu livro por parte dos
músicos mais velhos.
É a partir de 1978, data do seu relançamento pela FUNARTE, através do
pesquisador e jornalista Ary Vasconcelos, que a obra começa a se transformar em
“memória oficial” do choro. Parte deste processo se deu através dos trabalhos do
próprio Vasconcelos: como vimos no primeiro capítulo, o pesquisador se utiliza do livro
de Gonçalves Pinto como ponto de partida para o estabelecimento de uma historiografia
da música popular brasileira que tinha por objetivo formar um painel, o mais completo
possível, sobre instrumentistas e compositores populares da belle époque. Em vários de
seus livros, como Panorama da música popular brasileira (1964) e Panorama da
música brasileira na Belle époque (1977) percebe-se nitidamente a intenção de se
“completar” o panorama de instrumentistas e compositores populares feito pelo carteiro,
297
através da adição de novos dados biográficos que pudessem, nas palavras do próprio
Vasconcelos, “organizar a casa”, isto é, determinar com a maior precisão possível dados
biográficos como datas de nascimento e morte, informações sobre as carreiras musicais,
composições etc., de cada um destes instrumentistas.
A partir da década de 1990, o livro passa a fazer parte de uma teia de resignificações, se consolidando como “memória oficial” do choro. Vimos como
diferentes enfoques da atualidade “apreenderam”, por assim dizer, o livro e seu autor,
transformando-os sucessivamente em “colunista social” de uma revista voltada para o
público de choro, estopim para um movimento de recuperação de repertório do “choro
antigo” e matéria-base para um livro infantil. Neste processo, muitos discursos e idéias
são proferidos por diferentes atores sociais para justificar estas re-significações; em
outras palavras, cada um destes atores procurará identificar na narrativa de Gonçalves
Pinto fatores que justifiquem acontecimentos, atitudes e pensamentos da atualidade. O
Animal e seu livro se tornam assim símbolos de ancestralidade e autenticidade do
choro, e o que era memória subterrânea se transforma em memória oficial.
Outro fator que gostaria de destacar como contribuição da tese é a constatação
de que o livro do carteiro se constitui também como uma “contra-memória” - no sentido
atribuído por Foucault (1977) - pelo fato de incorporar em sua representação do passado
a voz daqueles que foram silenciados ou marginalizados pelo discurso dominante. Esta
constatação, se por um lado está ligada à recuperação de pelo menos parte das “vozes”
daqueles instrumentistas populares da época, também se liga à eleição de um discurso
musical e ideológico como representante máximo da nacionalidade. Para o grupo
descrito pelo carteiro a memória do choro era, em grande parte, a memória da polca,
“uma tradição brasileira” assim como o samba. Procurei mostrar como o aparecimento
de novas formas de acompanhamento, baseadas em grande parte nas figuras rítmicas do
298
samba do Estácio – figuras calcadas na contrametricidade conforme nos demontra
Sandroni (2001) – foram também apropriadas pelos novos instrumentistas e
compositores de choro a partir da década de 1930. Assim, o “novo choro” que surge
com muita força neste período, ligado aos instrumentistas da rádio e do disco – e o
flautista Benedito Lacerda é, sem dúvida, um dos pioneiros deste movimento de
apropriação de figuras rítmicas do samba do Estácio ao choro – faz surgir uma cisão
entre o que seria a “velha guarda” e a “nova guarda”. A “velha guarda” seria assim
representada pelos instrumentistas que ainda tinham a polca como mainstream do
acompanhamento do choro e se mantinham infensos a incorporação dos padrões do
samba – parte deste grupo, como vimos no capítulo cinco, permanecerá vivo até a
década de 1960, esparso em rodas de choro como as do Retiro da Velha Guarda, da qual
o bandolinista Déo Rian é testemunha. É a memória deste grupo, que seria cada vez
menor a partir da década de 1930, que Gonçalves Pinto busca preservar, fazendo em seu
livro uma defesa veemente da polca como símbolo da música nacional. Suas estratégias
de defesa são, a meu ver, bastante inteligentes: por um lado ele procura estabelecer a
polca como um elo de ligação entre os instrumentistas “da velha” e da “nova guarda”.
Como vimos no capítulo três, ele afirmará que:
A polka cadenciada e chorosa ao som de uma flauta, fosse o flautista o Viriato, o
Callado, o Rangel ou seja o Pixinguinha, o João de Deus ou Benedicto Lacerda; um
violão dedilhado outr'ora, por Juca Valle, Quincas Laranjeira, Bilhar, Néco ou
Manduca de Catumby e hoje por Felizardo Conceição, José Rabello, Coelho Grey,
Donga, João Thomaz, etc.; um cavaquinho palhetado hontem por Mario, Chico
Borges, Lulu' Santos, Antonico Piteira e hoje pelo mestre dos mestres Galdino
Barreto, Nelson [Alves], João Martins – foi, é e continuará a ser a alma da dansa
brasileira (116).
O carteiro tem razão em estabelecer estas pontes de ligação entre os antigos e
novos instrumentistas, uma vez que a memória da polca não foi abruptamente esquecida
pelas novas gerações: entretanto, não há dúvida no fato de que ela deixa de ser a
299
principal forma de acompanhamento para se tornar coadjuvante do “novo choro
sambado”, por assim dizer; mais do que isso, ela passa a ser associada a uma forma
antiquada de acompanhamento, a forma “como os velhos acompanhavam”, conforme
ouvi da boca de alguns instrumentistas da atualidade, como Déo Rian. Neste processo, o
repertório desse “novo choro”, simbolizado pelos instrumentistas da rádio e do disco,
substitui progressivamente o repertório dos chorões do século XIX e inícios do século
XX: como afirmamos ao longo do trabalho, a maior parte das composições de músicos
considerados “fundadores” do choro, como Joaquim Callado e Anacleto de Medeiros,
ficou praticamente esquecida durante a segunda metade do século XX, sendo preservada
apenas pelos cadernos manuscritos de velhos instrumentistas que chegaram até nós. E é
também contra este esquecimento que o carteiro se insurge ao fazer, em seu livro, um
apelo para que o maior representante do “novo choro” – o flautista Benedito Lacerda –
gravasse também o repertório dos “antigos chorões”. Diga-se, de passagem, que outros
membros do grupo da “velha-guarda” também fizeram apelos semelhantes em prol
desta memória específica, como é o caso do flautista Jupiaçara Xavier, que escreve a
Almirante oferecendo seus “cadernos de choro”, como vimos no capítulo quatro.
Se os conceitos do campo da memória social foram de grande valia
metodológica, também fundamental foi a utilização da perspectiva etnográfica como
ferramenta de análise do livro. Como salientado no primeiro capítulo, utilizo o termo
“etnografia” como conceito amplo de descrição verbal de práticas sociais não
necessariamente ligadas a um aparato teórico antropológico; utilizo-me assim das
definições de Clifford (1998:26) e Seeger (1992: 89) que procuram dissociar
historicamente as funções do etnógrafo e do antropólogo. Tais visões procuram
questionar a idéia, que se consolida a partir das primeiras décadas do século XX, de
etnografia como campo de estudos exclusivo da antropologia, dominada pelo arcabouço
300
teórico desta disciplina. Assim, segundo Clifford (1998) uma vez “apropriada” pelo
campo de estudos da antropologia, a etnografia seria entendida a partir de duas visões
básicas, de certa forma complementares. A primeira seria a definição de Lévi-Strauss
segundo a qual a etnografia se constituiria como a “observação e análise de grupos
humanos considerados em sua particularidade (...) e visando a sua reconstituição, tão
fiel quanto possível a vida de cada um deles (Lévi-Strauss, 1973:14). A segunda seria a
de antropólogos como Geertz, para quem a etnografia seria “uma atividade
eminentemente ‘interpretativa’, uma ‘descrição densa’, voltada para a busca de
‘estruturas de significação’ (Geertz 1978: 20-25).
Para além destas definições clássicas, as últimas décadas do século XX
testemunharam uma grande crise de legitimidade destes padrões tradicionais de
etnografia como premissas da atividade antropológica. Questões como a desintegração e
a redistribuição do poder em territórios antes dominados pela relação “metrópolecolônia” e a percepção de que o Ocidente não poderia mais ser considerado o único
provedor de conhecimento antropológico sobre outras partes do globo, minaram, por
assim dizer, o padrão de etnografia científica que predominou no seio da antropologia
na primeira metade do século XX. Desta forma, como apontamos no capítulo cinco, a
condição atual alcançada por um mundo cada vez mais globalizado e, paradoxalmente,
segmentado, seria a de uma multiplicidade de mediadores formando um panorama de
“etnografia generalizada” (Clifford, 1998: 19).
Dentro deste contexto, novas formas de compreensão do que pode ser definido
como um texto etnográfico tornam-se necessárias. Textos escritos sob o ponto de vista
de nativos de culturas específicas ganham novo apelo. Citando ainda Clifford
(1998:98): “Com o recente questionamento dos estilos coloniais de representação, com
a expansão da alfabetização e consciência etnográfica, novas possibilidades de leitura (e
301
portanto de escrita) das descrições culturais estão surgindo”. Esta percepção nos dá a
chave para o entendimento do livro de Gonçalves Pinto sob uma nova ótica: ao invés de
considerá-lo simplesmente como um escritor ingênuo e naif, passamos a enxergá-lo
como um nativo escrevendo sobre as práticas culturais de seu grupo; neste processo,
novas possibilidades de leitura se abrem ao pesquisador.
A perspectiva etnográfica, portanto, nos permite entender o livro como uma
textualização de práticas culturais de um grupo que se auto-definia sob a denominação
“choro”. O livro nos mostra que esta palavra se constituía como uma célula viva que
incluía relações sociais, práticas sonoras, discursos sobre o som, gestualizações, danças,
fórmulas de oralidade e gírias. O “choro” era, simultaneamente, o lugar em que se
tocava, as ocasiões festivas onde a música se dava, o grupo de instrumentistas,
admiradores, dançarinos e boêmios que se reuniam em torno dessas práticas musicais; o
termo abarcava também a linguagem falada pelo grupo. O livro nos permite entender de
que forma o grupo construía sua própria história e seus mitos de origem, ao “canonizar”
alguns instrumentistas e compositores como membros fundadores das práticas
realizadas pelo grupo. Este processo de “canonização”, aliás, é bem parecido com o que
ocorre com a música de concerto europeia: instrumentistas e compositores são tomados
como “pais fundadores” de determinadas práticas, em um processo que envolvia a
escolha de suas músicas ou “escolas” como modelos para os outros membros do grupo.
Ao mesmo tempo, histórias míticas sobre seus feitos e proezas são construídas e
disseminadas pela tradição oral, passando de geração em geração.
Se os grandes instrumentistas e compositores são fundamentais para a
constituição do grupo, o livro também nos mostra a grande importância dos
instrumentistas “fracos”, ou “facões”, para utilizar um termo do próprio Gonçalves
Pinto. Como frisado no primeiro capítulo, O Choro retrata, sem distinção, tanto os
302
melhores quanto os piores instrumentistas; tanto amadores quanto profissionais; tanto
instrumentistas quanto não instrumentistas (ou seja, apreciadores do gênero); tanto
intelectuais e músicos ligados a “alta cultura” quanto músicos ligados a classes
operárias. Na contramão da bibliografia tradicional que procura sempre destacar os
pontos culminantes de cada gênero ou estilo musical, o livro nos mostra que amadores,
diletantes e instrumentistas fracos eram tão importantes para a dinâmica do grupo
quanto os expoentes em seus instrumentos e os “pais fundadores”.
Para além disso, o carteiro se esmera em mostrar que a habilidade instrumental
não era o único fator a ser considerado pelo grupo na avaliação do grau de importância
de um membro do grupo. Dessa forma, Sátiro Bilhar não é considerado um expoente
apenas por ser o “rei dos acordes”, mas também pelo fato de que seu repertório de ditos,
provérbios e frases feitas eram, tanto quanto sua música, parte do fator de identidade do
grupo. Assim, ao reproduzir alguns destes ditos e frases feitas em seu livro, Gonçalves
Pinto nos mostra que, para o grupo, os discursos que rodeavam Bilhar eram tão
importantes quanto aquilo que ele tocava.
A perspectiva etnográfica nos permite ainda analisar a linguagem do livro sob
outra ótica. Ao invés de procurarmos aquilo que o carteiro não nos dá, ou seja, a norma
culta e a coesão gramatical, passamos a enxergar sua escrita como representação da
linguagem oral utilizada pelo grupo. Aqui há que se ter cuidado: não estou sugerindo
com isso que todos os membros do grupo escrevessem como o carteiro. O grupo
descrito é bastante heterogêneo e reunia não só intelectuais como membros mais
letrados; é possível que mesmo outros carteiros tivessem maior grau de instrução e
alfabetização do que Gonçalves Pinto. Entretanto, a escrita do livro reproduz em grande
parte a linguagem oral que conferia identidade ao grupo; como visto nos capítulos um e
dois, esta linguagem poderia ser definida a partir do conceito de heteroglossia, cunhado
303
por Bakhtin para descrever estratificações linguísticas não-oficiais utilizadas por grupos
específicos no interior da “linguagem oficial”. Havia, assim, uma gíria do choro, uma
linguagem não-oficial que caracterizava o grupo, e que é, em parte, a linguagem usada
pelo carteiro em seu livro.
Este é outro dos pontos em que o presente trabalho procura fornecer um novo
ângulo de visão sobre nosso objeto de estudos; para analisarmos a linguagem utilizada
no livro, procuramos aliar a perspectiva etnográfica a outro conceito de Bakhtin,
fundamental para o desenvolvimento desta tese: o de carnavalização. Tal conceito,
como vimos, está ligado a ideia de sublevação, ainda que temporária, das hierarquias e
ordens vigentes através do uso, em um determinado período do ano, de elementos
ligados ao satírico, ao burlesco, à valorização de símbolos escatológicos (os órgãos
sexuais, os excrementos, a linguagem de baixo calão), ao grotesco, etc. Dessa forma, no
período carnavalesco, as estratificações sociais presentes em diversas comunidades da
Idade Média eram sustadas pelo “riso coletivo” das festas populares.
Para que nossa análise fosse realmente efetiva, era necessário realizar um estudo
comparativo com outras fontes populares da época. Neste sentido foi de fundamental
importância a coleção de periódicos do rancho Ameno Resedá, documentação que
cremos ter permanecido inédita até o presente trabalho, e que integra a Coleção Jacob
do Bandolim pertencente ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. A análise
dos jornais do rancho nos mostrou uma grande aproximação com a linguagem utilizada
em O Choro, até pelo fato de que, como vimos, boa parte dos chorões descritos por
Gonçalves Pinto também freqüentava o universo dos ranchos carnavalescos. Em ambos
os casos, a sátira funciona como um passaporte para o “riso coletivo”, onde, conforme
definição de Bakhtin (1984:10-11), nem os próprios burladores se excluíam do processo
de sátira. Assim, os sonetos satíricos, o uso de expressões populares e gírias, muitas das
304
quais quase incompreensíveis para o leitor médio da atualidade, cumpriam um papel de
construção de identidade entre os membros do grupo. Como escreve o articulista do
jornal do Ameno Resedá, independente da posição de cada um dos membros, fossem
eles “araras ou turunas, benfeitores ou contribuintes, tudo entra na borduna”, ou seja,
todos estariam imersos nesse riso coletivo e satírico.
A comparação com a linguagem utilizada no jornal do rancho nos mostra, dessa
forma, que a prosa de Alexandre fazia parte de um universo popular-carnavalesco
comum a determinados extratos sociais; linguagem que era, no dizer de Tinhorão
(2000:15), eivada de irreverência, por seu gosto e tendência por “grosserias” e
“chulices”, mas que, por isso mesmo, representava “um curioso exemplo de conciliação
literária entre a desbragada liberdade da fala popular das ruas e o sentido da boa moral
das camadas burguesas urbanas”. Portanto, qualquer análise da linguagem do livro deve
se basear no entendimento desse contexto, sem o qual ela se torna incompreensível.
Além de se constituir como fator identitário de um grupo que partilhava as
práticas sociais e sonoras dos ranchos e do choro, afirmamos que esta linguagem
popular-carnavalesca funcionava como um instrumento eficaz de suspensão da ordem
vigente, sublevação das hierarquias constituídas e passaporte para a entrada em uma
dimensão festiva da vida, no melhor sentido bakhtiniano. Para fundamentar esse
pensamento nos utilizamos ainda do conceito de “dialética da malandragem” utilizada
por Antonio Cândido para caracterizar outro documento que retrata extratos populares
do século XIX: o folhetim Memórias de um sargento de milícias de Manoel Antonio de
Almeida. Ao identificar o complexo jogo dialético que frequentemente embaralhava os
círculos da “ordem” – representados pelos personagens que encarnam as figuras
públicas do livro, como Leonardo-pai (oficial de justiça) e o Vidigal – e os da
“desordem” – representados por figuras “marginais” como a cigana, o curandeiro do
305
mangue, etc – Cândido nos aponta para uma sociedade onde as fronteiras entre o lícito e
o ilícito eram extremamente permeáveis. Procuramos mostrar, ao longo do segundo
capítulo, que essa mesma tensão entre o lícito e o ilícito estava presente nas narrativas e
nos personagens descritos pelo “Animal”. Vimos como diversos “representantes da
ordem” descritos por ele — soldados, policiais, funcionários públicos etc, — estavam
sempre no limiar entre estes dois hemisférios, sendo freqüentemente repreendidos ou
mesmo exonerados de seus cargos pela incompatibilidade entre as funções que exerciam
e as tentações da “vida festiva”. Os “heróis do choro”, como Alexandre os denomina,
eram, na verdade “anti-heróis”, que, ao privilegiarem o riso, a sátira, os pagodes sempre
acompanhados de farta comida e bebida – tudo isso intermediado pelas práticas sonoras
definidas sob o nome “choro” – deixavam de lado o círculo da ordem, as hierarquias
constituídas, a vida institucionalizada e “oficial”, enfim. Verificamos também que esta
mesma inversão de valores era freqüente nas crônicas dos jornais do Ameno Resedá.
Se por um lado identificamos o caráter carnavalesco e popular da linguagem
utilizada por Gonçalves Pinto, procuramos identificar também outros elementos que
fazem parte de sua narrativa; nesse sentido, salientamos o caráter polifônico do texto, ao
mostrarmos empréstimos e intertextualidades com pensamentos normalmente
associados às camadas “cultas” e intelectuais da sociedade da época. Verificamos como,
em diversos momentos do livro, o carteiro levanta questões associadas a ancestralidade,
nacionalidade e raça. Em seu verbete sobre a “Alvorada da música”, por exemplo,
Gonçalves Pinto procura traçar uma linha de continuidade entre o choro as práticas
musicais das bandas de escravos, conforme salientado por Braga (2002: 210); mais do
que isso, procura identificar essas bandas de música como fator primordial para o
processo de abolição da escravatura. Como vimos no terceiro capítulo, o carteiro cita as
bandas de música formadas por escravos como responsáveis pelo abrandamento “dos
306
duros corações dos grandes escravocatas”. Da mesma forma, na introdução do livro
Gonçalves Pinto se refere aos “costumes bahianos que foram trazidos da África pelos
nossos queridos nossos antepassados” e que seriam guardados “com o maior carinho em
nossos corações”. Procuramos mostrar, amparados pelo pensamento de Abreu (2007),
que esta confusa relação entre Bahia e África como “fontes” e “origens” das tradições
brasileiras sem dúvida já estava presente no imaginário popular e também nas ideias de
intelectuais desde o século XIX, entre os quais o escritor Mello Moraes, citado no livro.
Passamos agora a outra frente de pesquisa que julgo também ser contribuição
importante desta tese: a análise dos aspectos da práxis musical descrita no livro. Ao
estudar e mapear de que forma o autor identifica em sua obra processos de transmissão,
aprendizado e ensino das práticas musicais do choro, procuramos mostrar que o livro
salienta a existência de uma rede de trocas não comerciais e não oficiais que
funcionavam em paralelo às instâncias oficiais de disseminação e ensino da música –
representadas pelas editoras de partituras e as escolas “reconhecidas”, como o
Conservatório Imperial de Música. Assim, se boa parte dos instrumentistas descritos,
principalmente aqueles que tocavam instrumentos de sopro, tinham “diploma do
Conservatório”, como o carteiro faz questão de frisar como garantia de suas habilidades
e proficiências musicais, a grande maioria tinha por mestres instrumentistas que não
eram formalmente ligados a instituições de ensino, mas que de alguma maneira eram
fundadores de “escolas” de seus instrumentos. Exemplo claro disso é a figura de
Galdino Barreto, apontado por Gonçalves Pinto e seus contemporâneos como criador de
uma forma de se tocar o cavaquinho e ao mesmo tempo “o único educador deste
instrumento” (54). O violão também tinha seus representantes populares, não ligados a
instâncias oficiais, como Sátiro Bilhar e João Pernambuco, ainda que, como nos
mostram os trabalhos de Leme (2006) e Taborda (2005), o processo de ensino e
307
aprendizagem do instrumento abarcasse também métodos de ensino europeus, como os
de Carcassi e Tárrega.
À parte estes expoentes - grandes instrumentistas populares cujos feitos eram
celebrados de boca em boca - o livro nos mostra que nomes menos conhecidos também
funcionavam como instâncias de ensino e transmissão dessa música; é o caso de
Videira, flautista e operário de uma fábrica de cigarros, responsável por grande parte do
ensino de Gonçalves Pinto. Apesar de “tocar de ouvido”, sabia dizer em sua flauta “o
que os outros diziam sabendo música”; passando a acompanhar regularmente Videira, o
carteiro teria, em seu próprio dizer, principiado a tocar violão e cavaquinho, tornando-se
assim um instrumentista “respeitado na roda dos tocadores batutas”. Da mesma forma,
pontos de encontros entre instrumentistas também são mencionados como centro de
ensino e transmissão dessa música; era o caso da residência de um certo Gedeão,
classificada por Gonçalves Pinto como “uma grande escola de musicistas, onde o autor
dessas linhas ia ali beber naquela fonte seu aprendizado de violão e cavaquinho” (17).
Chegamos agora a um ponto que julgo central na tese: o livro de Alexandre
Gonçalves Pinto abre caminho, a meu ver, para uma frente de estudos muito pouco
explorada pela musicologia tradicional: a análise de acervos manuscritos de música
popular dos séculos XIX e primeiras décadas do século XX. Ao mencionar, de forma
recorrente em seu livro, a importância dos registros escritos em um grande número de
acervos particulares, o carteiro nos aponta para a existência de uma rede dinâmica de
transmissão do repertório de choro que era feita através de cópias de álbuns e
partituras manuscritas. De forma similar aos aspectos de ensino e aprendizado
mencionados anteriormente, este processo de transmissão do repertório através de uma
rede de copistas funcionava de forma paralela ao trabalho das editoras de músicas
impressas: paralela e complementar, poderíamos dizer, uma vez que abrangia corpus de
308
obras de compositores de choro que jamais chegaram a ter suas composições editadas.
Mesmo aqueles que gozavam de grande prestígio popular, como Callado e Anacleto de
Medeiros só tiveram uma pequena parte de suas obras impressas; a maioria de suas
composições só nos chegou através destes cadernos de instrumentistas populares.
As constatações acima nos permitem estabelecer uma série de reflexões que
julgo oportunas e que apontam para desdobramentos desta tese. A primeira delas diz
respeito a uma velha dicotomia, em parte já em parte ultrapassada pela bibliografia
acadêmica mais recente, entre instâncias cultas, ou eruditas versus instâncias populares,
as primeiras pressupondo tradições escritas realizadas dentro de estratos sociais ligados
às camadas altas ou elites, e as segundas pressupondo saberes orais ligados às camadas
mais baixas da população. Se estudos das últimas décadas de diversos campos da
história (principalmente da história cultural e da microhistória, com trabalhos como os
de Burke, 1989 e Ginzburg, 2006), e da teoria e crítica literária (Bakhtin, 1981, 1987) já
nos fornecem ferramentas que nos permitem questionar o que há de reducionista nessa
aparente dicotomia, creio que mesmo importantes estudos mais recentes sobre a música
popular urbana brasileira não escaparam de cair em uma tipologia por vezes
simplificadora destas categorias. Mencionamos, no primeiro capítulo, a dicotomia
apresentada no importante trabalho de Vianna (2007:29) entre o pensamento intelectual
e “o povo”, representados respectivamente por Gilberto Freire e Prudente de Morais
Neto, de um lado, e Pixinguinha, Donga e Patrício Teixeira de outro, no encontro que é
o mote do livro. Como argumentamos no referido capítulo, a dicotomia é questionável
uma vez que Pixinguinha e Donga também imersos em uma tradição “culta” musical:
ambos sabiam “ler e escrever” música e eram detentores de acervos de partituras que
remontavam ao século XIX.
309
Poder-se-ia argumentar que Pixinguinha e Donga talvez devessem ser
considerados exceções, uma vez que seriam representantes máximos da indústria
fonográfica da época, e portanto não poderiam se enquadrar na (problemática) categoria
de “povo”. Mas eis que Alexandre Gonçalves Pinto nos apresenta em seu livro uma
sociedade onde representantes destes estratos sociais comumente associados às camadas
populares – carteiros, carregadores, estafetas, pequenos funcionários dos telégrafos, etc.
–, escreviam e trocavam partituras, constituindo coleções de músicas populares que
funcionavam – talvez mais do que a indústria de partituras da época – como poderosa
ferramenta de disseminação e transmissão destas práticas sonoras abarcadas sob a
denominação “choro”. Não estou sugerindo com isso que todos os membros destes
estratos sociais se utilizassem do registro escrito, nem que ele seria a única base de
ensino, aprendizagem e transmissão do repertório do choro. Como vimos ao longo do
trabalho, a transmissão oral era de fundamental importância, principalmente no que se
referia a práticas de acompanhamento rítmico-harmônicas realizadas por violões e
cavaquinhos. Enfatizo, sim, a ideia de que tradições orais e escritas se misturavam de
forma complexa e ao fazê-lo procuro mostrar o quão simplificador pode ser a
associação, ainda presente em nossa musicologia tradicional, entre suportes escritos
(partituras) como símbolos de saberes “eruditos” e transmissões orais como símbolos de
saberes populares.
Esta última afirmativa é corroborada pela constatação de que o campo de
estudos da tradicional musicologia acadêmica brasileira ainda tem um largo caminho a
percorrer no que se refere à análise destas coleções de músicas populares urbanas
manuscritas. Isso nos leva a nossa segunda reflexão, que enunciaremos a partir de um
duplo questionamento: de que forma as ferramentas tradicionais da musicologia podem
ser aproveitadas na análise dessas coleções específicas, e de que forma novas
310
ferramentas podem ser criadas a partir do estudo de características específicas destas
coleções? São questões que permanecem como desafio para trabalhos futuros.
Feita esta pequena digressão, retornamos ao nosso tema: ao apontar para a
existência de uma rede de copistas de música popular que tinham grande importância no
processo de transmissão do gênero, Alexandre Gonçalves Pinto nos abre caminho, como
dissemos, para uma nova frente de pesquisas ainda por ser desenvolvida. Ao iniciar
meus estudos sobre o livro O Choro, sabia de antemão que um dos capítulos de minha
tese seria focado no mapeamento e análise das práticas musicais abordadas no livro – o
que incluía particularmente a questão dos acervos. Entretanto, ao começar a realizar
minha “pesquisa de campo” na Coleção Jacob do Bandolim, cedo percebi que o tema,
por sua vastidão e complexidade, extrapolava os limites de uma tese de doutorado.
Tenho então total consciência de que o trabalho de análise deste material, alvo do quarto
capítulo desta tese, pode ser considerado apenas como um “pontapé inicial” no que se
refere a estudos acadêmicos sobre o assunto. Perspectivas de pesquisa que proponham
não apenas trabalhos de mapeamento e catalogação destas coleções - dispersas em
várias instituições públicas e privadas do Rio de Janeiro - mas que se utilizem do
aparato metodológico de campos como etnomusicologia, musicologia história, memória
social, história e antropologia para uma análise mais efetiva destes acervos são, a meu
ver, desdobramentos possíveis para esta tese.
Por outro lado, creio que uma reflexão mais aprofundada sobre o papel destes
pesquisadores-músicos da década de 1960, como Almirante e Jacob do Bandolim, ainda
está por ser feita. Como vimos no primeiro capítulo, o pensamento acadêmico
contemporâneo tende a agrupar estes pesquisadores sob a denominação – em que não há
como negar um tom depreciativo – de “folcloristas urbanos” ou “colecionistas”. Sem
querer absolutamente negar o que há de reducionista ou simplificador no pensamento
311
destes pesquisadores, creio que uma avaliação mais aprofundada de seus papéis passaria
por uma análise extensiva de seus acervos, escritos e ideias, algo que a meu ver ainda
não foi feito. Em parte pelas condições precárias de acessibilidade desses acervos,
muitos dos quais total ou parcialmente inacessíveis em instituições públicas e privadas;
em parte pelo fato de que as idéias e pensamentos destes pesquisadores encontram-se
dispersos em gravações de programas de rádio e jornais de época, o fato é que há ainda
muito a ser feito para que possamos avaliar com maior clareza a dimensão desta geração
de pesquisadores.
***
Iniciamos nosso trabalho afirmando que o livro de Gonçalves Pinto estabelece
um castelo de memórias. Ao final de nosso “passeio” por sua obra, podemos dizer que o
carteiro não nos fala apenas de memórias: ele nos fala da relação entre discursos
sonoros e discursos verbais, de como práticas sonoras funcionam como fator de
construção de identidade para um grupo ou nação, de que forma mudanças e
continuidades são percebidas por tais grupos e de que forma articulações políticas – e o
livro não deixa de ser uma manifestação política em prol de uma memória – são
montadas com o intuito de se preservar as características de um grupo. Todos esses
elementos estão imbricados nestes “castelos de fantasia” que o carteiro ergueu em sua
imaginação para compor este que é um documento ímpar da história da música popular
brasileira.
312
FONTES
1) Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro
1.1)
Coleção Jacob do Bandolim
Acervo de Partituras Manuscritas
Pasta: “Indice O Choro”
Pasta: “Jornais do Ameno Resedá”
1.2)
Coleção Almirante
Acervo Jupiaçara Xavier
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, Martha. “Mello Moraes Filho: festas, tradições populares e identidade
nacional”. In: A história contada: capítulos de história social da literatura no Brasil.
Sidney Chalhoub e Leonardo Affonso de M. Pereira, org. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1998.
ABREU, Martha e DANTAS, Carolina Vianna. “Música popular, folclore e nação no
Brasil, 1890-1920” In: Nação e cidadania no império: novos horizontes. José Murilo de
Carvalho, org. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. Ática, 1997.
ALMEIDA, Renato. História da música brasileira. Rio de Janeiro: F. Briguiet&Comp,
1926.
ALVARENGA, Oneyda. Música popular brasileira. Porto Alegre: Editora Globo,
1960.
ARAGÃO, Paulo. “Pixinguinha e a gênese do arranjo brasileiro”. Dissertação de
Mestrado. UNIRIO, 2001.
313
ARAGÃO, Pedro. Luiz Heitor Corrêa de Azevedo e os estudos de folclore musical no
Brasil: uma análise de sua trajetória na Escola Nacional de Música (1932-1947). 2006.
Dissertação (Mestrado em Musicologia) - Escola de Música da UFRJ, 2006.
ARAÚJO, Samuel."Trabalho acústico: Uma proposta de reconceituação do objeto de
estudo em etnomusicologia". Anais do VI Encontro da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Música. Rio de Janeiro: ANPPOM; pp. 146-151, 1993.
______________. “O Rancho e a rua: questões sobre a atualização de uma forma
cênico-musical carnavalesca” IN Anais do XIV Congresso da ANPPOM (CDROM),
Porto Alegre, 2003
ARAÚJO, Samuel et al. “Entre palcos, ruas e salões: processos de circularidade cultural
na música dos ranchos carnavalescos do Rio de Janeiro (1890-1930)”. Revista Em
Pauta, v. 16, n. 26, 2005.
ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. São Paulo: Livraria Martins
Editora, 1939.
___________________. “Memórias de um sargento de milícias” In: Aspectos da
Literatura Brasileira. Americ Edit, 1943.
AZEVEDO, Luiz Heitor Corrêa de.“Introdução ao curso de Folclore Nacional da Escola
Nacional de Música da Universidade do Brasil” In: Revista Brasileira de Música.
Volume VI, 1939, págs. 1-10.
__________________________. Música e Músicos do Brasil. Rio de Janeiro, LivrariaEditora Casa do Estudante do Brasil, 1950.
__________________________. “Folk Music: Brazilian” IN, Grove´s Dictionary of
Music and Musicians. 5ª Edição. Volume III Editado por Eric Blom. London,
Macmillan & Co.Ltd., 1954, pgs. 198-201.
BAKHTIN, Mikhail, A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto
de François Rabelais. Brasília: UnB/Hucitec, 1987.
________________. Marxismo e filosofia da linguagem, 6ª edição. São Paulo: Hucitec,
1992.
________________. Problemas da Poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. 1ª. ed.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1981.
BARDANACHVILI, Rosane. O nacionalismo na trajetória musical de Luciano Gallet.
1995. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
314
BARZ, Gregory e COOLEY, Timothy. Shadows in the Field: New Perspectives for
Fieldwork in Ethnomusicology. Oxford, Oxford University Press
BATISTA SIQUEIRA. Três vultos históricos da música brasileira, Rio de Janeiro, D.
Araújo, 1969.
BASTOS, Rafael José de Menezes. “Músicas latino-americanas, hoje: musicalidade e
novas fronteiras”. In: Antropologia em primeira mão, n. 29. Florianópolis: Universidade
Federal de Santa Catarina, 1997.
BLACKING, John. “Music, culture and experience” In: Reginald Byron, ed. Music
Culture and Experience, selected papers of John Blacking, Chicago University
Press,1995.
BRAGA, Luiz Otávio Rendeiro. “A invenção da música popular brasileira: de 1930 ao
final do Estado Novo”. Tese de Doutorado. UFRJ/IFCS/PPGHIS. Rio de Janeiro, 2002.
BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras,
1989.
____________. O que é história cultural?. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
CABRAL, Sérgio. No tempo de Almirante: uma história do rádio e da MPB. Rio de
Janeiro: Francisco Alves Editora, 1990.
CANCLINI, Néstor Garcia. Cultura Hibridas. Buenos Aires: Sudamericana, 1992
CÂNDIDO, Antonio. “Dialética da Malandragem (caracterização caracterização das
Memórias de um sargento de milícias)" In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros
nº 8, São Paulo, USP, 1970.
CARVALHO, Ilmar “O Choro carioca: perspectiva sócio-histórica” In: Revista de
cultura Vozes n. 9. Petrópolis: Editora Vozes, 1972, pg. 53.
CARVALHO, Márcio Gonçalves de. “Catulo da Paixão Cearense: memórias e histórias
de músicos populares no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do XX.”
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em História Social
da Universidade Federal Fluminenes (UFF), 2006.
CASCUDO, Luiz da Câmara. Dicionário de Folclore Brasileiro, Rio de Janeiro,
INL/MEC, 1962.
CASTRO, Celso e CUNHA, Olívia Maria Gomes da. “Quando o campo é o arquivo”.
In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 36, julho-dezembro de 2005.
CAZES, Henrique. Choro: do quintal ao Municipal. Editora 34, 1998.
CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX;
organizado por José Reginaldo Santos Gonçalves. 2. Ed. Rio de Janeiro, 1998.
315
COELHO, Luís Fernando Hering. Os músicos transeuntes: de palavras e coisas em
torno de uns batutas. Tese de doutoramento. Programa de Pós-Graduação em
Antropologia, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.
COLI, Jorge. Música Final – Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo
Musical. Campinas SP: Editora da UNICAMP, 1998.
CONTIER, Arnaldo. Brasil Novo: música, nação e modernidade: os anos 20 e 30. Tese
de Livre Docência FFLCH/USP, 1988.
DE NORA, Tia. Music and everyday life. Cambridge University Press, 2000.
EFEGÊ, Jota. Figuras e coisas da música popular brasileira, vols 1 e 2. Rio de Janeiro:
Funarte, 1980.
__________. Ameno Resedá, o rancho que foi escola. Rio de Janeiro: Letras e Artes,
1965.
ENCICLOPÉDIA DA MÚSICA BRASILEIRA, erudita, popular e folclórica. – 3ª
edição. São Paulo: ArtEditora/Publifolha, 2000.
FABIAN, Johannes. Time and the other: how Anthropology makes its object. New
York: Columbia University Press, 1983.
FOUCAULT, Michel. Language, Counter-memory, Practice: selected essays and
interviews, ed. Donald F. Bouchard and Sherry Simon. Ithaca, New York: Cornel
University Press, 1977.
FREIRE, Susanita. O fim de um símbolo: Theatro João Minhoca Companhia
Authomatica. Rio de Janeiro: Achiamé, 2000
GARCIA, Thomas George Caracas. “The Brazilian Choro: music, politics and
performance”. Tese de Doutorado: Duke University, 1997.
GERSON, Brasil. História das ruas do Rio. 5ª edição. Rio de Janeiro: Lacerda Ed.,
2000
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: Ed. Companhia das Letras, 2006.
GONÇALVES, Renata de Sá. Os ranchos pedem passagem: o carnaval no Rio de
Janeiro do começo do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal das Culturas,
2007
GUIMARÃES, Francisco (Vagalume). Na roda de samba. Rio de Janeiro: FUNARTE,
1978
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
316
HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. São Paulo: EDUSP, 2005.
HENNION, Antoine. La passion musicale. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 2002.
HOBSBAWN, Eric. Nações e nacionalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
HOBSBAWN, Eric e RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1997.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Companhia das
Letras, 1999.
KARTOMI, Margaret J. “The processes and results of musical culture contact: a
discussion of terminology and concepts” In: Ethnomusicology, vol. 25 n. 2, 1981, p.
227-49.
LANGE, Francisco Curt. “Los conjuntos musicales ambulantes de Salzgitter y su
propagación em Brasil y Chile durante el siglo XIX”. In: Latin American review, vol. 1
n. 2. Austin: University of Texas Press, 1980.
LEME, Mônica Neves. “E saíram à luz...”: as novas coleções de polcas, modinhas,
lundus, etc. – Música popular e impressão musical no Rio de Janeiro (1820-1920).
2006. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal Fluminense.
LIRA, Mariza. “A característica brasileira nas interpretações de Callado” In: Revista
Brasileira de música vol. VII. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Música da UFRJ,
1940-41 p. 211
LIVINGSTON, Tamara Elena. “Choro and Music Revivalism in Rio de Janeiro, Brazil:
1973-1995”. Tese de Doutorado. University of Illinois, 1999.
MANNONI, Laurent. A Grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema. São
Paulo: Editora SENAC, São Paulo: UNESP, 2003.
MARTINS, José de Souza. A aparição do demônio na fábrica: origens sociais do Eu
dividido no subúrbio operário. São Paulo: Ed. 34, 2008.
MAXIMO, João e Didier, Carlos. Noel Rosa – uma biografia, Brasília, UNB, 1990.
MELLO MORAES FILHO, Alexandre. Festas e tradições populares no Brasil, Belo
Horizonte/São Paulo, Itatiaia/USP.
________________________________; Cantares Brasileiros. Ed. Jacintho Ribeiro dos
Santos, Rio de Janeiro, 1900.
MERRIAM, Alan. The anthropology of music. Evanston, IL: Northwestern University
Press, 1964.
317
MIRANDA, Cristina, “Aparelhos óticos do Rio de Janeiro no século XIX” artigo
http://www.anpuh.uepg.br/xxiiidisponível
em
simposio/anais/textos/MARIA%20CRISTINA%20MIRANDA%20DA%20SILVA.pdf
Consulta realizada em 29 de agosto de 2008.
MIDDLETON, Richard. Studying Popular Music. Philadelphia Open University Press,
1990.
MORAES, José Geraldo Vinci de. “Os primeiros historiadores da música popular
urbana no Brasil” IN ArtCultura – Revista de História, Cultura e Arte I, v. 8 n. 13, JulDez – 2006: EDUF
NAPOLITANO, Marcos e WASSERMAN, Maria Clara. “Desde que o samba é samba:
a questão das origens no debate historiográfico sobre a música popular brasileira” In:
Revista Brasileira de História, vol. 20, n. 39. São Paulo, 2000.
NETTL, Bruno. The Study of Ethnomusicology. Urbana: University of Illinois Press,
1983.
OLIVEIRA, Samuel. “Heterogeneidades no choro: um estudo etnomusicológico”.
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ/EM, 2003.
PAES, Anna. “Encontro de Bambas” In: Pixinguinha na Pauta: 36 arranjos para o
programa o Pessoal da Velha Guarda. São Paulo: Imprensa Nacional e Instituto
Moreira Salles, 2010.
PAZ, Ermelinda. Jacob do Bandolim. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1997.
PERALTA, Elsa. “Abordagens teóricas ao estudo da memória social: uma resenha
crítica”. In: Arquivos da Memória: antropologia, escala e memória n. 2, 1997.
PEREIRA, Avelino Romero. “Música, sociedade e política: Alberto Nepomuceno e a
República Musical do Rio de Janeiro”. 1995. Dissertação (Mestrado em História) –
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
PINTO, Alexandre Gonçalves. O Choro. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1978.
RECHDAN, Maria Letícia de Almeida. Dialogismo ou Polifonia. Revista Ciências
Humanas, Taubaté, v. 9, n. 1, 1º semestre de 2003. Disponível em:
http://www.unitau.br/scripts/prppg/humanas/download/dialogismo-N1-2003.pdf>.
Acesso em agosto de 2010.
RIBEIRO, A. P. G. ; SACRAMENTO, I. . “Mikhail Bakhtin e os estudos da
comunicação”. In: Ana Paula Goulart Ribeiro e Igor Sacramento. (Org.). Mikhail
Bakhtin: linguagem, cultura e mídia. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010, v. 1, p.
9-34.
318
SAHLINS, Marshall David . Metáforas históricas e realidades míticas: estrutura nos
primórdios da história do reino das ilhas Sandwich. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,
2008.
SANDRONI, Carlos. Feitiço decente. Transformações do samba no Rio de Janeiro
(1917-1933). Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
SEEGER, Anthony. Why Suyá Sing: a musical anthropology of an Amazonian people.
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
_________________. “Styles of Musical Ethnography” In: Nettl, Bruno e Bohlman,
Philip, org.: Comparative Musicology and Anthropology of Music: Chicago University
Press, 1991.
SILVIA, Marília T. Barboza da, OLIVEIRA, A. L. de. Cartola – os tempos idos, Rio de
Janeiro, Funarte, 1989.
SOERENSEN, Claudiana. “A profusão temática em Mikhail Bakhtin: dialogismo,
polifonia e carnavalização”. In: Revista Travessias, Unioeste, vol. 3, n.1, 2009 (
http://www.unioeste.br/prppg/mestrados/letras/revistas/travessias/ed_005/artigos/lingua
gem/pdfs/A%20PROFUS%C3O.pdf, consulta realizada em agosto de 2010).
SOUZA, Miliandre Garcia de. “História Social da Música Popular Brasileira”, resenha.
Revista História: Questões e Debates, Curitiba, n. 34, p. 299-303, 2001. Editora UFPR.
TABORDA, Marcia Ermelindo. “Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro 18301930”. 2005. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ).
TINHORÃO, J.R. – História Social da Música Popular Brasileira. São Paulo: Ed. 34,
1998a.
______________; Música Popular, um tema em debate. Ed. 34, 1998b.
TRAVASSOS, Elizabeth. Os mandarins milagrosos: arte e etnografia em Mário de
Andrade e Béla Bártok. Rio de Janeiro: FUNARTE/Jorge Zahar, 1997.
_____________________. “Balanço da Etnomusicologia no Brasil”. Opus, Campinas,
v. 9, p. 66-77, 2003.
_____________________. “O moderno gosto das raízes: uma abordagem
etnomusicológica da mediação cultural”. Projeto de Pesquisa, 2006.
TREITLER, Leo. “The ‘Unwritten’ and ‘Written Transmission’ of Medieval Chant and
the Start-Up of Musical Notation”. In: The Journal of Musicology, vol. 10, n. 2 (1992):
131-191.
VASCONCELOS, Ary. Panorama da música popular brasileira; São Paulo: Livraria
Martins, 1964
319
___________________. Carinhoso, etc: História e Inventário do Choro. Rio de
Janeiro, editora do autor, 1961.
___________________. Panorama da música popular brasileira na belle époque. Rio
de Janeiro: Livraria Sant’Anna , 1977.
VERZONI, Marcelo. “Os primórdios do ‘choro’ no Rio de Janeiro”. Tese de
Doutorado. PPGM – UNIRIO, 2000.
VIANNA, Hermano. O mistério do samba. 6ª. Edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.:
Ed. UFRJ, 2007.
VILA, Pablo. “Identidades narrativas y musica. Uma primera propuesta para entender
sus relaciones. Revista Transcultural de Música. Disponível na web:
www.sibetrans.com, 1995.
VILHENA, Luís Rodolfo. Projeto e Missão: o movimento folclórico brasileiro 19471964. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1997.
WISNICK, José Miguel. “Getúlio da Paixão Cearense (Villa-Lobos e o Estado Novo)”
In: O nacional e o popular na cultura brasileira. Editora Brasiliense, 1982.
ZAN, Jorge Roberto. “Música popular brasileira, indústria cultural e identidade”. EccoS
revista científica, junho, ano/vol.3, número 001. São Paulo: Centro Universitário Nove
de Julho, 2001.
ZANARDI, Jadir. Benedito Lacerda: e a saudade ficou. Niterói: Muiraquitã, 2009.
320