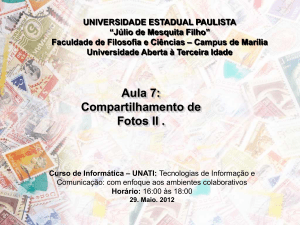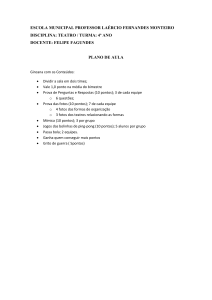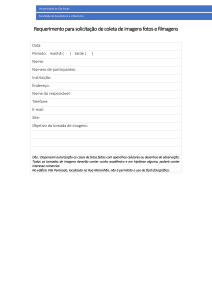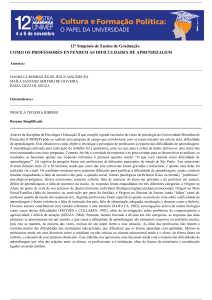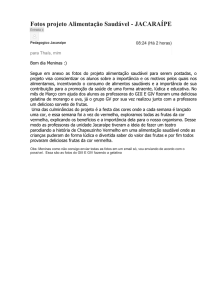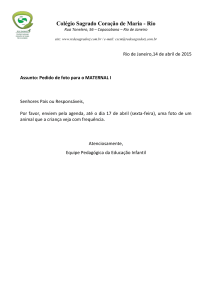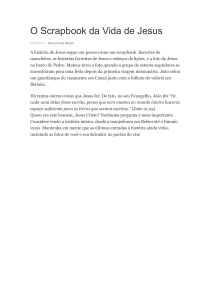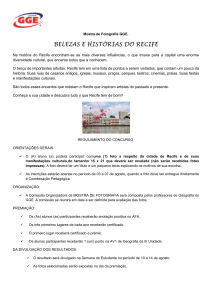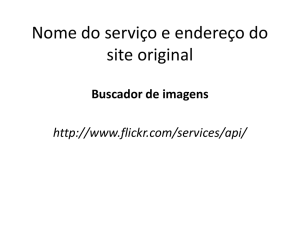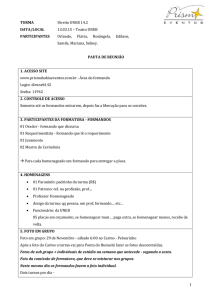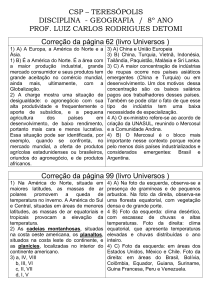6233
TEMPOS DE MEMÓRIA, ESPAÇOS DE VIDA: FOTOS DE PROFESSORAS DO INÍCIO DO
SÉCULO XX NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Ana Valéria de Figueiredo
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Universidade Estácio de Sá
Universidade Iguaçu
RESUMO
Imagem é comunicação. Desde a Pré-história, quando das marcas deixadas nas paredes, a imagem é objeto
de fascínio, de identidade, de mensagem. Na atualidade, mesmo virtual, criada num espaço-tempo de
concretude imaterial, a imagem é tradução de histórias, desejos e sedimentação de símbolos e ícones,
lugares de memórias... Civilização da imagem. Daguerreótipo, fotografia, cinema, televisão. Imagens que
cercam a vida de cada um, criando cadeias e tramas imaginárias e reais; intercambiáveis, redundantes e
emblemáticas, documentos de vida e trabalho. Uma imagem nunca é inocente retrato desprovido de
significação. É documento sociohistórico de uma época, de um lugar, de um grupo social. É formadora de
identidades que se forjam no cotidiano. Partindo desse pressuposto, investigar imagens é construir um
discurso visual de um determinado tempo-espaço, com uma história prenhe de significações explícitas,
tanto quanto simbólicas. Sob essa perspectiva, Aumont (2000: 78) sugere que a produção de imagens
jamais é gratuita, e desde sempre, as imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou
coletivos. Pode-se conceber uma imagem como instrumento mediador entre o espectador, ou seja, aquele
sujeito que olha a imagem, aquele para quem ela é feita (id., ib.); aquele que olha, e a realidade daquele
que a vive, enquanto frui. Embasada pela fruição imagética, neste ensaio parto da premissa que ao
trabalhar com as fotografias de professoras e alunos, estudo lugares de memória do magistério carioca do
início do século XX, com a idéia de que a instituição escola costurava a identidade pessoal e profissional
dessas mulheres e que esta expressão fotográfica também acabava por delinear um projeto pessoal e
profissional da profissão de professor. Desse modo, opero com a noção de “lugares de memória” tal qual
Pierre Nora (1993: 13) a descreve: como “restos”, como lugares que nascem e vivem do sentimento que
não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar
celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. Levandose em conta que memória é também identidade e projeto, é Velho (1999) com seu texto “Memória,
Identidade e Projeto” que vem dar sustentação à arquitetura de análise das fotos aqui apresentadas como
suportes de memória. Segundo este autor, é a associação entre projeto e memória que vai trazer
significação à identidade do indivíduo, constituindo também sua identidade social, no caso do estudo aqui
proposto, identidade profissional das professoras. Opto por estudar as fotos no sentido de série, o que no
dizer de Mauad (2004) é uma das maneiras de se trabalhar criticamente com este tipo de material, não
ficando limitado a um simples exemplar, rompendo com a homogeneidade, o que exige do pesquisador
uma atenção à polifonia, à circulação e ao consumo na produção das imagens. Tomo como fonte primária
para análise, documentos iconográficos, principalmente fotografias de professoras e alunos de escolas
públicas e particulares do município do Rio de Janeiro que situam-se no período que abrange as primeiras
décadas do século XX. Assim, agrego o texto às fotografias que abrangem, em sua grande parte, a década
de 1910, retratando escolas públicas, professoras e alunos do município de Rio de Janeiro. A breve análise
das fotografias presentes neste estudo levou em conta, de maneira geral, os seguintes pontos: a cronologia
das fotos; a organização das fotos em séries: fotos oficiais e não oficiais de turmas – alunos e professor;
fotos do cotidiano escolar – alunos e professor em atividades escolares diárias; fotos de sala de aula com a
presença/ sem a presença de professor; fotos dos ambientes escolares – dependências da escola, entorno da
escola, prédio da escola; a busca de dados, na literatura que descrevem a sociedade e a escola, os hábitos e
costumes pedagógicos e escolares do contexto da época estudada, que coexistem e se articulam entre si,
resultando em diversos códigos e significações sociais ali registrados pelas fotos. As fotografias dessa
6234
pesquisa preliminar foram-me gentilmente cedidas pelo Centro de Referência da Educação Pública do Rio
de Janeiro (CREP). São reproduções fotografadas (algumas) por Antônio Belandi (segundo os registros do
CREP), tendo como originais as fotos tiradas por Augusto Malta. Quando havia a referência explícita, na
própria foto, de que esta era de Malta, a legenda traz esta informação. Quando não havia certeza, não há o
dado do fotógrafo. É importante frisar que as fotos foram também arquivadas pelo CREP com a
permissão do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, pois há uma séria questão de direitos autorais
das fotos de Malta envolvendo o Arquivo e a família do fotógrafo.
TRABALHO COMPLETO
Imagem é comunicação. Desde a Pré-história, quando das marcas deixadas nas paredes, a imagem
é objeto de fascínio, de identidade, de mensagem. Na atualidade, mesmo virtual, criada num espaço-tempo
de concretude imaterial, a imagem é tradução de histórias, desejos e sedimentação de símbolos e ícones,
lugares de memórias...
Civilização da imagem. Daguerreótipo, fotografia, cinema, televisão. Imagens que cercam a vida
de cada um, criando cadeias e tramas imaginárias e reais; intercambiáveis, redundantes e emblemáticas,
documentos de vida e trabalho.
Uma imagem nunca é inocente retrato desprovido de significação. É documento sociohistórico de
uma época, de um lugar, de um grupo social. É formadora de identidades que se forjam no cotidiano.
Partindo desse pressuposto, investigar imagens é construir um discurso visual de um determinado tempoespaço, com uma história prenhe de significações explícitas, tanto quanto simbólicas.
Sob essa perspectiva, Aumont (2000: 78) sugere que “a produção de imagens jamais é gratuita, e
desde sempre, as imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos”. Pode-se
conceber uma imagem como instrumento mediador entre o espectador1, aquele que olha, e a realidade,
daquele que a vive enquanto frui.
Embasada pela fruição imagética, neste ensaio parto da premissa que ao trabalhar com as
fotografias de professoras2 e alunos, estudo lugares de memória do magistério carioca do início do século
XX, com a idéia de que a instituição escola costurava a identidade pessoal e profissional dessas mulheres
e que esta expressão fotográfica delineava um projeto, pessoal e profissional da profissão de professor.
Desse modo, opero com a noção de “lugares de memória”3 tal qual Pierre Nora (1993: 13) a
descreve: como “restos”, como lugares que “nascem e vivem do sentimento que não há memória
espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações,
pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais”.
Levando-se em conta que memória é também identidade e projeto, é Velho (1999) com seu texto
“Memória, Identidade e Projeto” que vem dar sustentação à arquitetura de análise das fotos aqui
apresentadas como suportes de memória. Segundo este autor, é a associação entre projeto e memória que
1
Segundo Aumont (2000: 14), espectador é “aquele sujeito que olha a imagem, aquele para quem ela é
feita”.
2
As fotografias aqui apresentadas foram-me gentilmente cedidas pelo Centro de Referência da Educação
Pública do Rio de Janeiro (CREP). São reproduções fotografadas (algumas) por Antônio Belandi (segundo
os registros do CREP), tendo como originais as fotos tiradas por Augusto Malta. Quando havia a
referência explícita, na própria foto, de que esta era de Malta, a legenda traz esta informação. Quando não
havia certeza, não há o dado do fotógrafo. É importante frisar que as fotos foram também arquivadas pelo
CREP com a permissão do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, pois há uma séria questão de
direitos autorais das fotos de Malta envolvendo o Arquivo e a família do fotógrafo.
3
Buscando um maior entendimento dessa noção de “lugares de memória”, Neves et al. (2005), em estudo
coletivo, avança, chamando-nos a atenção de que é importante operar com a idéia de que um lugar de
memória sempre o é de quem, de quê e de que época, pelo menos. Desta forma, pensar lugar de memória é
também poder particularizar e singularizar memórias e lembranças.
6235
vai trazer significação à identidade do indivíduo, constituindo também sua identidade social, no caso do
estudo aqui proposto, identidade profissional das professoras.
Opto por estudar as fotos no sentido de série, o que no dizer de Mauad (2004) é uma das maneiras
de se trabalhar criticamente com este tipo de material, não ficando limitado a um simples exemplar,
rompendo com a homogeneidade, o que exige do pesquisador uma atenção à polifonia, à circulação e ao
consumo na produção das imagens. Assim, agrego ao texto fotografias que abrangem, em sua grande
parte, a década de 1910, retratando escolas públicas, professoras e alunos do município de Rio de Janeiro.
Lugar de memória: de quê, de quem, para quê?
A foto acima é da placa comemorativa da fundação da Escola Municipal Gonçalves Dias4,
ocorrida em 1870. Quem lança a pedra fundamental da construção não é ninguém menos do que D. Pedro
II, Imperador do Brasil à época, o que denota a importância da fundação de uma escola. É o Imperador em
pessoa quem lança a prima petrus, sob a qual será erigido o edifício escolar.
Se pensarmos em Le Goff (2003: 525) quando disserta sobre os materiais da memória coletiva e
da História que, “de fato o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma
escolha efetuada [...]” (grifos meus), a placa fotografada parece ter o cunho, a intenção de demarcar uma
época, um acontecimento que deve ser lembrado. Fato que deve ficar tanto na memória das testemunhas
oculares da colocação da pedra, quanto daqueles que virão nas gerações posteriores, marcando a
grandiosidade do Imperador que por aqui um dia viveu e letrou o povo.
4
Segundo dados do CREP, a E. M. Gonçalves Dias funciona ainda hoje no Campo de São Cristóvão, no
bairro de mesmo nome.
6236
Para quem são construídas as escolas? Para a infância e a juventude, para o futuro!, dirão os
entusiastas, sem nenhuma dúvida. Eis que a fotografia é também documento social, segundo Freund
(1976), onde cada momento histórico presencia modos de expressão que correspondem ao caráter político,
às maneiras de pensar e aos gostos de cada época. Assim é que, na foto acima, de 1910, as crianças são a
parte mais expressiva da composição, figurando em destaque no plano da frente da foto5, ao passo que as
professoras e funcionários (provavelmente) da escola estão atrás. Ainda podemos estabelecer uma possível
relação: sendo um jardim de infância, qual o melhor lugar para se fotografar as “sementes do amanhã”
senão no próprio local onde estas podem florescer e crescer saudáveis?
Fotografar crianças em um jardim de infância é pensar o futuro; é pensar memória como projetos
“que situam o indivíduo, suas motivações e o significado de suas ações, dentro de uma conjuntura de vida,
5
Cf com Mauad (2004: 33), onde a autora faz uma classificação para a análise dos planos da forma de
expressão e enquadramentos de uma fotografia.
6237
na sucessão das etapas de sua trajetória” (Velho, 1999: 101). No caso da foto, projetos aliados às
trajetórias escolares individuais e coletivas, tanto das crianças, quanto das professoras.
Dentro da classe, crianças atentas aos olhos de quatro professoras. Será uma avaliação, uma aula
prática a qual uma das novatas está sendo submetida pelas veteranas? Será esta uma classe-modelo? Será
o material pedagógico uma recente inovação da prática pedagógica, símbolo da modernidade da
civilização? Há de se pensar na assertiva de Le Goff de que escolhe-se o que vai sobreviver; é opção de
corte para lembrar.
Aliado a este ponto de vista, Augusto Malta6, o autor da foto, foi durante um bom tempo fotógrafo
oficial da prefeitura do Rio de Janeiro7, o que pode suscitar a idéia de que dele era a incumbência de
registrar visualmente o que deveria ser oficialmente guardado para a posteridade. Modos oficiais de
conduta e de estar no mundo escolar exemplarmente...
Fazendo um contraponto entre a foto das crianças no jardim e a foto seguinte, cabe marcar a
distinção do local onde foram feitas: a das crianças, ao ar livre; a das professoras de frente para o
observador, em ambiente fechado, na sala de aula, para ser mais exata.
Portanto, serão, do domínio do espaço livre, sem amarras, as crianças, representantes “legítimas”
do porvir, do futuro que acena em um horizonte de expectativas (Koselleck, 1990)? Será, do domínio do
ofício de ser professora, o ambiente propício para exercer tal atividade, a sala de aula? Serão estes os
palácios da memória de seus súditos que os ocupam?
Ainda, se observarmos, as crianças encontram-se de frente para o espectador na imagem do jardim
de infância, enquanto que na foto da classe, elas estão de costas para quem olha e as professoras é que
estão de frente para os espectador. Nesse sentido, Freund (1976: 8) nos fala que a importância da
fotografia também se dá por esta ser um dos meios mais eficazes de moldar nossas idéias e de influenciar
em nosso comportamento.
Memória e projeto forjando identidades: “associam-se e articulam-se dando significado à vida e às
ações dos indivíduos, em outros termos, à própria identidade” (Velho, id.: 101). Desse modo podemos
pensar que as fotos como lugares de memória também indicam modos de ser e estar no mundo – ser aluno
e ser professora – identidades individuais e identidades profissionais.
Se repararmos mais atentamente a imagem, podemos ver as mesas das crianças, vazias, sem
nenhum material ou tarefa a ser realizada, o que reforça a idéia de que esta foto retrata uma situação
esteticamente preparada para ser exemplar, tanto no modo de condução de uma criança em sala de aula,
quanto de ser professora, zelosa pela ordem e conduta de si e de seus alunos.
De acordo com Velho (id.: 103), memória e projeto ordenam e dão significado às trajetórias
individuais e coletivas. Desse modo, memória e projeto existem como meios de comunicação e expressão,
de articulação de interesses, de objetivos, “sentimentos e aspirações para o mundo”. Portanto, um lugar de
memória é também lugar de comunicação de projetos e de maneiras de ser.
Maneiras de ser, modos de criança: comportadas, mesmo à beira do balanço, objeto para o lazer
entre as atividades escolares. O uniforme, imaculadamente branco, trazendo a idéia de que a escola é
6
Trago aqui um brevíssimo histórico profissional de Augusto Malta a título de esclarecimento de quem foi
considerado, pela voz corrente, um dos primeiros cronistas visuais da cidade do Rio de Janeiro: “Primeiro
fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro, contratado em 1903 para documentar as radicais
reformas urbanísticas promovidas pelo prefeito Pereira Passos, permanece nessa função até sua
aposentadoria, em 1936. Além de documentar as transformações por que passou a cidade, fotografou a
Exposição Nacional de 1908; a Exposição do Centenário da Independência e o desmonte do Morro do
Castelo, ambos em 1922; registrou diversos aspectos da vida carioca, como o carnaval de rua, a
prostituição da zona portuária, e ainda retratos de artistas, políticos e intelectuais”.
(www.itaucultural.org.br)
7
Na breve pesquisa que efetuei no CREP, pude perceber pelas séries de fotos que Malta às vezes passava
dois, três dias em uma determinada escola fotografando o ambiente físico, o material pedagógico, os
trabalhos realizados, alunos, professores e funcionários em atividades escolares, enfim, tudo o que pudesse
ficar registrado como destaque positivo da produção daquela instituição.
6238
também um ambiente higiênico8 e adequado ao bom crescimento; nos rostinhos, a vontade contida de
correr, pular, brincar, sem preocupações maiores com a desarrumação da cena montada para figurar
exemplarmente (foto a seguir).
Que lugar de memória seria esta foto para aqueles que estão nela e a apreciassem hoje?
Teríamos revividas as mesmas lembranças? Provavelmente não, posto que memória não é dado imutável.
Ao contrário, é sempre construção, interpretação da construção, de forma dinâmica e problemática. O que
se vê traz em si o sentido simbólico da memória que pode ser tocado pelo som “destas vozes que vêm do
passado” (Nora, 1993: 16), atualizadas e ouvidas no presente e pelo presente.
É Malta também o fotógrafo da próxima reprodução. O motivo da foto é também crianças no
jardim de infância da E. M. Marechal Hermes, em Botafogo, Rio de Janeiro. Porém, a foto difere da
anterior em pelo menos dois visíveis pontos: as crianças retratadas na foto de cima usam o uniforme claro;
e as crianças da foto abaixo, vestem um costume de cor escura por cima do uniforme. Outro ponto de
contraste é que as crianças do balanço (acima) não esboçam sequer um sorriso e olham para o espectador
apreensivas, enquanto que as da foto a seguir, algumas sorriem e fazem pose (estudada) para o fotógrafo.
8
Sobre o modelo higiênico e as formas escolares de educação, cf com o trabalho de Gondra ( 2004).
6239
Ao fundo, em pé no portão, uma criança fora dos muros da escola, observa a pose da turma fotografada.
Se memória é identidade e projeto, essa infância projetada dentro da escola é apenas uma das infâncias
possíveis. Este ponto pode ser lido de acordo com Velho (id.: 104), quando o autor nos chama a atenção
para a multiplicidade de projetos e de motivações que traz a possibilidade de contradições e de conflitos
entre os projetos individuais e coletivos.
Em outro ponto da cidade, no que hoje é o centro do Rio de Janeiro, esse projeto coletivo de
escola é também registrado para os arquivos da memória, por Augusto Malta. É o jardim de infância da
Escola Campos Salles.
Ao ar livre, a cena retrata o que parece ser um piquenique nos jardins da escola. Os pequerruchos,
ordeiramente sentados em suas cadeiras, compartilhando a boa mesa com seus pares. Ao fundo, as
professoras atentas e zelosas, guardiãs da integridade física e moral de seus alunos. Tais como as árvores e
seus troncos fortes, encontram-se firmes e vigilantes, mimetizando-se com a paisagem.
6240
O protagonismo da cena parece pertencer às crianças, em destaque num primeiro plano
fotográfico. O canteiro circular sugere que também as mesas são parte do jardim, assim como as crianças.
Aliado a essa possibilidade de leitura, Nóvoa (1991: 12) nos conta que a gênese e o desenvolvimento do
modelo escolar é um processo longo, gestado entre as relações sociais, entre diferentes representações e
orientações. Assim é que, segundo o autor, a partir do século XVII-XIX vem sendo efetivada uma série de
normas que dizem respeito ao uso do corpo como distinção social.
A “civilização dos costumes”, conforme Elias (segundo Nóvoa), impõe a internalização de
regras de conduta e moral no trato social e, entre estas, as regras da boa educação à mesa não deixariam de
estar incluídas.
Pensando sob essa perspectiva, não parece ser à toa que o piquenique se dá ao ar livre com a
utilização de mesas e cadeiras para a apreciação do lanche. Ainda, a infância sendo vista partir de uma
nova concepção, enquanto “classe de idade diferenciada, que se torna centro de atenção e de preocupação”
(Nóvoa, id.: 113), o mobiliário parece ter sido confeccionado de acordo com o tamanho e a especificidade
de quem o está usando: cadeiras e mesas pequenas para pessoas em desenvolvimento.
Nesse sentido, Nóvoa (id: 109) fala de que a memória funciona como um
“verdadeiro código social que mantém a integridade do sistema social e da
ordem, que reforça a identidade do grupo, que regula as trocas entre os
diferentes grupos sociais. Este código social não é imutável; ele está, pelo
contrário, sujeito à mudanças permanentes devidas à evolução e aos eventos
sociais, às modificações do ambiente e também às circunstâncias próprias a seu
processo de reprodução”. (grifos do autor)
Pensando9 a fotografia como lugar de memória do magistério, entendendo memória como
projeto, e projeto como campo de possibilidades à maneira de Velho (1999: 46), é este autor que auxilia
9
Acima um outro ângulo da mesma atividade, com a legenda na própria foto, conservando a grafia
original da época.
6241
quando acena que “os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um campo de
possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas culturais
compartilhados por universos específicos”. Sob esse ponto de vista, se concebermos que havia um projeto
para as crianças, entenderemos porque estas foram retratadas tão amiúde.
Memória é trabalho. E por sê-lo, “entretece uma trama intrincada de coordenadas que a
constituem como um campo de forças já que nela se entrecruzam passado e presente; espaços e tempos;
registro e invenção; o individual e o social; anamnese e prospecção; perenidade e volatilidade [...]”
(Neves, 2000: 12). Nesse sentido, ser lugar de memória do magistério é também configurar uma
identidade profissional que se forja nas relações cotidianas do trabalho.
Eis o material empírico do trabalho docente: alunos e a lousa, ao fundo. É o que mostra a foto
acima. Emoldurando a fotografia, as professoras guardam os flancos da turma, como que demarcando o
espaço de ocupação das crianças para que este não seja violado. Vinte e seis alminhas em classe com seus
dois “anjos da guarda”, zelosos e que olham diretamente para quem os admira.
A quem olham senão ao fotógrafo, no momento do clique da câmara? Qual o horizonte de
expectativas que almejam, a partir do seu campo experiências (Koselleck, id.)? Lugares de memória do
futuro...
Assim como Lowenthal (1998) assinala, tomamos conhecimento do passado lembrando das
coisas, das histórias que lemos e ouvimos, pelas relíquias as quais temos acesso. “O passado é um país
estrangeiro”, adverte o autor. Nesse sentido, serão as imagens passaportes para que possamos adentrar
esse lugar, que é também lugar de memória e esquecimento?
A imagem tem caráter pedagógico: modas de meninas, modos de meninos, identidades de
professoras. A imagem é de lugar de memória: tem sentido físico; é funcional; é simbólica (Nora, 1993).
6242
A imagem é memória, identidade e projeto. A imagem é a contraface do esquecimento. É vida vivida, é
“educação pela memória” (Neves, 2000).
Referências bibliográficas
AUMONT, J. A Imagem. Campinas, SP: Papirus, 2000.
FREUND, G. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo Gili SA, 1976.
GONDRA, J. G. Artes de civilizar. Medicina, higiene e educação escolar na Corte Imperial. Rio de
Janeiro: EdUERJ, 2004.
LE GOFF, J. História e Memória. Campinas, SP: Unicamp, 2003.
KOSELLECK, R. Champs d´expérience et horizon d’attente. Deux catégories historiques. In : Le Futur
passé. Paris: EHESC, 1990. p. 307-329.
LOWENTHAL, D. Como conhecemos o passado. In: Revista Projeto História, 17. Trabalhos da memória.
São Paulo, PUC-SP – Programa de Pós-graduação em História, nov. 1998. p. 63-201.
MAUAD, A . M. Fotografia e História – possibilidades de análise. In: CIAVATTA, M. e ALVES, N.
(orgs). A leitura de imagens na pesquisa social. História, Comunicação e Educação. São Paulo: Cortez,
2004. p. 19-36.
NEVES, M. S. A educação pela memória. In: Teias: Revista da Faculdade de Educação/ UERJ, 1, 2000, p.
9-15. Rio de Janeiro.
_____________ et al. Notas de aula: curso Tempo e História: memória e lugares de memória. Rio de
Janeiro: PUC-Rio, 2005.
NORA, P. Entre memória e História. A problemática dos lugares de memória. In: Revista Projeto
História, 10. História e Cultura. São Paulo, PUC-SP – Programa de Pós-graduação em História, dez. 1993.
p. 7-26.
NÓVOA, A. Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da profissão docente. In: Teoria
& Educação, 4, 1991, p. 109-119. Porto Alegre: Pannonica