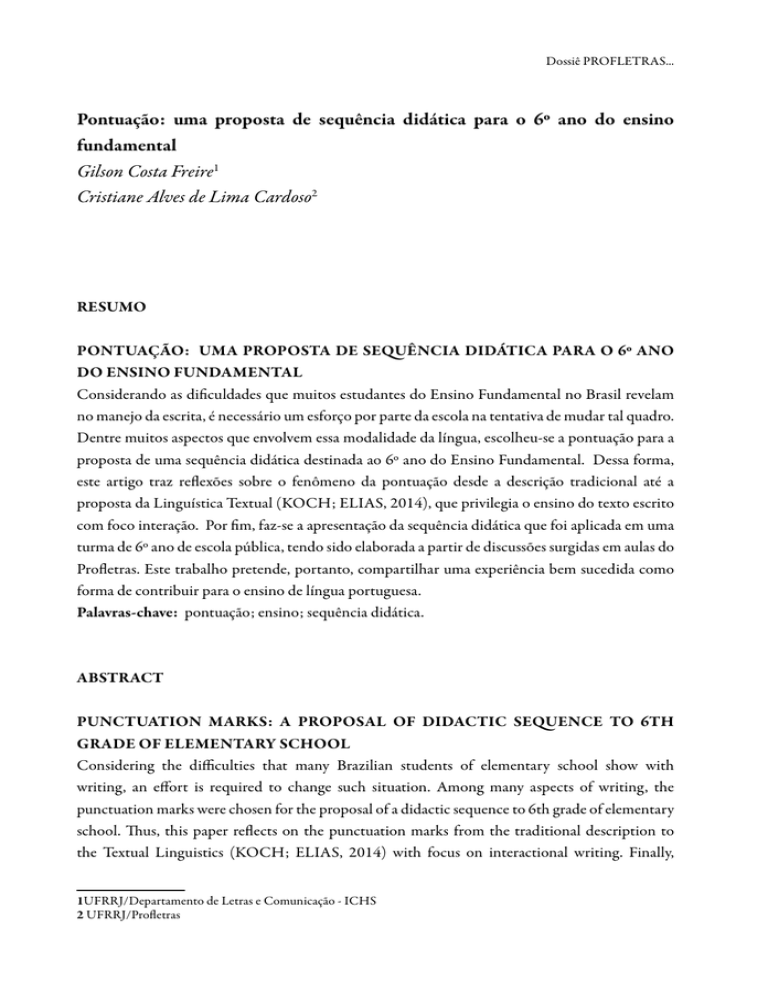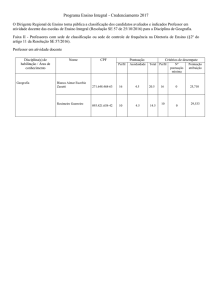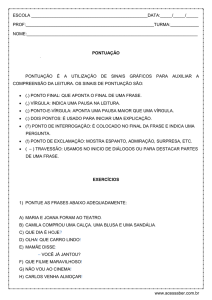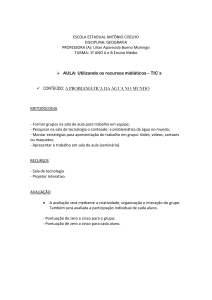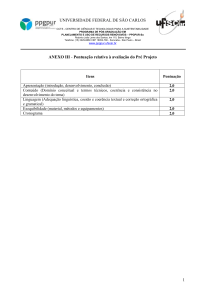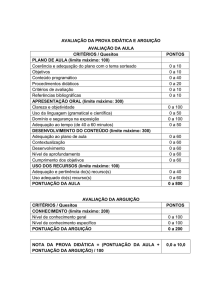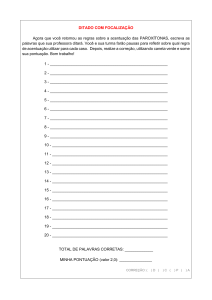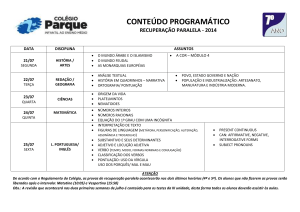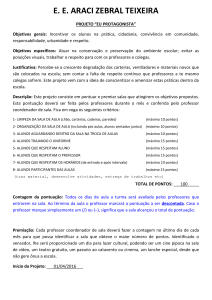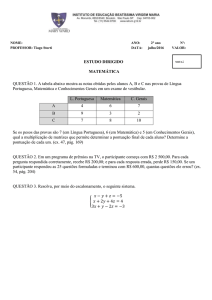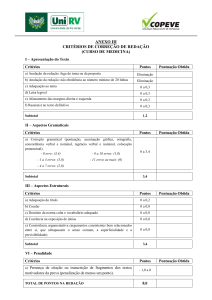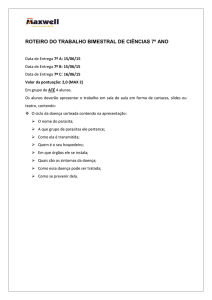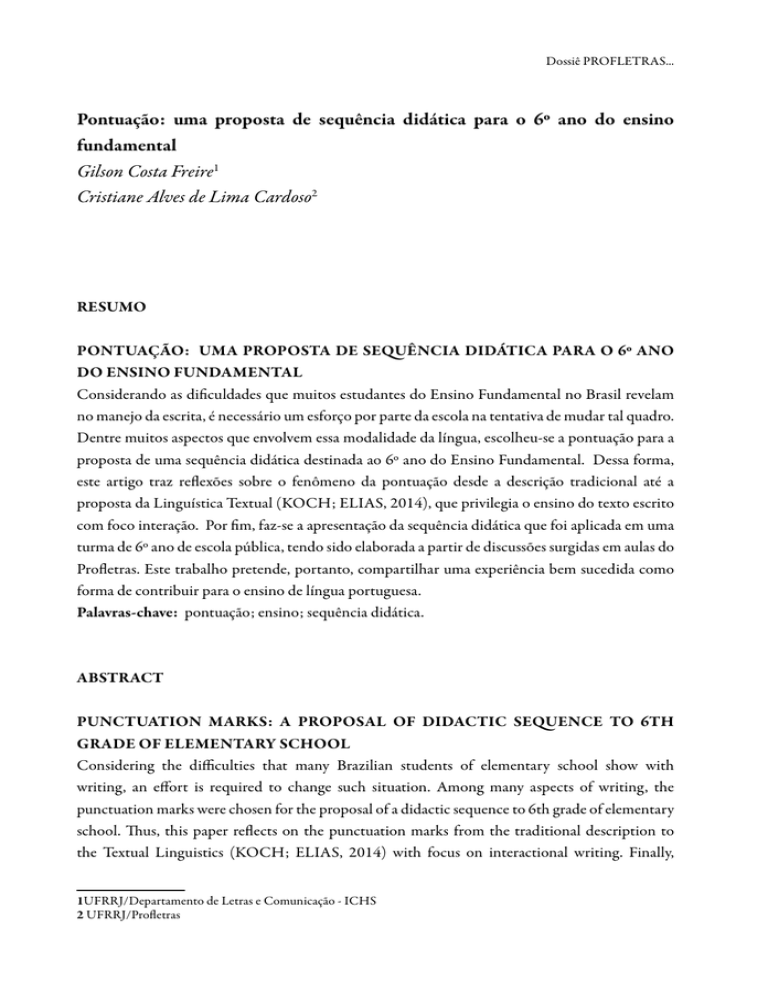
Dossiê PROFLETRAS...
Pontuação: uma proposta de sequência didática para o 6º ano do ensino
fundamental
Gilson Costa Freire1
Cristiane Alves de Lima Cardoso2
RESUMO
Pontuação: uma proposta de sequência didática para o 6º ano
do ensino fundamental
Considerando as dificuldades que muitos estudantes do Ensino Fundamental no Brasil revelam
no manejo da escrita, é necessário um esforço por parte da escola na tentativa de mudar tal quadro.
Dentre muitos aspectos que envolvem essa modalidade da língua, escolheu-se a pontuação para a
proposta de uma sequência didática destinada ao 6º ano do Ensino Fundamental. Dessa forma,
este artigo traz reflexões sobre o fenômeno da pontuação desde a descrição tradicional até a
proposta da Linguística Textual (KOCH; ELIAS, 2014), que privilegia o ensino do texto escrito
com foco interação. Por fim, faz-se a apresentação da sequência didática que foi aplicada em uma
turma de 6º ano de escola pública, tendo sido elaborada a partir de discussões surgidas em aulas do
Profletras. Este trabalho pretende, portanto, compartilhar uma experiência bem sucedida como
forma de contribuir para o ensino de língua portuguesa.
Palavras-chave: pontuação; ensino; sequência didática.
ABSTRACT
Punctuation marks: a proposal of didactic sequence to 6th
grade of elementary school
Considering the difficulties that many Brazilian students of elementary school show with
writing, an effort is required to change such situation. Among many aspects of writing, the
punctuation marks were chosen for the proposal of a didactic sequence to 6th grade of elementary
school. Thus, this paper reflects on the punctuation marks from the traditional description to
the Textual Linguistics (KOCH; ELIAS, 2014) with focus on interactional writing. Finally,
1UFRRJ/Departamento de Letras e Comunicação - ICHS
2 UFRRJ/Profletras
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
it is presented the didactic sequence that was applied to a class of public school. The didactic
sequence was drawn from discussions that arose in the Profletras classes. Therefore, this paper
aims to share successful experience as a contribution to the Portuguese language teaching.
Key words: punctuation marks; teaching; didactic sequence.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz uma proposta de sequência didática voltada para o 6º ano do Ensino
Fundamental (EF) sobre pontuação, a partir de reflexões proporcionadas pela disciplina Ensino
da escrita, didatização e avaliação, ministrada em turma do Programa de Mestrado Profissional
em Letras (Profletras), oferecido na UFRRJ, instituição que integra a rede nacional do programa.
Essa disciplina mostrou-se reveladora no sentido de ampliar a visão dos mestrandos-docentes não
apenas sobre o que ensinar, mas também sobre como trabalhar com a escrita, o que vai muito além do mero
ensino de características de gêneros textuais. Registre-se que a sequência didática aqui proposta
foi aplicada em escola pública municipal, obtendo resultados satisfatórios, o que impulsionou o
propósito de socializá-la neste artigo.
Por sua vez, o trabalho com a escrita é um processo que inicia na alfabetização, estende-se pelos anos
escolares e acompanha o indivíduo letrado por toda a vida. Sempre há algo a aprender, porque, sendo
a língua um patrimônio cultural vivo, ela evolui com a própria humanidade, de modo que até mesmo
os professores de língua materna ainda deparam com fragilidades em sua escrita para as demandas que se
apresentam, seja em virtude da complexidade típica dessa modalidade da língua, seja pelo advento de
novas tecnologias.
De acordo com relatos de diversos colegas professores que trabalham com o segundo segmento do EF
em escolas públicas municipais e estaduais, o nível de conhecimento da modalidade escrita por parte
da maioria dos alunos ingressantes não é o esperado para essa etapa escolar. Muitos ainda se encontram
em processo de alfabetização, e há aqueles que nem a esse ponto chegaram. Assim sendo, é preciso
que o professor de língua portuguesa encare a série inicial dessa etapa — 6° ano — como uma fase
de transição, na qual é necessário dar continuidade ao trabalho de base, porém com um tratamento
pedagógico mais contextualizado das práticas de leitura/escrita, que permita aos alunos ação e reflexão
sobre a linguagem, conforme as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998).
Dentre muitos aspectos da língua escrita, a sequência didática aqui proposta aborda um aspecto de
indiscutível importância e de escassa (ou nenhuma) utilização por alunos de 6° ano: a pontuação. Mais
do que um grupo de símbolos gráficos coadjuvantes às letras, ela é essencial à estruturação e à progressão
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
8
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
do texto escrito, podendo ser considerada um dos fatores determinantes para a coesão dos enunciados,
pois, além de imprimir na escrita o ritmo e a entonação que ocorrem naturalmente na língua oral, garante a
organização sintática adequada à compreensão de sentidos pretendidos pelo enunciador.
Uma sequência didática com foco na pontuação, para ser mais adequada/produtiva, deve articular
diferentes atividades de maneira contextualizada e progressiva, de acordo com a real necessidade dos
alunos, conduzindo a um ponto de chegada tudo aquilo que foi produzido. Para isso, é necessário
aliar a experiência adquirida ao longo da prática pedagógica a um suporte teórico-metodológico
que fundamente, pelas pesquisas desenvolvidas na área da linguagem, as ações propostas em sala de
aula. Por conseguinte, este artigo subdivide-se em duas partes, teórica e prática, com o resgate de alguns
suportes teórico-metodológicos e a apresentação da sequência didática em questão, conforme mostram
as seções seguintes.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Diante dos desafios do ensino na realidade brasileira, os professores especialistas de língua portuguesa,
no exercício de seu ofício, precisam realizar duas buscas diante do objeto de ensino, que, neste caso, é
a própria língua portuguesa: uma compreensão mais ampla do fato linguístico a ser trabalhado e a
seleção das estratégias mais adequadas à realidade que os cerca. Assim, esta seção apresenta de maneira
objetiva o arcabouço teórico e metodológico que norteará o planejamento da sequência didática sobre
pontuação para o 6º ano do EF.
Pontuação: da tradição gramatical aos estudos linguísticos
É sabido que a pontuação é uma convenção gráfica importantíssima para a compreensão do texto, pois é
através de seus diversos sinais que se reproduzem o ritmo e a entonação típicos da oralidade. Mas ela vai
muito além disso, conforme será mostrado nesta seção. Em vista dos limites deste artigo, serão apresentadas
sucintamente as descrições a respeito do assunto desde a gramática tradicional, passando por diferentes
estudiosos, até chegar à abordagem da Linguística Textual.
Em sua Moderna Gramática Portuguesa, Bechara (2009), com base na obra de Nina Catach (1994),
apresenta interessantes aspectos sobre a pontuação, a começar pela compreensão de que ela é um “sistema
de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, destinados a organizar as relações e a proporção das
partes do discurso e das pausas orais e escritas. Estes sinais também participam de todas as funções da
sintaxe, gramaticais, entonacionais e semânticas” (CATACH apud BECHARA, 2009: 604).
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
9
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
Outra compreensão significativa é que a pontuação abrange duas dimensões: uma larga e outra restrita. A
primeira diz respeito aos sinais propriamente ditos e também a outros elementos de valorização do texto
(título, margens, espaços, caracteres etc.). Já a segunda se restringe aos sinais gráficos que se dividem em
separadores (vírgula, ponto e vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências)
e sinais de comunicação (dois-pontos, aspas simples e duplas, travessão simples e duplo, parênteses,
colchetes, chaves). Há ainda uma subdivisão dos sinais de pontuação conforme o tipo de pausa (conclusa
ou inconclusa), assim como uma distribuição deles em três domínios de função, tendo em vista que não se
aplicam igualmente a todas as atividades linguísticas: (a) a pontuação de palavras, que abrange as marcas
no nível da palavra, como espaços em branco, letra maiúscula, ponto abreviativo, hífen, traço de união,
apóstrofo, sublinhado, itálico; (b) a pontuação sintática e comunicativa, ou seja, aquela que se costuma
ensinar; (c) a pontuação do texto, que é o conjunto de técnicas visuais interiores e exteriores ao texto, com
vistas à organização e valoração do objeto livro.
Essas informações e classificações, que interessam especificamente ao professor, são pertinentes na medida
em que nos ampliam a visão do que vem a ser pontuação e como esta se apresenta em diferentes níveis
e funções. Assim, ela está presente não somente no interior ou final dos períodos, mas na separação
silábica para translineação, na formação de palavras compostas ou de expressões com apóstrofos, no uso de
maiúsculas iniciais e no espaçamento dos parágrafos.
Bechara (2009) refere-se ainda à pontuação como elemento “sedimentador” dos princípios de
dependência/independência sintática e semântica que regem os enunciados, promovendo o que chama
de “solidariedade” na construção do texto escrito. Sua ausência ou uso errôneo podem produzir efeitos
incômodos para o leitor, sendo desastrosos ao processo de comunicação.
Essa noção da importância do uso adequado da pontuação na formação dos textos, paralelamente ao
uso das palavras, merece maior atenção, estímulo e acompanhamento do professor, tendo em vista a
complexidade que o assunto envolve por causa de algumas propriedades. Podemos destacar, entre as
citadas por Rocha (1997), a propriedade fundamental da pontuação: o fato de não ser pronunciada, ou
seja, os sinais são signos gráficos sem correspondência fonêmica (cf. PERROT, 1980). Outro aspecto
verificado é que não há biunivocidade perfeita entre tipo de pontuante e função. Os mesmos sinais podem
assumir diferentes funções, de maneira que, quanto mais funções eles acumulam, mais difícil se torna seu
uso. Sinais polivalentes, como é o caso da vírgula, são os de emprego mais problemático.
Dificuldades aparecem também no limite entre os sinais [.] [:] [,] [;], o que gera uma imprecisão em seu
uso. Segundo Rocha (op. cit.), historicamente, a marca de limite mais distintiva, palavras e frases, foi a
primeira a ser introduzida: palavras delimitadas por espaços e frases por pontos finais. Em seguida, foram
introduzidos no sistema de escrita os dois-pontos e a vírgula. Para limites mais frágeis usa-se a virgula; para
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
10
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
limites mais fortes, os dois pontos. Ambos podem ser usados para separar orações. A vírgula também é
usada para separar palavras, dependendo das circunstâncias, como num pensamento posterior, ou numa
lista. Uma distinção muito tardia foi feita entre dois-pontos e ponto e vírgula, assumindo o primeiro uma
especial implicação catafórica (referência para adiante).
Outra questão complexa, geradora de um debate secular e inconcluso, é a discussão sobre o que determina
a pontuação: a gramática ou a fonologia. Em seu estudo sobre as flutuações no modo de pontuar, Rocha
(1998) relata que até boa parte do século XIX a pontuação era usada para demarcar aspectos da oralização.
Por isso, é frequente a ocorrência de violações gramaticais em textos dessa época, como o uso de vírgula entre
sujeito e predicado, já que esse sinal corresponderia a uma pausa comum na linguagem oral. Neste caso, a
função primária da pontuação seria assinalar a prosódia (ritmo, padrões de altura, acento e hesitações) que
os autores têm em mente quando escrevem, como se fosse possível “ouvir” o escrito, o que vai ao encontro
da afirmação de Chafe (1987) de que a linguagem escrita envolve uma imagem mental do som.
Por outro lado, há abordagens que se contrapõem a essa relação direta do ato de pontuar com a oralidade,
argumentando que o sistema gráfico não é uma mera reprodução do sistema fônico, mas um sistema
parcialmente autônomo, dotado de gramática própria (cf. SIMONE, 1991). Baker (1985) fala de dois
sistemas de pontuação: o sistema fechado (rígido), que manifesta a estrutura gramatical da frase; e o sistema
aberto (livre), que tenta captar a expressividade da fala. Por sua vez, Smith (1982: 156) enfatiza a relação
da pontuação com a significação e a gramática, desconsiderando os sons da fala. Para ele, a pontuação
marca como o sentido evolui no texto, permitindo conectar e encaixar significados.
Em vista dessas considerações, Rocha (1997) entende que vigoram duas formas de interpretar a questão:
uma que vê a pontuação, dentro do sistema geral da escrita, como desvinculada da fala; outra que considera
a pontuação, como elemento do sistema gráfico, sujeito também a influências da oralidade.
A partir desse brevíssimo apanhado, percebe-se que, embora tenham surgido com a função primordial
de indicar as pausas de respiração e a devida entonação para a leitura oralizada, os sinais de pontuação
evoluíram com a expansão da escrita e não se limitam mais a essa tarefa nos dias atuais. Hoje eles devem ser
reconhecidos como recursos linguísticos necessários à construção da textualidade, com funções diversas:
prosódicas, sintáticas, semânticas, discursivas e estilísticas.
Uma vez revisitado o tema segundo a tradição gramatical e a opinião dos autores supracitados, passa-se a
tratar da pontuação segundo uma das propostas da Linguística Textual, a saber: com foco na interação.
Assim, a primeira e mais importante concepção a ser adotada diz respeito à maneira como a escrita deve
ser vista em sala de aula. Koch & Elias (2014) descrevem três formas de encarar o trabalho com essa
modalidade: com foco na língua, com foco no escritor ou com foco na interação. A concepção que
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
11
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
enfatiza o conhecimento da língua considera a escrita o produto de um sistema pronto, bastando ao
escritor somente saber utilizá-lo para que seja capaz de produzir textos. A segunda concepção confere ao
escritor o poder absoluto sobre a ação de escrever, e o texto, visto também como produto, é a representação
literal de seus pensamentos. Já a terceira concepção reconhece a escrita como um processo de produção
textual, que exige do escritor a ativação de conhecimentos e a escolha de estratégias diversas. Isso implica
necessariamente uma interação entre quem vai dizer, o que vai dizer e para quem vai dizer. Nessa concepção,
tanto escritor quanto leitor são considerados construtores, pois interferem dialogicamente no texto, cuja
produção só pode ser compreendida segundo o contexto sociocognitivo em que se insere.
Aludindo a cada uma dessas concepções, Gomes-Santos (2010), em sua abordagem sobre escrita e trabalho
docente, reconstitui determinadas práticas de ensino da escrita, começando pela composição, que se associa
à expressão estética; a redação, que concebe o ato de escrever ao de expor/argumentar, e a produção textual,
que enfatiza o caráter processual da atividade escrita, destacando as diversas condições envolvidas em tal
atividade (finalidade, interlocutores, suporte material, entre outras).
Comparando, então, essas formas de concepção da escrita em sala de aula, podemos concluir que a visão
mais acertada é a que considera o ato de escrever um processo, que se desenvolve através da sequência
gradativa de atividades. Igual posição assumem Santos et al. (2012, p. 99), quando afirmam que “é
importante, na escola, trabalhar a produção textual numa visão interacional e reflexiva do ensino de língua
portuguesa, das competências comunicativas, da língua em seu funcionamento a partir das condições de
produção e recepção.”
Por conseguinte, é através do processo de produção textual que os fenômenos linguísticos devem ser
estudados e exercitados, o que evidentemente inclui o caso da pontuação. Componentes das operações
de textualização, os sinais de pontuação são essencialmente traços de conexão e de segmentação do texto
escrito, contribuindo, desse modo, na construção da coesão e da coerência textuais. Nesse sentido, são
de importância fundamental na compreensão e na produção de textos, capacidades estas consideradas
centrais no desenvolvimento da competência comunicativa dos usuários da língua. Sendo assim, é
necessário reconhecer que os sinais de pontuação estão em estreita conexão com os próprios gêneros
textuais, uma vez que estes possuem peculiaridades no modo de pontuar e, nesse sentido, é fundamental
que o ensino da pontuação esteja também a eles vinculado.
Os PCN de Língua Portuguesa (1998) alertam que a criação de contextos efetivos de uso da linguagem
é necessária, mas não suficiente para ampliar a competência discursiva dos alunos. O documento
recomenda, dessa forma, a realização de atividades epilinguísticas (experiências de exploração da língua)
e metalinguísticas (observação, descrição e categorização) que levem à reflexão dos alunos sobre a
língua e suas propriedades. Tais atividades devem ser desenvolvidas por meio de alguns procedimentos
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
12
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
metodológicos fundamentais no planejamento da análise linguística: isolamento do fato linguístico
tomando como ponto de partida as capacidades já dominadas pelos alunos; construção de um corpus
que possibilite a observação das regularidades; organização e registro das conclusões; apresentação da
metalinguagem; exercitação do conteúdo estudado e realização de atividades mais complexas, envolvendo
leitura e produção de textos orais e escritos.
Ainda segundo os PCN, um aspecto essencial da prática de análise linguística é a refacção dos textos
dos alunos, que pode acontecer na etapa final de uma sequência didática para avaliação com a turma
dos conhecimentos adquiridos, ou servir de ponto de partida para outro fenômeno a ser estudado. Em
capítulo dedicado à avaliação e à reescrita de textos escolares, Suassuna (2014) propõe que o olhar do
professor sobre a produção do aluno não seja apenas identificador de problemas textuais, mas propiciador
de oportunidades de levar a turma a refletir coletivamente sobre a escrita. Por meio de uma mediação
“provocativa” do professor, com perguntas sobre determinados aspectos do texto que ele considere
merecedores de intervenção, os alunos assumem o papel de leitores críticos dos próprios textos, expressando
seus conhecimentos e suas dúvidas. Assim, numa dinâmica de deslocamento de paradigmas, em que o
texto se torna objeto de estudo, foi construída a sequência didática aqui proposta, mas, antes, necessário se
faz tecer algumas considerações sobre a concepção dessa metodologia de ensino.
O ensino de língua por meio de sequências didáticas
As sequências didáticas foram concebidas na Universidade de Genebra, a partir de 1985, e desenvolvidas
principalmente por Schneuwly e Dolz (1997; 1998), na Suíça. O processo de ensino com as sequências
se opõe ao processo didático clássico, que se centrava, primeiro, no domínio do código (estruturação
gramatical), postulando que, só a seguir, esse domínio permitiria abordar atividades de expressão ou de
redação. Com as sequências, procurou-se articular intimamente os processos de expressão e de estruturação,
colocando-se os segundos a serviço dos primeiros. Todas as sequências começam e terminam com
atividades de produção (e de reconhecimento) textual. Já as diversas aprendizagens linguísticas, a serem
feitas com exercícios reunidos em módulos intermediários, são escolhidas à medida que puderem servir de
apoio técnico às capacidades de expressão. A elaboração dessas sequências se caracterizou, portanto, por
uma preocupação com a necessária racionalização dos meios de ensino.
No Brasil, a denominação sequência didática (SD) surgiu a partir da publicação dos PCN (1998), quando
abordam, ainda que timidamente, a noção de “atividades sequenciadas” no tratamento dos conteúdos.
Bronckart (2004) constatou que fazer intervenções por meio de SD conduz a importantes transformações
das atitudes pedagógicas, constituindo um excelente meio de formação de professores. Por outro lado,
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
13
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
favorece a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das situações de comunicação. Diversos
pesquisadores já apontaram os benefícios das interações escritas ou orais nas produções dos estudantes,
entre estes Ruiz (2001) e Gonçalves (2007).
Com base nessas orientações metodológicas, que apresentam muitos pontos em comum, é possível
planejar uma sequência didática através da qual se trabalhe, prioritária, mas não exclusivamente, o tema
pontuação, tendo em vista as razões explicitadas de início. Vale ressaltar que os sinais serão contemplados
de forma gradativa, partindo dos usos mais conhecidos para os de menor domínio, considerando as
necessidades dos alunos no nível em que se encontram. As ações pensadas procuram trilhar os caminhos
já desbravados pelos autores e documentos oficiais pesquisados, carregando, contudo, a bagagem recebida
pelos anos de experiência na regência de turmas.
APRESENTAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
A sequência didática descrita nesta seção foi aplicada em uma turma de 6º ano, na Escola Municipal
Professor Romeu Menezes dos Santos, pela professora-mestranda coautora deste artigo.
Conteúdo: Pontuação
Público alvo: 6° ano do EF
Tempo previsto: 4 aulas (com dois tempos em cada)
Objetivo geral: Reconhecer a importância do uso adequado dos sinais de pontuação como mecanismos
necessários à coerência e à coesão textuais, procurando aplicá-la em sua produção textual.
Objetivos específicos:
a) Reconhecer que a falta ou a inadequação da pontuação traz dificuldades para a compreensão do leitor.
b) Distinguir as funções básicas dos sinais de pontuação mais comuns.
c) Relacionar o emprego de determinados sinais de pontuação à respectiva entonação na modalidade oral.
d) Reconhecer que a pontuação pode ser usada também como recurso estilístico.
e) Empregar sinais de pontuação básicos em textos próprios.
Descrição das atividades
1ª etapa: Ponto de partida
A atividade inicial foi a apresentação em data-show (onde não se dispõe desse recurso, pode-se fazer isso
no quadro de giz) de uma produção textual de aluno a qual continha problemas de pontuação. O texto
abaixo exemplificado foi produzido a partir de uma solicitação para expor opinião sobre a escola em uma
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
14
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
carta endereçada à direção. O autor é aluno de uma turma do 6° ano do EF da Escola onde foi aplicada
a sequência didática aqui proposta. Obviamente, a autoria do texto utilizado foi omitida na sala de aula,
para não gerar comentários que oferecessem constrangimentos.
TEXTO 1
(N., estudante do 6º ano do EF da Escola Municipal Professor Menezes dos Santos, Duque de Caxias - RJ)
Após a leitura em voz alta pela professora, da maneira como foi escrito, foram feitas perguntas sobre o que
os alunos acharam do texto, se entenderam todas as partes, se a leitura correspondeu ao que o autor quis
dizer e o que poderia estar prejudicando a leitura adequada. Nesse momento esperou-se que alguns alunos
identificassem a falta de pontuação. Como o texto continha outros desvios em relação à variedade padrão,
alguns alunos os destacaram, tendo a professora considerado esses comentários, mas procurado não sair do
foco. Reconhecido o “problema” pretendido pela sequência didática, os alunos foram incentivados a fazer
uma nova leitura, com o desafio de pontuar o texto. Em seguida, a professora falou sobre a importância
da pontuação, trabalhando o clássico texto O Testamento, o que constituiu uma ótima oportunidade para
tratar da escrita como meio de interação: quem escreve (sobrinho, irmã, mecânico, juiz...) e para que
propósito escreve:
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
15
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
TEXTO 2
Para fomentar a curiosidade e oportunizar antecipações das possibilidades de pontuação, a professora
apresentou apenas a primeira parte da história, usando o mesmo suporte do texto anterior para visualização
coletiva. Após essa atividade interativa, os alunos receberam uma cópia do texto integral, para que
conhecessem o desenrolar dos fatos a partir do uso da pontuação. A leitura oral da frase com diferentes
pontuações foi estimulada, assim como a observação das diferenças entre as versões. Nesse momento, a
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
16
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
professora pôde questionar os nomes dos sinais e a função que estavam exercendo no texto. Para finalizar
a etapa, a professora solicitou que os alunos colassem o texto trabalhado no caderno e fizessem um breve
registro da aula, do assunto e de suas conclusões. Tal tarefa foi passada para ser cumprida em casa.
2ª etapa: Desenvolvimento do conteúdo e aplicação de atividades
No segundo momento da sequência, a professora retomou o assunto através da leitura, feita pelos próprios
alunos, dos resumos sobre a aula anterior. A partir daí, o assunto foi sistematizado, sempre abordado
por meio de textos. A exposição destes foi por projeção, mas é possível adaptá-los em tamanho ofício e
distribuir a duplas ou trios. Os sinais foram estudados conforme sua ocorrência nos textos, numa ordem
que partiu dos mais conhecidos para os mais complexos e dos textos menores para os maiores. O texto
3 foi usado para apresentar o ponto final e os dois-pontos. Trata-se de uma tira de humor, que mistura
linguagens verbal e não verbal, o que favorece a atenção e a reflexão. A partir das respostas dos alunos
sobre a pontuação usada em cada texto, a professora registrou no quadro as informações mais importantes,
numa espécie de síntese coletiva. Esse deslocamento na abordagem, começando com a leitura de textos
enriquecedores e provocando reflexões de forma dialógica até que os alunos cheguem às constatações
pretendidas, garantiu maior aproveitamento da aula.
TEXTO 3
Disponível em <http://entrandoemtira.blogspot.com.br/2010/08/omo-faz-omo-mostra.html>. Acesso em 15-01-2015.
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
17
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
O texto 4, parcialmente reproduzido, serviu para a análise de um uso elementar da vírgula: a enumeração
de termos com mesma função sintática (nesse texto, ainda que representassem orações virtuais, as palavras
foram enfocadas como tais). Também foi observado o uso das reticências, revisto o ponto final, de modo
que as conclusões formuladas pelos alunos deram continuidade à síntese iniciada.
TEXTO 4
Circuito Fechado
Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental,
água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, telefone,[...]
RAMOS, Ricardo. Circuito fechado. Rio de Janeiro: Record, 1978.
Com o texto 5, foram contemplados o ponto de interrogação e o ponto de exclamação — com destaque
para o emprego desses dois sinais no último balão da tirinha — e reforçadas as funções da vírgula e das
reticências observadas anteriormente. Isso, é claro, a partir de perguntas que levaram os alunos a constatar
as regularidades e compreender as regras.
TEXTO 5
Disponível em <http://hqfanbeta.blogspot.com.br/2011/07/como-fazer-quadrinhos-estruturando.html>. Acesso em 15-012015.
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
18
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
Como último texto para sistematização de alguns sinais de pontuação, considerados os mais usados por
alunos de 6º ano, foi selecionada uma anedota. Esse gênero costuma ser muito proveitoso, porque, além de
curto e descontraído, apresenta maior variedade de uso dos sinais de pontuação, por se tratar de tipologia
narrativa com diálogo.
TEXTO 6
NA ESCOLA
A PROFESSORA PERGUNTA PARA OS ALUNOS:
— QUEM QUER IR PARA O CÉU?
TODOS LEVANTAM A MÃO, MENOS O JOÃOZINHO.
— VOCÊ NÃO QUER IR PARA O CÉU, JOÃOZINHO?
— QUERO, PROFESSORA, MAS MINHA MÃE DISSE QUE DEPOIS
DA AULA ERA PARA EU IR DIRETO PARA CASA!
(FINZETTO, S/D)
A anedota acima permitiu aos alunos a identificação de um sinal ainda não observado (o travessão) e o
retorno aos outros já mencionados. No caso do travessão, uma questão que foi levantada é por que em
duas frases ele não apareceu. A professora pediu, ainda, explicações sobre os usos da vírgula, incentivando
a comparação com as ocorrências nos outros textos e a consulta às anotações no caderno, para que os
alunos partissem do conhecido para o desconhecido.
3ª etapa: Verificação da aprendizagem
Esta etapa consistiu numa atividade para fixação e, ao mesmo tempo, verificação da aprendizagem dos
conteúdos. Em duplas, os alunos tiveram de pontuar um texto, e o momento de correção foi transformado
em “desafio-relâmpago”: dois alunos, um representante de cada sexo, apresentaram sua versão pontuada
do texto no quadro. Venceu o que utilizou melhor pontuação. A turma se manifestou depois, fazendo
comentários sobre seu próprio desempenho na tarefa e sobre os sinais que ofereceram maior dificuldade
de uso.
ATIVIDADE
Leia e pontue corretamente usando
Eu estava num banco da pracinha observando um menino A primeira coisa que notei foi que ele estava
olhando continuamente para o céu Aproximei-me dele e disse-lhe
Ei garoto O que você faz assentado aí
Fico observando as nuvens
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
19
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
Por quê
Porque me sinto feliz
O que você vê nas nuvens
Vejo carneirinhos coelhinhos rostos e muitas outras coisas
Mas eu olho para o céu e não vejo nada do que você vê
Se você prestar atenção verá mais do que eu Tente
(Graça Batituci)
4ª etapa: Produção textual
Esta foi a etapa de aplicação dos conhecimentos na produção textual para avaliação da aprendizagem
individual. Após revisar de forma objetiva o que foi aprendido na aula anterior, a professora solicitou a
produção de um texto. A proposta foi vinculada ao contexto em que a turma esteve inserida na ocasião do
desenvolvimento desta sequência, ou seja, o texto solicitado teve um propósito real de comunicação (uma
carta a ser entregue à direção da escola) e representou aquilo que efetivamente os alunos queriam expressar
a partir de suas experiências. Dessa forma, fez-se a opção de propor a reescritura do texto diagnóstico,
motivador das ações pedagógicas, o que proporcionou um “antes e depois” da intervenção, cujo resultado
foi bem satisfatório e posteriormente compartilhado com a turma, com a equipe pedagógica e com os
responsáveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração da sequência didática exposta neste trabalho pretendeu ser uma contribuição concreta para
o ensino de língua portuguesa a partir de discussões levantadas em uma disciplina do Profletras ligada à
didatização da escrita. Por sua vez, o professor pode lançar mão dessa proposta como ferramenta para
o ensino da pontuação, mas sempre levando em conta a realidade de suas turmas, de modo que, como
assinala os PCN (1998), articule os fatores “necessidade dos alunos, possibilidades de aprendizagem, grau
de complexidade do objeto e das exigências da tarefa” (p. 39), a fim de que se faça o adequado recorte do
conteúdo.
Por outro lado, este trabalho possibilitou reflexões oportunas sobre o ensino da escrita para quem entende
que a formação acadêmica do docente deve estar a serviço da prática, haja vista a sequência didática aqui
apresentada ter sido produto de uma experiência efetiva e relativamente bem sucedida. São muitas as
demandas da rede pública de ensino, que exigem do professor um esforço contínuo para se adaptar às
novas metodologias e aplicá-las, a despeito das dificuldades conhecidas por todos.
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
20
Freire, g. c.; CARDOSO, C. A. de L.
A expectativa, mais do que o reconhecimento do bom aproveitamento das aulas ministradas no Profletras,
é que as práticas desenvolvidas por muitos dos “alunos-professores” espalhados pelo Brasil colaborem
efetivamente para o objetivo a que se propõem: a melhora da qualidade do ensino de língua portuguesa.
REFERÊNCIAS
BACKER, Russel. How to Punctuate. In: FUES, Billings S.Jr. How to Use the Power of the Printed
Word. Garden City, New York: Auchor Press/Doubleday,1985: 101-7.
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed., revista e ampliada e atualizada
conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto
ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
BRONCKART, Jean-Paul. Pourquoi et comment analyser l’agir verbal et non verbal en situation de travail?
Le projet de recherche du groupe Langage, Action, Formation. Les Cahiers de Ia Secction des Sciences de
l’Education de la FAPSE, n. especial, p. 11-144, 2004.
CHAFE, Walace. Punctuation and the Prosody of Written Language. In: Technical Report 11,
Berkeley: University of California and Pittsburgh: Carnegie Mellon University, Center for the Study of
Writing,1987.
DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. Les genres scolaires: des pratiques scolaires aux objets d ‘enseignement.
Repères, n. 15, p. 27-40, 1997.
______. Pour un enseignement de /’oral: initiation aux genres formeis á 1 ‘école. Paris: ESF, 1998.
GOMES-SANTOS, Sandoval Nonato. A escrita nas formas do trabalho docente. In: Educação e Pesquisa,
São Paulo, v.36, n.2, p 445-457, mai/ago. 2010.
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
21
Pontuação: uma proposta de sequência didática...
GONÇALVES, A. V. Gêneros textuais e reescrita: uma proposta de intervenção interativa. Tese.
(Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa) Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara,
Universidade Estadual Paulista, Araraquara, 2007.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed., 2a reimpressão. São
Paulo: Contexto, 2014.
PERROT, Jean. Ponctuation et Fonctions Linguistiques. In: Langue Française 45: 67­76. Paris: Larousse,
1980.
ROCHA, Iúta Lerche Vieira. O sistema de pontuação na escrita ocidental: uma retrospectiva. DELTA. São
Paulo, v. 13, n° 01, p. 83-117, 1997.
______. Flutuações no modo de pontuar e estilos de pontuação. DELTA. São Paulo, v. 14, n° 01, p. 1-12,
1998.
SANTOS, L. W. et al. Análise e produção de textos. São Paulo: Contexto, 2012.
SIMONE, Raffaele. Riflessioni sulla virgola. In: ORSOLINI, Margherita e PONTECORVO, Clotilde
(ed.) La Costruzione Del Testo Scritto Nei Bambini. Florença: La Nuova Itália, 1991: 219-232.
SMITH, Frank. Writing and the Writer. New York: Holt Rinehart and Winston, 1982.
SUASSUNA, Lívia. Avaliação e reescrita de textos escolares: a mediação do professor. In: ELIAS (org.).
Ensino de língua portuguesa: oralidade, escrita e leitura. 1. ed., 2’ reimpressão. São Paulo: Contexto,
2014.
Ci. Huma. e Soc. em Rev., RJ, EDUR, v. 36, n2, jul/dez, p. 07-22, 2014.
22