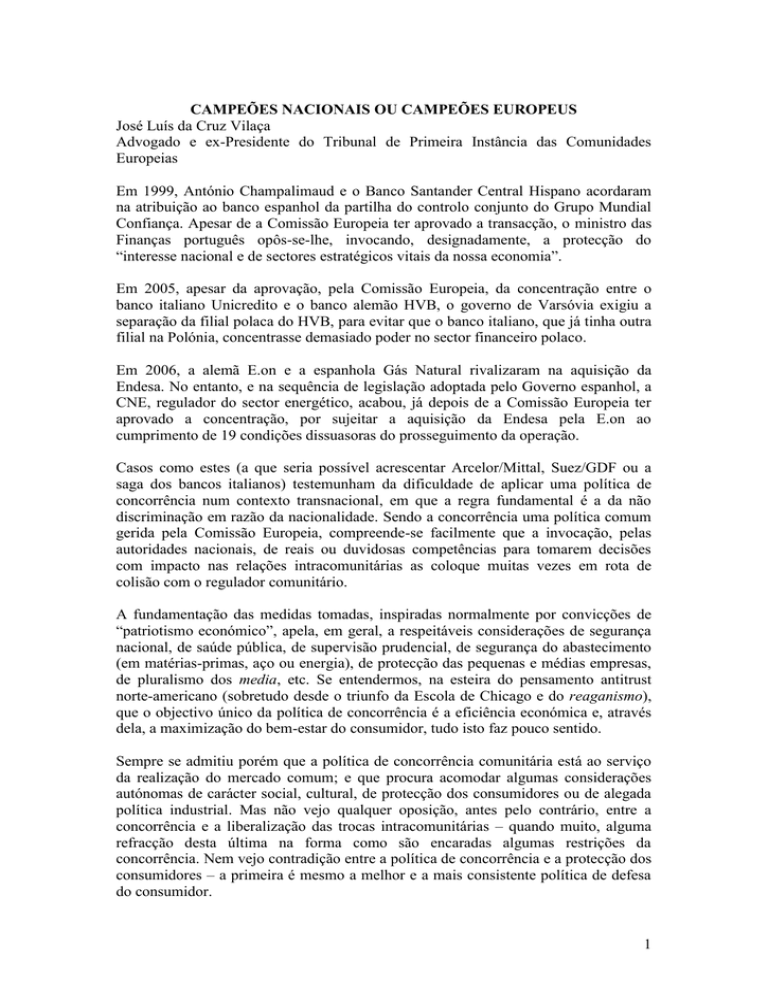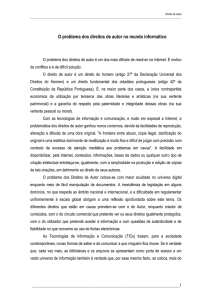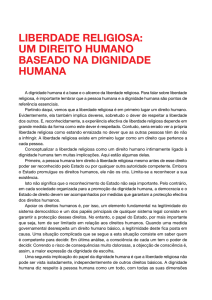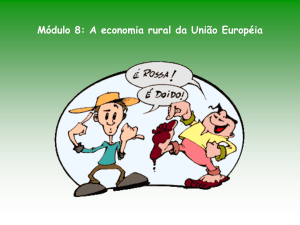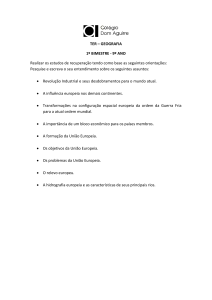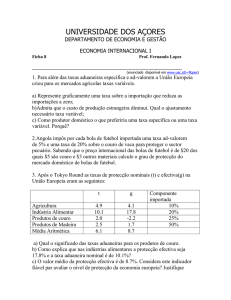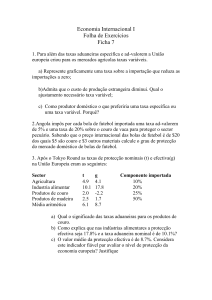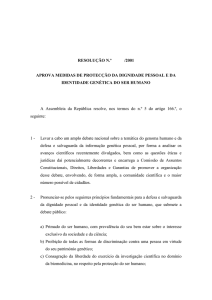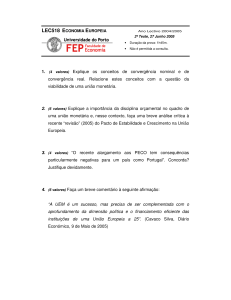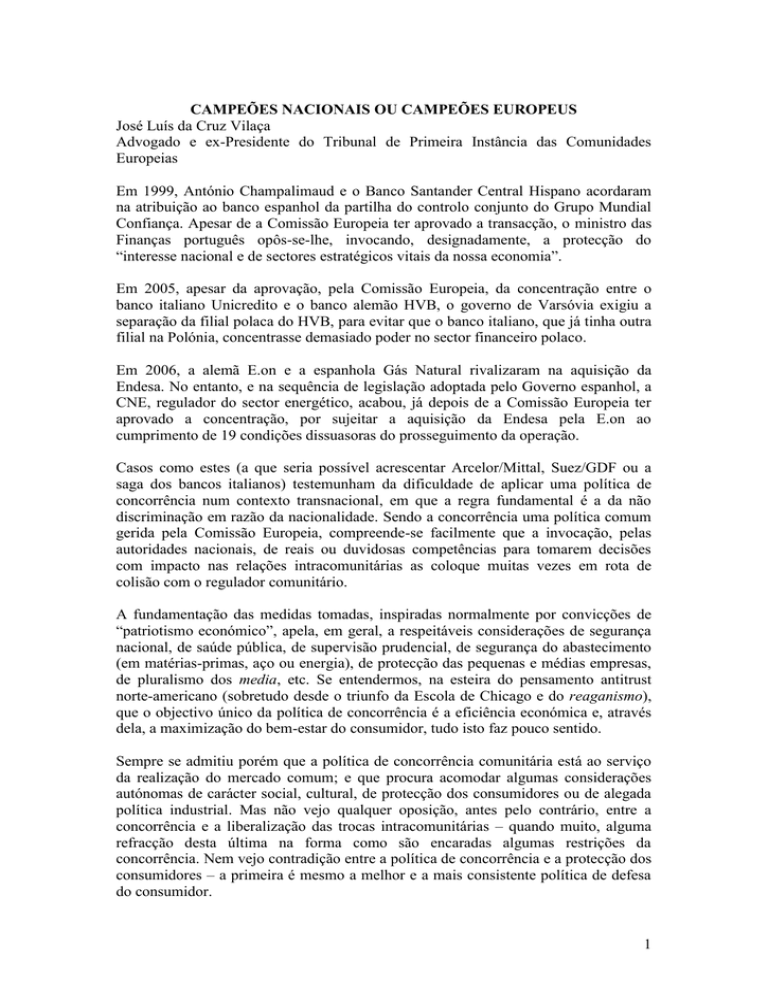
CAMPEÕES NACIONAIS OU CAMPEÕES EUROPEUS
José Luís da Cruz Vilaça
Advogado e ex-Presidente do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades
Europeias
Em 1999, António Champalimaud e o Banco Santander Central Hispano acordaram
na atribuição ao banco espanhol da partilha do controlo conjunto do Grupo Mundial
Confiança. Apesar de a Comissão Europeia ter aprovado a transacção, o ministro das
Finanças português opôs-se-lhe, invocando, designadamente, a protecção do
“interesse nacional e de sectores estratégicos vitais da nossa economia”.
Em 2005, apesar da aprovação, pela Comissão Europeia, da concentração entre o
banco italiano Unicredito e o banco alemão HVB, o governo de Varsóvia exigiu a
separação da filial polaca do HVB, para evitar que o banco italiano, que já tinha outra
filial na Polónia, concentrasse demasiado poder no sector financeiro polaco.
Em 2006, a alemã E.on e a espanhola Gás Natural rivalizaram na aquisição da
Endesa. No entanto, e na sequência de legislação adoptada pelo Governo espanhol, a
CNE, regulador do sector energético, acabou, já depois de a Comissão Europeia ter
aprovado a concentração, por sujeitar a aquisição da Endesa pela E.on ao
cumprimento de 19 condições dissuasoras do prosseguimento da operação.
Casos como estes (a que seria possível acrescentar Arcelor/Mittal, Suez/GDF ou a
saga dos bancos italianos) testemunham da dificuldade de aplicar uma política de
concorrência num contexto transnacional, em que a regra fundamental é a da não
discriminação em razão da nacionalidade. Sendo a concorrência uma política comum
gerida pela Comissão Europeia, compreende-se facilmente que a invocação, pelas
autoridades nacionais, de reais ou duvidosas competências para tomarem decisões
com impacto nas relações intracomunitárias as coloque muitas vezes em rota de
colisão com o regulador comunitário.
A fundamentação das medidas tomadas, inspiradas normalmente por convicções de
“patriotismo económico”, apela, em geral, a respeitáveis considerações de segurança
nacional, de saúde pública, de supervisão prudencial, de segurança do abastecimento
(em matérias-primas, aço ou energia), de protecção das pequenas e médias empresas,
de pluralismo dos media, etc. Se entendermos, na esteira do pensamento antitrust
norte-americano (sobretudo desde o triunfo da Escola de Chicago e do reaganismo),
que o objectivo único da política de concorrência é a eficiência económica e, através
dela, a maximização do bem-estar do consumidor, tudo isto faz pouco sentido.
Sempre se admitiu porém que a política de concorrência comunitária está ao serviço
da realização do mercado comum; e que procura acomodar algumas considerações
autónomas de carácter social, cultural, de protecção dos consumidores ou de alegada
política industrial. Mas não vejo qualquer oposição, antes pelo contrário, entre a
concorrência e a liberalização das trocas intracomunitárias – quando muito, alguma
refracção desta última na forma como são encaradas algumas restrições da
concorrência. Nem vejo contradição entre a política de concorrência e a protecção dos
consumidores – a primeira é mesmo a melhor e a mais consistente política de defesa
do consumidor.
1
Quanto à política industrial, haveria ainda que discutir se, sendo embora muitas vezes
um logro no plano nacional, ela se justificaria como uma política da Europa face ao
resto do mundo. Deixaria assim de se falar de “campeões nacionais” para se falar em
“campeões europeus”. Exemplos velhos, como o Concorde, ou recentes, como o
Airbus ou o Galileu, não constituem grandes argumentos em favor de uma política
industrial europeia. O falhanço é sempre o resultado da mistura da política com o que
é do domínio da economia. Ora, se a política de concorrência se joga essencialmente
no terreno da economia, a chamada política industrial é o resultado de decisões
políticas que não se vê que a Comissão esteja, no plano comunitário, necessariamente
mais apetrechada para tomar do que as administrações nacionais, sem a habitual
dislexia megalómana de todas as burocracias que usam o dinheiro dos contribuintes.
2