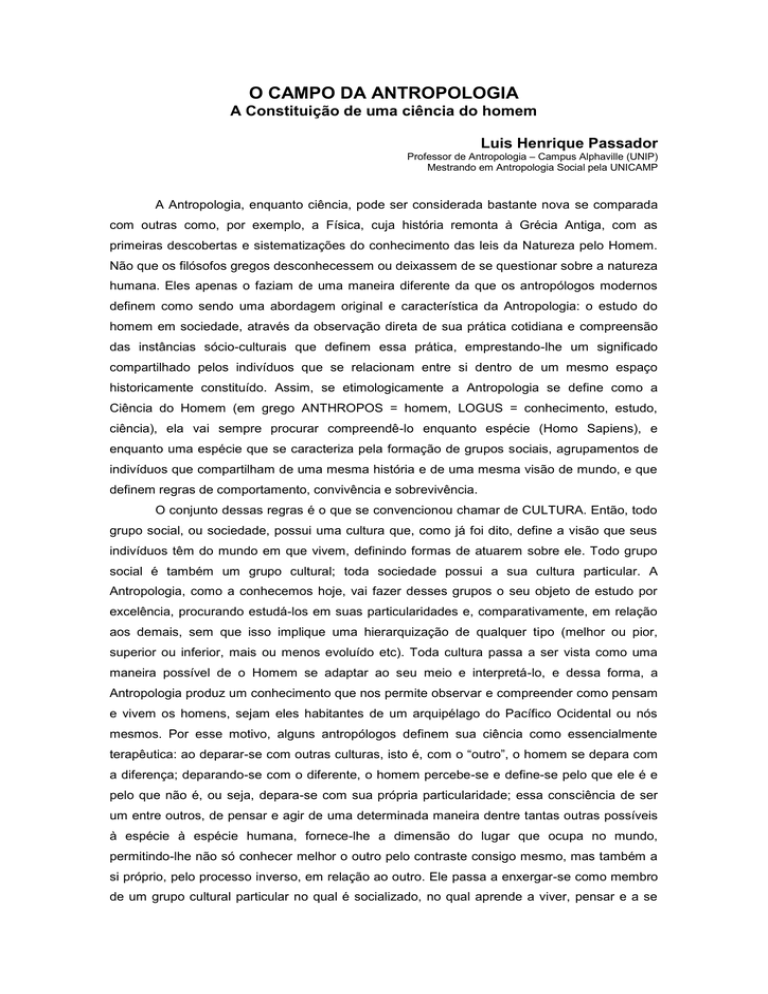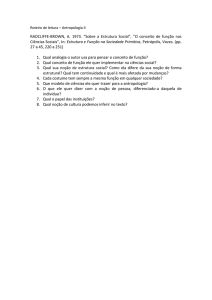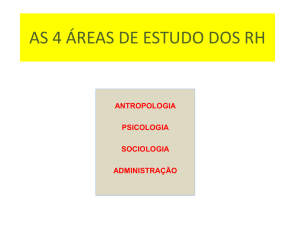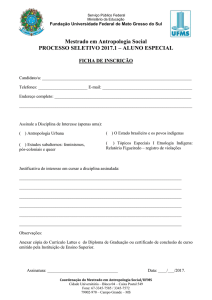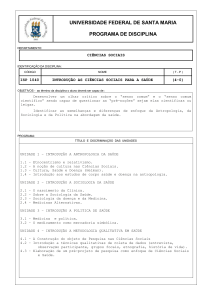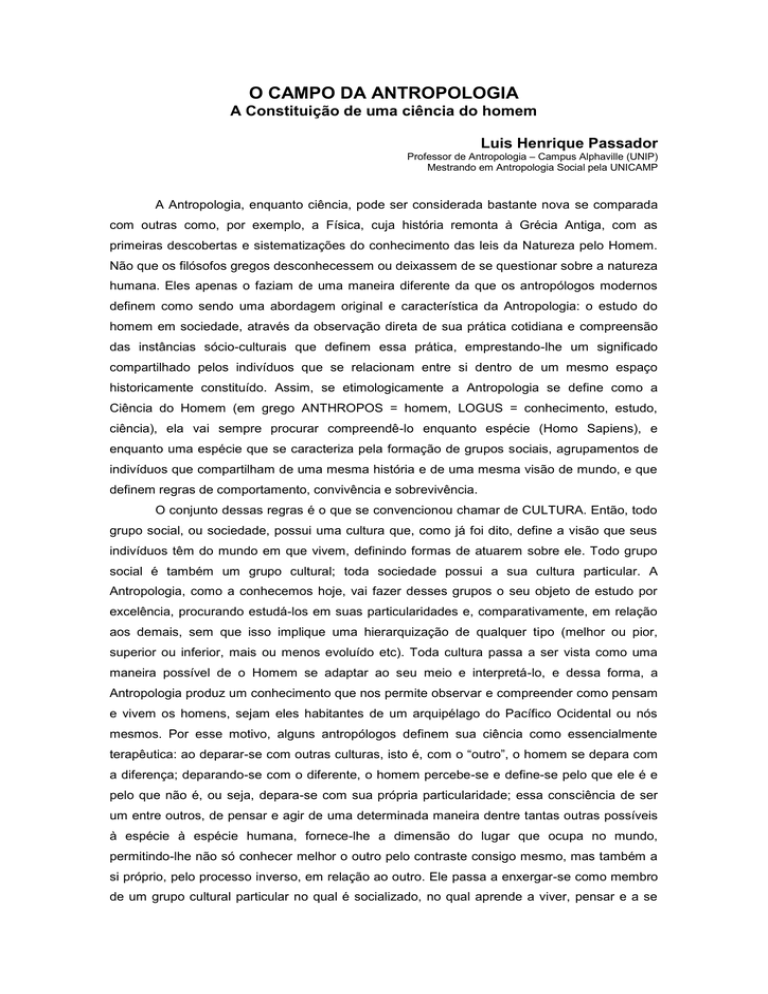
O CAMPO DA ANTROPOLOGIA
A Constituição de uma ciência do homem
Luis Henrique Passador
Professor de Antropologia – Campus Alphaville (UNIP)
Mestrando em Antropologia Social pela UNICAMP
A Antropologia, enquanto ciência, pode ser considerada bastante nova se comparada
com outras como, por exemplo, a Física, cuja história remonta à Grécia Antiga, com as
primeiras descobertas e sistematizações do conhecimento das leis da Natureza pelo Homem.
Não que os filósofos gregos desconhecessem ou deixassem de se questionar sobre a natureza
humana. Eles apenas o faziam de uma maneira diferente da que os antropólogos modernos
definem como sendo uma abordagem original e característica da Antropologia: o estudo do
homem em sociedade, através da observação direta de sua prática cotidiana e compreensão
das instâncias sócio-culturais que definem essa prática, emprestando-lhe um significado
compartilhado pelos indivíduos que se relacionam entre si dentro de um mesmo espaço
historicamente constituído. Assim, se etimologicamente a Antropologia se define como a
Ciência do Homem (em grego ANTHROPOS = homem, LOGUS = conhecimento, estudo,
ciência), ela vai sempre procurar compreendê-lo enquanto espécie (Homo Sapiens), e
enquanto uma espécie que se caracteriza pela formação de grupos sociais, agrupamentos de
indivíduos que compartilham de uma mesma história e de uma mesma visão de mundo, e que
definem regras de comportamento, convivência e sobrevivência.
O conjunto dessas regras é o que se convencionou chamar de CULTURA. Então, todo
grupo social, ou sociedade, possui uma cultura que, como já foi dito, define a visão que seus
indivíduos têm do mundo em que vivem, definindo formas de atuarem sobre ele. Todo grupo
social é também um grupo cultural; toda sociedade possui a sua cultura particular. A
Antropologia, como a conhecemos hoje, vai fazer desses grupos o seu objeto de estudo por
excelência, procurando estudá-los em suas particularidades e, comparativamente, em relação
aos demais, sem que isso implique uma hierarquização de qualquer tipo (melhor ou pior,
superior ou inferior, mais ou menos evoluído etc). Toda cultura passa a ser vista como uma
maneira possível de o Homem se adaptar ao seu meio e interpretá-lo, e dessa forma, a
Antropologia produz um conhecimento que nos permite observar e compreender como pensam
e vivem os homens, sejam eles habitantes de um arquipélago do Pacífico Ocidental ou nós
mesmos. Por esse motivo, alguns antropólogos definem sua ciência como essencialmente
terapêutica: ao deparar-se com outras culturas, isto é, com o “outro”, o homem se depara com
a diferença; deparando-se com o diferente, o homem percebe-se e define-se pelo que ele é e
pelo que não é, ou seja, depara-se com sua própria particularidade; essa consciência de ser
um entre outros, de pensar e agir de uma determinada maneira dentre tantas outras possíveis
à espécie à espécie humana, fornece-lhe a dimensão do lugar que ocupa no mundo,
permitindo-lhe não só conhecer melhor o outro pelo contraste consigo mesmo, mas também a
si próprio, pelo processo inverso, em relação ao outro. Ele passa a enxergar-se como membro
de um grupo cultural particular no qual é socializado, no qual aprende a viver, pensar e a se
relacionar com seus semelhantes, e cuja cultura não é a única, nem a melhor, mas apenas
uma, diferente. Seu mundo se amplia à medida que conhece outros povos, outras culturas,
deixando de ser absoluto e natural, passando a ser relativo, particular e histórico. Esse duplo
movimento de compreensão do OUTRO e de NÓS mesmos EM RELAÇÃO ao outro, é que vai
definir a vocação da Antropologia: enquanto compreensão do Homem, ela acaba por se
realizar também como autocompreensão dos homens, permitindo uma visão crítica em relação
a nós mesmos e à nossa própria sociedade, possibilitando uma atuação mais eficaz e
conseqüente sobre o mundo em que vivemos e em relação àqueles que nos cercam, ou seja,
sobre nossa própria realidade.
Para chegar a essas conclusões e constituir essa abordagem científica sobre os
problemas relativos às sociedades humanas, a Antropologia percorreu um caminho histórico
que se confunde com a própria história do encontro do homem ocidental com os outros povos
que habitavam (e ainda habitam) os continentes que ele alcançou a parti do século XVI. A
seguir, veremos resumidamente como se desenrolou essa história de encontros e
desencontros, e como dela resultou uma Ciência do Homem como exposta acima.
BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DA ANTROPOLOGIA COMO CIÊNCIA
Embora já na Grécia Antiga o Homem pensasse na sua natureza como um tema a ser
estudado e compreendido, e os gregos já tivessem conhecimento da existência de outros
povos com culturas diferentes da sua (que eles chamavam de “bárbaros”), apenas no século
XVI é que essas questões tornaram-se cruciais para o homem ocidental, herdeiro da tradição e
da cultura grega. Naquela época, o que chamamos de cultura ocidental limitava-se às
fronteiras da Europa.
O que coloca de maneira tão enfática essas questões ao homem ocidental é o início da
era das grandes navegações, quanto o europeu se vê obrigado a procurar novas rotas
comerciais, atravessando oceanos e dando início à sua história de expansionismo colonial. A
busca de novas rotas comerciais levou-o ao descobrimento da existência de terras além das
fronteiras do mundo conhecido por ele e, conseqüentemente, ao encontro com povos que
nunca antes havia contado. O impacto dos primeiros relatos desses viajantes, descrevendo as
novas terras e seus habitantes, foi bastante grande sobre os europeus. Pela primeira vez, eles
se deparavam frente a frente com povos e culturas tão diferentes, e com um agravante: a
conquista e domínio das novas terras pressupunha o contato direto e a convivência (pacífica ou
não) com eles. O homem ocidental se viu impelido a encarar e entender esse diferente, esse
OUTRO. A pimeira grande questão que emergiu desse encontro cultural foi como definir esses
nativos do novo mundo, isto é, como entender essa diferença, questão que se traduzia numa
pergunta: eram humanos ou não? Esses nativos se encontravam fora da cultura e da noção de
humanidade do homem ocidental. Foi nessa época que surgiu a noção de “selvagem”, para
definir a natureza de povos que tinham costumes tão estranhos ao europeu: andavam nus ou
vestidos rusticamente com peles e penas, comiam carne crua, praticavam o canibalismo,
falavam uma língua ininteligível, não possuíam escrita, não possuíam um sistema político ou
jurídico mais elaborado, nem uma moral condizente com os bons costumes europeus,
praticando, por vezes, a poligamia e adorando divindades profanas, praticando a magia e a
feitiçaria, morando em construções precárias e sobrevivendo da caça, da pesca e da coleta de
frutos selvagens, enfim, vivendo muito próximos a um estado de animalidade aos olhos de um
europeu do século XVI. Como a influência da Igreja Católica, na época, era muito grande, e
seu poder era muito abrangente, a questão da humanidade ou animalidade desses povos era
colocada como questão teológica: possuíam alma ou não? Poderiam ser salvos no juízo final?
Uma frase resumia e definia esses povos para o europeu: sem fé, sem lei, sem rei. A Igreja
ouve por bem, após muita discussão, outorgar a existência de uma alma no selvagem, dandolhe a chance de ser “salvo”. Na verdade, essa atitude seguia a lógica da conquista de domínio
sobre as novas terras: se possuem alma, o selvagens podem ser catequizados e, sendo
catequizados, podem ser “humanizados” e submetidos à um processo de civilização e
incorporação à um modo de vida europeu, podendo servir aos interesses da colonização como
mão-de-obra na exploração das riquezas nativas. Começa então, ainda no século XVI, o envio
de missionários às novas terras para o trabalho de catequese e civilização dos nativos.
O selvagem era o novo bárbaro. Ainda que a Igreja tivesse reconhecido nele a
existência de uma alma, a diferença cultural desses povos em relação ao ocidente continuou a
ser um tema de discussão entre os europeus, e a questão da humanidade ou animalidade do
selvagem não foi superada. Enquanto durante o século XVII os relatos de viajantes
missionários continuavam a alimentar o estranhamento do europeu em relação ao selvagem,
as notícias sobre a insubmissão dos nativos e sua rejeição à catequese alimentavam as
dúvidas sobre sua natureza humana.
No século XVIII, o debate sobre os povos nativos ganha o caráter de uma discussão
em termos filosóficos antropocêntricos. É o período conhecido como “século das luzes”,
caracterizado pelo Iluminismo, um movimento filosófico que elege o Homem e a Razão como
centro de suas preocupações, numa reação contra a metafísica e a filosofia fundada no
pensamento cristão. O caráter de humanidade deixa de ser definido a partir da existência de
uma alma ou não no homem, passando a ser pensado em termos da presença ou não da
Razão nele. O homem se define pela faculdade do pensamento e da racionalidade, segundo
essa filosofia. É dessa época a famosa frase de Descartes “Penso, logo existo”. Todo
pensamento e discussão sobre o selvagem, nesse período, passa a se desenvolver em torno
de sua capacidade de desenvolver ou adquirir a Razão, definida como a racionalidade do
homem ocidental.
O uso da Razão como parâmetro para determinação do que é ou não humano segue
uma lógica simples: Enquanto a alma e sua existência são dados difíceis de serem
comprovados empiricamente, isto é, não são palpáveis ou passíveis de medição, dependendo
da fé daquele que os “observa”, a Razão é, acreditam os filósofos do Iluminismo, um fenômeno
que pode ser medido, pela aproximação ou distanciamento de uma ação ou pensamento
humano em relação ao que é tido como mais racional. É óbvio que, para eles, o parâmetro de
comparação é a racionalidade ocidental, ou seja, toda lógica que se aproxima da lógica
ocidental é tida como mais correta, dessa forma, mais próxima do ideal de humanidade que
eles pregam.
Diante da evidência de que a Razão selvagem é diversa da Razão ocidental, começam
a surgir novas maneiras de definir essa diferença. A definição mais coerente naquele período
era de que o selvagem era mesmo humano, pois apresentava algum timo de racionalidade,
ainda que muito diferente da ocidental, simples e sem sofisticação, como seu próprio modo de
vida. A partir daí, surgem duas linhas de argumentação teórica para explicar essa diferença
que, no entanto, parte de uma mesma idéia: A de que o selvagem vivia em “estado de
Natureza”, no limiar entre o animal e o humano, e que, portanto, se encontrava na “infância da
humanidade”, sem nunca ter desenvolvido. Observá-lo era como observar o próprio momento
da criação. Eram seres sem história, povos que sempre viveram e continuariam a viver sem
modificarem seu modo de vida, imutáveis e imunes à marcha da história.
A primeira linha teórica, que teve em Cornélius de Pauw seu mais célebre defensor,
acreditava que o selvagem era um ser humano degenerado, derrotado pela Natureza, que não
teve forças para se desenvolver. Vivia na “infância da humanidade” porque não teve condições
de alcançar a “maturidade” (Que seria o estado do homem ocidental), curvando-se como um
velho ante às dificuldades impostas por seu meio ambiente (é preciso lembrar que o Novo
Mundo era constituído pelas Américas, África e Oceania, de clima predominantemente tropical
e, portanto, bastante hostil na visão de um europeu). O selvagem era uma criança senil para
Pauw. Era dessa maneira que ele procurava explicar a “preguiça” do selvagem, uma idéia que
surgiu nessa época é que é muito popular ainda hoje em dia. Seria um ser incapacitado moral
e fisicamente, levando uma vida vegetativa. O “estado de Natureza” para Pauw, era
degradante, pois mantinha o homem ao nível dos animais. Essa visão do selvagem era
especialmente cara aos administradores e moradores das novas colônias, pois justificava e
legitimava a prática da escravização dos nativos; se estavam tão distantes da humanidade e
tão próximos da humanidade, poderiam, sem que isso implicasse em qualquer tipo de culpa,
“domesticá-los” e utilizá-los nos serviços pesados como se faz com um animal selvagem.
Já a segunda linha teórica, surgida nesse período, via o selvagem como um ideal de
vida. Seu principal propugnador era o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Para ele, o
“estado de Natureza” proporcionava a felicidade ao homem, pois ele se encontrava livre de leis
opressoras e de um modo de vida que subjugava os indivíduos, como seria o caso da
sociedade ocidental. A civilização traria invariavelmente a infelicidade ao homem, tolhendo sua
liberdade através da moral e do Estado. O selvagem gozaria da ingenuidade e da pureza
originais do homem, como uma criança desconhece o mal (afinal, ele se encontrava na
“infância da humanidade”). Viveria numa sociedade igualitária, sem hierarquias e sem conhecer
a repressão e a submissão ao poder. Já o homem ocidental teria perdido de vista sua natureza
inocente, embrenhando-se na organização de uma sociedade que massacra seus indivíduos.
Rousseau cria a figura do “bom selvagem” para caracterizar e se opor à imagem do “mau
civilizado”. Dessa forma, ele constrói uma crítica à sociedade e à cultura ocidentais que se
utiliza do conhecimento sobre uma outra cultura. É a primeira grande crítica que vem de dentro
da sociedade ocidental contra si própria, constituindo-se na primeira tentativa de
autocompreensão do homem ocidental que se utiliza do “outro” como contraponto. Não por
coincidência, é a partir de Rousseau que começam a surgir as primeiras idéias de se construir
uma sociedade ocidental baseada na igualdade entre os homens, que vai desembocar nas
primeiras idéias e teorias socialistas e comunistas, extremamente críticas em relação à cultura
ocidental; e também, não por coincidência, Rousseau vai ser um dos pensadores que mais
influenciaram a Revolução Francesa. A noção do “bom selvagem’ vai ainda alimentar o
Romantismo nas artes e na filosofia, dando início às concepções nostálgicas do paraíso e da
ingenuidade perdidos pelo homem.
Embora divergentes, essas duas linhas teóricas guardam entre si uma concepção que
é comum: o selvagem, enquanto o “outro”, nunca é considerado em si mesmo. O ocidente
olhava para si mesmo através desse “outro”, mas sem procurar entendê-lo em sua diversidade.
Fosse para promover uma idéia do bom ou do mau civilizado, o selvagem nunca era entendido
a partir de si mesmo: ele era sempre pior ou melhor, nunca apenas diferente. O homem
ocidental continuava sendo o referencial de toda interpretação e comparação cultural. Isso é o
que se costuma chamar de Etnocentrismo e que significa tomar sua própria cultura como
centro e medida de toda e qualquer comparação com outras, promovendo uma valorização ou
desvalorização do outro, a partir do sistema de valores aceito pela cultura daquele que
observa. O que esses filósofos do século XVIII fizeram foi elevar ao nível filosófico uma
discussão que se travava antes no âmbito do senso comum, De qualquer forma, eles
começaram a definir o Homem como objeto de estudo, de uma maneira pré-científica, mas que
vai ser o primeiro grande passo em direção à constituição da Antropologia, enquanto ciência. É
nessa época que se forma o par viajante-filósofo: o primeiro recolhe dados e informações sobre
os povos selvagens e os entrega ao segundo, que vai ordená-los e analisá-los, procurando
sistematizar o conhecimento que se tem desses povos. Essa forma de estudar o outro vai se
desenvolve no século seguinte.
O século XIX se caracteriza pelo surgimento da ciência positiva e do evolucionismo
como teoria do desenvolvimento da humanidade. Baseado nas teorias de evolução biológica
das espécies apresentadas por Charles Darwin, o evolucionismo introduz a noção de história
nos estudos dos povos nativos do Novo Mundo. Para os estudiosos do período, à evolução
biológica do homem corresponde uma igual evolução cultural, através de estádios e etapas que
caracterizam níveis que vão do mais primitivo ao mais evoluído. Culturalmente falando, nesses
esquemas o estádio superior era ocupado pela civilização ocidental, enquanto os demais povos
do planeta se distribuíam numa escala decrescente pelos estádios imediatamente inferiores.
Essa visão introduz duas idéias novas: a primeira é a de que os povos chamados “selvagens”
possuíam uma história, que era a história da espécie humana, representando os estádios mais
inferiores ou primordiais dessa história evolutiva; e a segunda, como conseqüência da primeira,
é a de que esses povos não eram mais “selvagens”, mas sim “primitivos”, fósseis vivos que
documentavam a caminhada do homem rumo à civilizado. Esses novos conceitos têm algumas
conseqüências notáveis.
A primeira delas é a reformulação da idéia de que os nativos estavam na infância da
humanidade. Não que essa idéia tivesse sido abolida pelos evolucionistas, mas ela tinha agora
um novo significado: se eles se encontravam na infância da humanidade, poderiam atingir sua
maturidade através de um processo de aceleração de sua história. Em outras palavras, se
esses povos estavam atrasados em relação ao homem ocidental na linha evolutiva, eles
poderiam, com ajuda neste último, “queimar” as etapas evolutivas que os separavam, estando
dessa forma habilitados a ingressar na civilização. Esse raciocínio passou a justificar, de uma
maneira diferente, uma mesma prática: cabia agora ao homem ocidental a tarefa de civilizar os
nativos de sua colônia, para que eles pudessem atingir a plenitude de uma vida evoluída,
podendo assim melhor servirem aos propósitos da colonização e dos colonizadores.
Outra dessas conseqüências é a introdução da noção de progresso, conseqüência da
idéia de uma história evolutiva. Isso fez acelerar processos de dissolução e integração desses
povos, vistos como atrasados, às sociedades que se formavam nas colônias como nações em
nome do progresso e da modernização. Sobreveio a constatação de que, como resultado
imediato desse processo, os povos nativos estavam fadados ao desaparecimento enquanto
grupos autônomos, seja pela desintegração das suas culturas tradicionais, seja pelo extermínio
promovido contra eles em várias situações nas quais eles eram vistos como um “entrave” ao
progresso. No final do século XIX, o homem ocidental começou a montar grandes museus
etnográficos com o intuito de documentar, através de grandes coleções de artefatos nativos, a
existência desses povos que pareciam condenados à extinção. Esses museus terão um papel
fundamental no desenvolvimento da Antropologia, que será descrito mais adiante.
Na base das noções de evolução e progresso e que vai ser sua instância legitimadora,
está a concepção da Ciência. Seu principal propugnador é o filósofo francês Augusto Comte,
que introduz o Positivismo como filosofia que vai dominar o pensamento ocidental no período.
Para Comte, a Ciência corresponde ao estádio mais avançado do pensamento humano, a
maneira mais evoluída de percepção pelo homem do mundo que o cerca. A Ciência vai se
caracterizar pela constituição de um método racional para processar essa percepção, um
método que privilegia a observação empírica dos fenômenos naturais e sociais para apreensão
da realidade material em que vive o homem. Por ser uma filosofia evolucionista, o Positivismo,
como base da Ciência do século XIX, vai permitir que o etnocentrismo passe a ter uma base
científica e que todos os povos passem a ser classificados e definidos em relação àqueles que
ocupariam o estádio tido como mais avançado e superior da evolução humana: a civilização
ocidental.
A Antropologia começa a se constituir como ciência nesse contexto. Substituindo a
figura do filósofo do século XVIII, surge o cientista. No nosso caso, o antropólogo, aquele que
vai procurar conhecer e explicar cientificamente a espécie humana em sua universalidade. A
prática não se altera: o antropólogo continua, como o antigo filósofo, procurando sistematizar
os dados recolhidos pelos viajantes. Surge assim o “antropólogo de gabinete”, que fica em
casa procurando montar esquemas explicativos da história da evolução cultural do homem
através de dados colhidos por terceiros. Nesse período, são produzidas obras monumentais,
tão monumentais quanto a tarefa a que esses “antropólogos de gabinete” se propõem: contar a
história do homem na face da Terra. Em geral, esses antropólogos eram diretores ou
especialistas ligados aos grandes museus etnográficos que, pela quantidade de documentação
cultural dos vários povos que guardavam, tornavam-se o espaço ideal para se praticar a
Antropologia na época. Esses “homens de ciência” procuravam levar para os museus
especialistas de várias áreas (Direito, Medicina, Geografia, Botânica, Zoologia, Psiquiatria,
etc.), para que, financiados por aquelas instituições, fizessem expedições científicas entre os
povos primitivos com o intuito de recolher material para os museus e dados para suas
pesquisas de gabinete. Esses especialistas substituíram os antigos viajantes, constituindo-se
em mais um passo em direção à Antropologia moderna: a introdução da idéia de que somente
um especialista treinado para a coleta de dados pode observar e produzir um conhecimento
empírico de algum valor sobre esses povos, através da aplicação de métodos e técnicas de
pesquisa cientificamente elaborados.
Da mesma maneira, como foi mostrado anteriormente, uma mesma idéia básica pode
produzir duas linhas de pensamento que se opõem.
Não foi diferente no século XIX. Se, por um lado, o evolucionismo lançava um olhar
otimista em relação aos povos primitivos, reconhecendo sua pertinência à história comum da
humanidade e, por conseqüência, enxergando a possibilidade de um futuro digno para eles,
por outro lado ele forneceu as bases “científicas” para o desenvolvimento de teorias que lhes
negavam esse mesmo futuro, ou mesmo a unidade da espécie humana: as teorias racistas,
que procuravam explicar a diversidade cultural do homem através de explicações baseadas em
determinantes biológicos que tornariam determinados homens mais capacitados que outros, de
acordo com as qualidades “inatas” às raças. As conseqüências desse racismo científico são
bastante conhecidas, e mesmo tendo sido comprovada cientificamente a sua insuficiência
como explicação da diversidade humana, ele teve grande penetração popular, tornando-se,
infelizmente, senso comum.
O MÉTODO ANTROPOLÓGICO: UM OLHAR ORIGINAL
O século XX vê nascer a Antropologia moderna com estabelecimento das bases que
fundamentam a Antropologia atual: o seu método. Abandonando a divisão de tarefas na coleta
e análise de dados culturais, os antropólogos modernos fizeram a fusão entre o viajante e o
teórico num só indivíduo: são eles próprios que vão observar os grupos culturais onde vivem, e
são eles próprios que se recolhem em seus “gabinetes” para análise e sistematização dos
dados colhidos. Esse novo método consiste na observação participante: o antropólogo, ao
mesmo tempo em que observa um grupo, participa do mesmo espaço – não como nativo, pois
isso é impossível e não faz parte do objetivo da pesquisa antropológica, mas como observador
mesmo, - procurando olhar de perto os fenômenos sócio-culturais e as práticas cotidianas que
compõem o universo cultural que ele quer compreender no tempo e no espaço de sua
manifestação concreta. Fazem parte, portanto, da observação participante, o distanciamento
físico, mas um distanciamento cultural, através do qual o observador procura não interferir
sobre a realidade observada e, principalmente, não deixar que ela interfira “emotivamente”
sobre si), e a sua capacidade de estranhamento em relação ao objeto (que é a capacidade do
observador olhar para os eventos culturais de um determinado grupo como algo
completamente diferente de tudo que já tenha observado anteriormente, tanto na sua cultura,
como em outra qualquer). Ele pode fazer então um estudo intensivo de um grupo cultural que
tem por objetivo, através do distanciamento e do estranhamento no momento da observação,
apreender o ponto de vista do nativo, isto é, compreender a interpretação que os elementos
daquele grupo fazem de si mesmos e de sua cultura. O antropólogo só tem acesso à realidade
cultural de um grupo através das interpretações que seus nativos produzem sobre ela. A partir
desse método, os grupos sócio-culturais passam a ser estudados em si e para si. O
etnocentrismo científico é abandonado e criticado através do estabelecimento das bases do
Relativismo Cultural na Antropologia: toda cultura deve ser estudada em seus próprios termos,
e não mais a partir dos parâmetros culturais e valorativos daquele que a estuda. Essa
concepção também põe fim ao domínio da visão evolucionista da Antropologia: os grandes
esquemas de explicação teórica da história evolutiva linear, etapista e determinista do homem
são deixados de lado pela nova noção de particularismo histórico das culturas, onde se
reconhece a pluralidade das manifestações culturais humanas e a singularidade de cada
desenvolvimento histórico-cultural. As culturas passam a ser encaradas como maneiras
diversas e possíveis dos homens se organizarem em grupos, constituindo sistemas de vida que
têm sua eficácia relativa como adaptação deles ao espaço e ao tempo em que vivem, sem que
isso siga leis naturais de ordem biológica. As culturas não são mais encaradas como estágios
de evolução, nem como superiores ou inferiores, mas como manifestações humanas
particulares, que têm cada uma sua própria lógica interna, e que retratam a capacidade do
homem de se adaptar ao meio ambiente e de se organizar em grupos das mais variadas
maneiras. Os nativos não estão mais na “infância da humanidade”, mas são, sim, nossos
contemporâneos.
Surge também a noção de totalidade nos estudos antropológicos. As culturas devem
ser estudadas em sua totalidade, como sistemas integrados. No século XIX, privilegiava-se o
estudo dos traços culturais isolados, observando-se sua ocorrência nos diversos grupos para
efeito de comparação entre si, sem atentar para os significados particulares que esses traços
assumiam em suas culturas de origem. A Antropologia moderna afirma que é preciso antes
apreender esses significados, para depois podermos tentar compará-los. Um costume só pode
ser seu significado apreendido quando estiver relacionado ao contexto cultural particular no
qual ele se origina. Portanto, o método antropológico moderno supõe, ou melhor, pressupõe
um estudo da totalidade cultural de um grupo e das partes que a compõem através de um
movimento circular: o estudo das partes em relação ao todo, e do todo em relação às suas
partes. Quanto menor o universo observado, isto é, quanto menor o grupo social estudado,
maior a possibilidade de apreensão dos significados da totalidade cultural e das partes que a
compõem. Toda manifestação cultural deve ser observada no grupo que se está estudando,
por mais insignificante que pareça ser à primeira vista, pois ela contém, em si, informações
sobre a cultura desse grupo. A Antropologia observa desde as mais inocentes anedotas, até os
mais grandiloqüentes eventos culturais de uma sociedade, pois são todos dados que a
caracterizam e nos contam algo sobre ela.
Através desse estudo “microscópico” da vida cotidiana, a Antropologia procura suas
respostas. O estudo desse “infinitamente pequeno” nas culturas leva o antropólogo ao estudo
dos símbolos, que são as menores construções culturais de um povo, aquilo que possibilita a
comunicação entre seus membros. No curso, estudaremos mais aprofundadamente os
símbolos e seu lugar nas culturas. O que precisa ser esclarecido aqui é que toda cultura produz
seus símbolos, e eles se constituem na possibilidade de comunicação entre os indivíduos.
Toda sociedade se baseia na troca, que é a base de todo relacionamento humano: ao se
relacionarem, os indivíduos estão se comunicando, e a comunicação é uma troca sempre.
Portanto, para a Antropologia, toda sociedade se baseia num princípio de reciprocidade entre
seus elementos, constituindo redes de relações sociais, e toda cultura se realiza na troca de
símbolos, de “coisas” que significam algo para os indivíduos postos em comunicação direta.
Os símbolos têm sempre seu significado compartilhado socialmente pelos indivíduos
de uma mesma cultura, e uma sociedade pode ser definida como uma troca generalizada de
símbolos.
Deve-se notar, no entanto, que as sociedades humanas e suas culturas são dinâmicas.
Dinâmicas porque têm uma história, estando sempre sujeitas a transformações, seja por
impulso interno ao grupo, seja pelo fato de que não são universos fechados e isolados, estando
em contato com outras sociedades e culturas. Isso pode ser percebido na nossa própria
sociedade através das transformações históricas permanentes pelas quais passamos. Dessa
maneira, os significados que as atividades culturais assumem socialmente estão sempre
sujeitos a mudanças. Os símbolos estão sempre sendo manipulados e reinterpretados pelos
indivíduos. Por isso, toda cultura não é uma estrutura imutável e, por isso mesmo, toda cultura
admite o conflito interno, quando a reciprocidade simbólica entre os indivíduos é quebrada.
Bom, constituído esse novo corpo teórico, essa abordagem específica, esse olhar
original que a Antropologia lança sobre os homens, ele se concretiza enquanto uma área
autônoma do conhecimento humano, uma ciência com métodos específicos, que vai conviver
com as outras Ciências Humanas, auxiliando-as e sendo auxiliada por elas no estudo do
homem. Enquanto tal, ela independe de um objeto específico (determinada cultura de
determinado lugar), isto é, enquanto abordagem científica ela ganha um grau de universalidade
(ela pode estudar toda e qualquer manifestação cultural, em qualquer lugar). Por isso mesmo,
quando no início do século havia o temor do desaparecimento da Antropologia, em
conseqüência de um suposto desaparecimento dos povos “primitivos” (seu objeto privilegiado
até então), ela se volta para o estudo também das sociedades ditas “complexas” (que têm
semelhanças ou se baseiam na sociedade ocidental). Enquanto ciência que procura estudar o
outro e suas manifestações sócio-culturais, ela pode ser aplicada ao estudo de qualquer grupo
humano, inclusive o nosso. Assim, a Antropologia passa a estudar também o homem ocidental.
Começamos
a
olhar
antropologicamente
para
nós
mesmos,
na
busca
de
uma
autocompreensão, e o outro não precisa mais estar além-mar para ser estudado; o outro poder
ser aquele que consideramos o nosso “próximo”. Através do estranhamento e distanciamento
de nossa própria cultura, podemos estudá-la antropologicamente, procurando melhor
compreendê-la. A Antropologia se realiza, portanto, num duplo movimento interpretativo de
culturas que Roberto da Matta bem definiu num quase teorema e que bem resume seu método:
tornar estranho o que nos é familiar e familiar o que nos é estranho. Como toda ciência
interpretativa – aí incluída a Psicologia e sendo esse o ponto de aproximação e encontro entre
ambas -, a Antropologia procura penetrar e compreender a subjetividade presente nas
manifestações humanas, e o faz procurando traduzir os significados particulares de uma
cultura para outra. Nesse sentido, não difere muito do trabalho da Psicologia, que procura
compreender e traduzir os significados profundos das motivações e comportamentos dos
indivíduos através do estranhamento destes em relação às suas práticas mais cotidianas,
familiares e inconscientes, dando-lhes acesso à sua subjetividade e à possibilidade de uma
reflexão sobre si mesmos.
Antropologia e Psicologia são ciências que se completam na compreensão do indivíduo
e de seu coletivo, seja na vivência coletiva da individualidade, seja na vivência individual da
coletividade. Indivíduo e grupo são, dessa forma, indissociáveis enquanto instâncias que se
definem a existência do homem enquanto sujeito da História, seja ela história de uma vida, seja
ela história da humanidade.