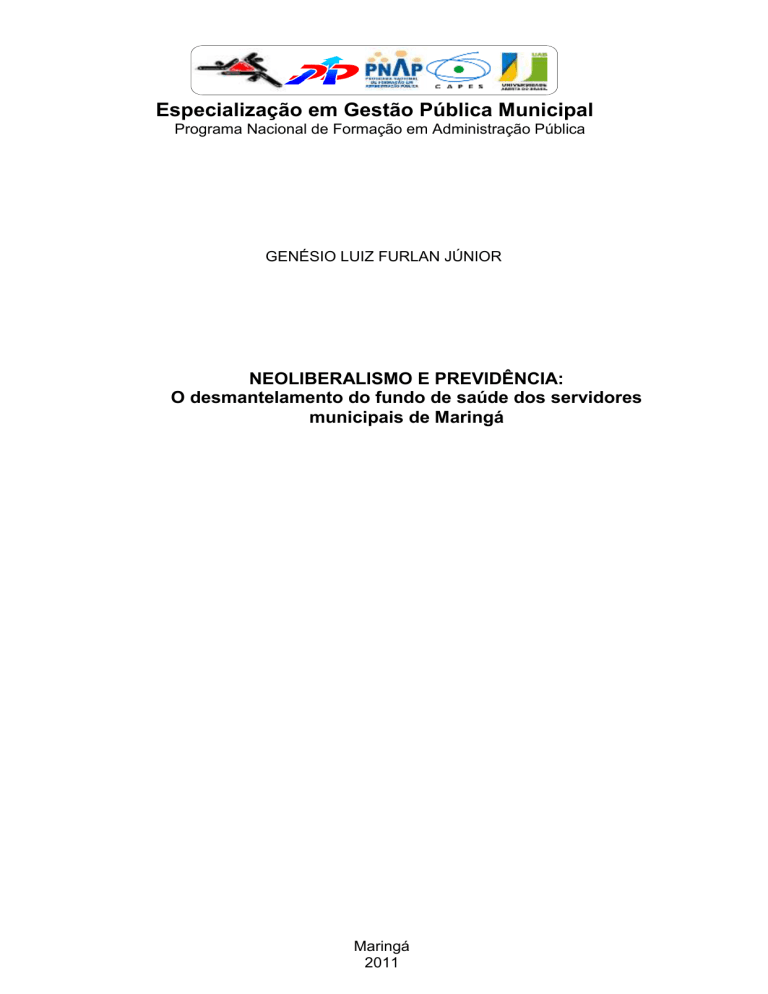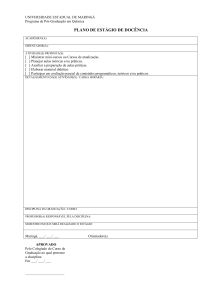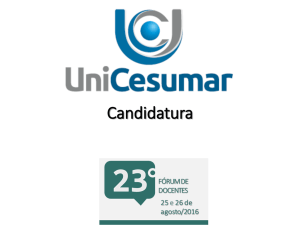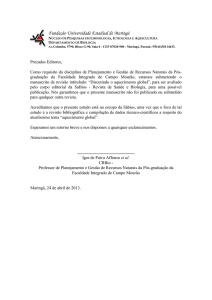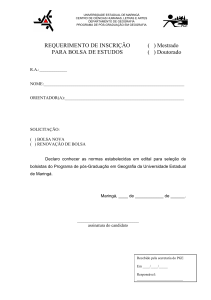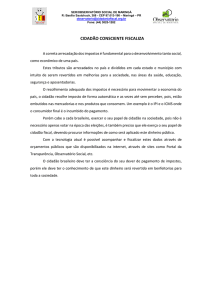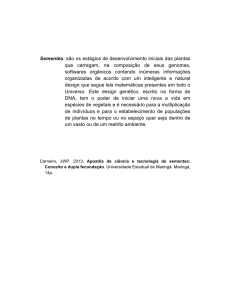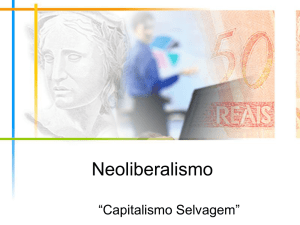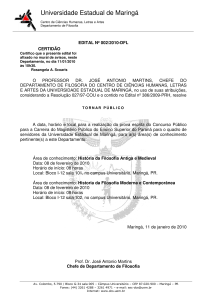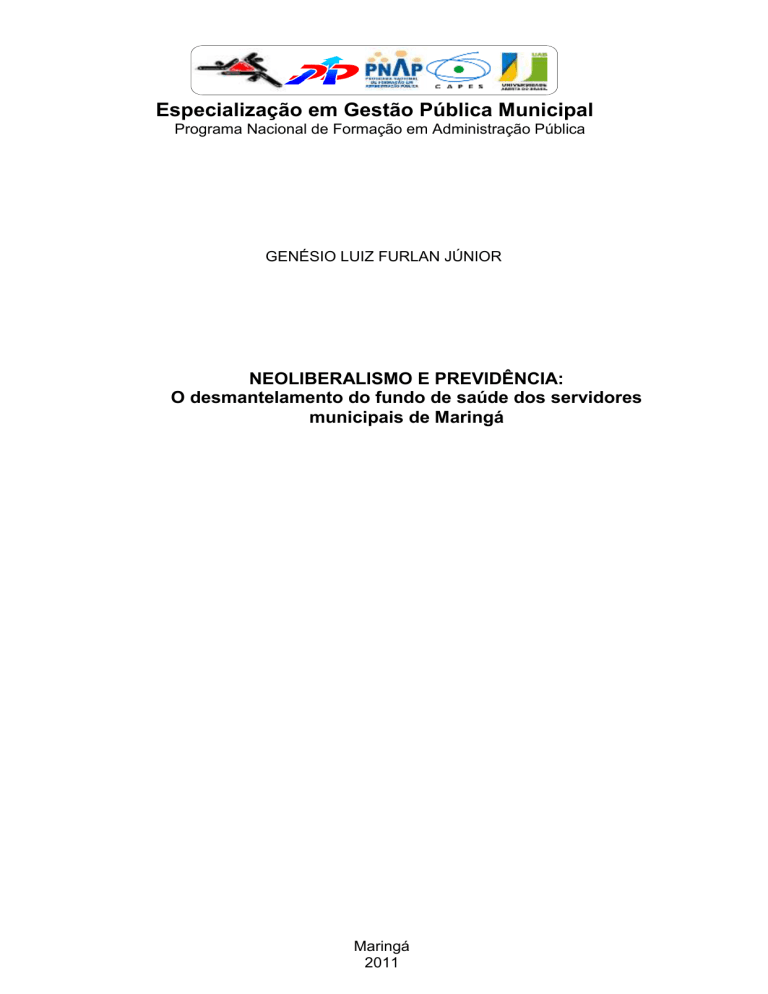
Especialização em Gestão Pública Municipal
Programa Nacional de Formação em Administração Pública
GENÉSIO LUIZ FURLAN JÚNIOR
NEOLIBERALISMO E PREVIDÊNCIA:
O desmantelamento do fundo de saúde dos servidores
municipais de Maringá
Maringá
2011
Especialização em Gestão Pública Municipal
Programa Nacional de Formação em Administração Pública
GENÉSIO LUIZ FURLAN JÚNIOR
NEOLIBERALISMO E PREVIDÊNCIA:
O desmantelamento do fundo de saúde dos servidores
municipais de Maringá
Trabalho de Conclusão de Curso do Programa
Nacional de Formação em Administração Pública,
apresentado como requisito parcial para obtenção
do título de especialista em Gestão Pública
Municipal, do Departamento de Administração da
Universidade Estadual de Maringá.
Orientador: Prof. Dr. Jaime Graciano Trintin
Maringá
2011
Especialização em Gestão Pública Municipal
Programa Nacional de Formação em Administração Pública
GENÉSIO LUIZ FURLAN JÚNIOR
NEOLIBERALISMO E PREVIDÊNCIA:
O desmantelamento do fundo de saúde dos servidores
municipais de Maringá
Trabalho de Conclusão de Curso do Programa
Nacional de Formação em Administração Pública,
apresentado como requisito parcial para obtenção
do título de especialista em Gestão Pública
Municipal, do Departamento de Administração da
Universidade Estadual de Maringá, sob apreciação
da seguinte banca examinadora:
Aprovado em ___/___/2011
Professor Dr. Jaime Graciano Trintin (orientador)
Assinatura
Professor
Assinatura
Professor
Assinatura
Maringá
2011
RESUMO
Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de analisar o processo de
desmantelamento do sistema de atendimento à saúde dos servidores públicos
municipais de Maringá, e de que forma a ideologia neoliberal pode ter contribuído e
influenciado para o desencadeamento desse processo. Foram analisadas diversas
variáveis, dentro do contexto de surgimento e desenvolvimento das políticas sociais
públicas no Brasil desde a Era Vargas, até a ascensão do ideário neoliberal, em
meados da década de 1990. A partir de então, procurou-se demonstrar de que forma
a cartilha neoliberal pode ter contribuído para o desmantelamento do fundo de saúde
da CAPSEMA, com a privatização dos serviços de saúde prestados ao servidor
municipal. Em virtude da privatização do fundo de saúde, a questão se volta ao
subsequente processo de criação do novo fundo previdenciário, o Maringá
Previdência. Com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, são analisados os
possíveis impactos nas aposentadorias e pensões do funcionalismo público
municipal de Maringá.
PALAVRAS-CHAVE: Neoliberalismo. Privatização. Aposentadoria. CAPSEMA.
ABSTRACT
This investigation was developed to analyze the process of dismantling of health care
system of public municipal servants of Maringá, and how neoliberal ideology may
have contributed to and influenced the triggering of this process. Several variables
were analyzed within the context of emergence and development of public social
policies in Brazil since the Vargas Age, until the rise of neoliberal ideology in the
middle of 1990s. Since then, we tried to demonstrate how the neoliberal doctrine may
have contributed to the dismantling of the health fund CAPSEMA with the
privatization of health services provided to municipal server. Due to the privatization
of the health fund, the question returns to the subsequent process of creating the
new social security fund, the Pension Maringa. With the advent of the Constitutional
Amendment 41/2003, we analyze the possible impact on pensions for municipal
servants of Maringa.
KEYWORDS: Neoliberalism. Privatization. Pension. CAPSEMA.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................
5
2 O SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS............
6
2.1 A INSTITUIÇÃO DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL NO BRASIL........
6
2.2 O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL (WELFARE STATE)........................
9
2.3 O NEOLIBERALISMO.................................................................................. 12
2.4 AS PRIVATIZAÇÕES.................................................................................... 15
2.5 O INÍCIO: PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO............... 17
2.6 A PRIVATIZAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DA CAPSEMA......................... 19
2.7 A QUESTÃO DA APOSENTADORIA INTEGRAL DO FUNCIONALISMO.... 23
3 CONCLUSÕES.................................................................................................... 26
REFERÊNCIAS...................................................................................................... 28
5
NEOLIBERALISMO E PREVIDÊNCIA: O desmantelamento do fundo de saúde
dos servidores municipais de Maringá
Genésio Luiz Furlan Junior1
1 INTRODUÇÃO
O processo de industrialização ocorrido na Europa em meados do século
XVIII teve como uma de suas características a substituição da mão de obra humana
pela utilização de máquinas. Esse processo, denominado Revolução Industrial, fez
surgir um novo modo de produção mecanizada, que propiciou a expansão do
capitalismo industrial como modo de produção dominante.
Em decorrência da abertura de indústrias, grandes contingentes de
trabalhadores rurais, dentre os quais a maioria teve suas terras expropriadas,
migraram para as áreas urbanas, em busca de oportunidades de trabalho, fato que
ocasionou o crescimento da população urbana e contribuiu para o surgimento da
classe operária (MELLO e COSTA, 1999, p. 200). Em razão de as vagas oferecidas
não acompanharem o crescimento populacional, esses trabalhadores formavam um
grande exército industrial de reserva.
Esse contexto, aliado à inexistência de leis trabalhistas que garantissem
algum amparo aos trabalhadores, favorecia o processo de exploração do trabalho,
que, nas palavras de Volpato (2010, online, p. 12), era uma forma de “atender aos
interesses do detentor do capital e propiciar a acumulação deste capital”. O clamor
da classe trabalhadora pelo estabelecimento de políticas de proteção por parte do
Estado fez surgir as primeiras políticas sociais de amparo ao trabalhador, no que
tange às relações de trabalho, carga horária, remuneração e previdência. O objetivo
desta pesquisa é analisar o sistema público de previdência, sob a ótica dos modelos
de estado do bem estar social e do neoliberalismo, especificamente em relação ao
regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais de Maringá.
1
Pós-Graduando em Gestão Pública Municipal (UEM), graduado em Ciências Contábeis (UEM).
email: [email protected]
6
2 O SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS POLÍTICAS SOCIAIS PÚBLICAS
2.1 A INSTITUIÇÃO DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL NO BRASIL
As primeiras políticas sociais públicas foram instituídas em decorrência das
reivindicações da classe trabalhadora pela proteção estatal contra os abusos e
desmandos por parte dos empregadores. De fato, Behring e Boschetti (2011, p. 93)
argumentam que “essas iniciativas têm sua origem nas reivindicações da classe
trabalhadora durante o século XIX”.
Não obstante o fato de que o Estado se viu obrigado a instituir tais políticas
para conter os impasses entre empregados e empregadores, evitando que tais
confrontos se tornassem um problema político, e para não prejudicar a lucratividade
dos capitalistas, fato é que tais políticas vieram para beneficio da classe
trabalhadora.
A partir de uma forma embrionária de benefícios concedidos aos
trabalhadores, se desenvolveu o estado de bem estar social, ou welfare state. De
acordo com Behring e Boschetti (2011, pp. 64-69), há uma certa unanimidade em
“situar o final do século XIX como o período em que o Estado capitalista passa a
assumir e a realizar ações sociais de forma mais ampla, planejada, sistematizada e
com caráter de obrigatoriedade”. As autoras afirmam ainda que o estado de bem
estar social atinge seu ápice após a Segunda Guerra Mundial.
No caso específico do Brasil, o primeiro passo no sentido de instituir políticas
sociais públicas foi a criação das primeiras CAPs – Caixas de Aposentadorias e
Pensões, instituídas através do Decreto Legislativo nº 4.682, de 24.01.1923, mais
conhecido como “Lei Eloy Chaves”. A primeira categoria de trabalhadores assistidos
por direitos sociais foi a dos empregados das empresas ferroviárias, tendo
alcançado o direito aos benefícios de aposentadoria, pensão por morte e assistência
médica. Posteriormente, em 1925, estes benefícios foram estendidos aos portuários
e marítimos, e em 1931, para todos os prestadores de serviços públicos (PINHEIRO,
1999, p. 24).
7
Nesse ínterim, a Revolução de 1930 empossou Getúlio Dornelles Vargas e
marcou o fim do período conhecido como República Velha, inserindo o Brasil no
sistema capitalista internacional. Até então, o sistema político e econômico era
fortemente influenciado pelos latifundiários, que interferiam diretamente nos rumos
da economia do país. A lavoura tradicional entrou em crise e a oferta de capitais foi
direcionada para a indústria, impulsionada pela redução das importações e pela
política desenvolvimentista de Vargas. Em seu governo, a intervenção do Estado
procurava estimular a industrialização e a modernização do país, fortalecendo a
indústria de base, como siderurgia, petroquímica, energia e transportes.
Considerado populista e aparentando ser generoso, proporcionou vários
benefícios aos trabalhadores. Era visto como “pai dos pobres”, devido a seu
aparente empenho na luta pelos menos favorecidos, embora não deixasse de ao
mesmo tempo beneficiar as classes de maior poder aquisitivo, conquistando ambas
as classes sociais e a simpatia de todos. A face oposta à concessão de direitos
sociais à classe trabalhadora é a de que a concessão de tais direitos seria também
uma forma de conter as tensões sociais existentes entre trabalhadores e
empregadores. As políticas sociais públicas funcionariam como um mecanismo de
consenso, através do qual se procurava um entendimento entre patrões e operários.
Retomando o raciocínio da instituição do sistema previdenciário brasileiro,
embora as CAPs tenham sido um passo importante nesse sentido, somente a partir
dos anos 1930, especialmente o período compreendido entre os anos de 1930 e
1943, pode ser considerado como “os anos de introdução da política social no Brasil”
(DRAIBE, 1990, apud Behring e Boschetti, 2011, p. 106). Nesse período, sob o
comando de Getúlio Vargas, foram estabelecidos a regulação dos acidentes de
trabalho, das aposentadorias e pensões, e os auxílios doença, maternidade, família
e seguro-desemprego.
O Estado passou a ter uma preocupação com a questão social e suas
expressões, no intento de proteger os menos favorecidos, e de oferecer serviços de
saúde e educação de qualidade, passando a ser o principal responsável pela
proteção social do cidadão. Vargas inaugura o governo constitucional, com a
promulgação da Nova Constituição da República de 1934, marcada por conferir
vários direitos aos trabalhadores: proibição do trabalho infantil, fixação da jornada de
trabalho de oito horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas,
8
indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e
dentária, e assistência remunerada a trabalhadoras gestantes (BRASIL, 1934,
online).
A mesma Constituição estabeleceu ainda o custeio tríplice da Previdência
Social, com a participação do Estado, dos empregadores e dos empregados, de
acordo com o artigo 121, parágrafo 1º, alínea h: “a instituição de previdência,
mediante contribuição igual da União, do empregador e do empregado, a favor da
velhice, da invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de
morte;” (BRASIL, 1934, online).
Há um certo consenso entre os autores que discorrem a respeito das políticas
sociais públicas, ao dizer que ocorreu no Brasil o que poderia ser chamado de
welfare state tardio. A razão seria de que, no período pós-Segunda Guerra Mundial,
nos países capitalistas desenvolvidos, já se ouvia rumores a respeito do ideário
neoliberal, enquanto no Brasil, ainda não se pensava na universalização dos direitos
sociais, o que só viria a ocorrer com a promulgação da Constituição Federal de
1988. No entanto, com a crise do petróleo, em 1973, muitos países europeus
passaram
a
seguir
as
diretrizes
econômicas
firmadas
pelos
organismos
internacionais de regulação, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco
Mundial.
O que ocorreu no Brasil pode ser considerado como um abortamento da
estruturação do estado de bem estar social, uma vez que, logo após a promulgação
da Constituição Federal de 1988, a qual conferia inúmeros e universais direitos aos
cidadãos, o governo de Fernando Collor de Mello, substituído por seu vice Itamar
Franco, deu início ao estabelecimento dos ideais neoliberais em nosso país. Seu
sucessor, Fernando Henrique Cardoso, deu continuidade a esse processo.
O governo Fernando Henrique Cardoso teve como características a
privatização de empresas estatais, o combate à inflação e o controle dos gastos
públicos. O combate à inflação teve sucesso nesse período, através da utilização de
instrumentos como a “desindexação salarial, âncora cambial, taxas de juros
elevadas e política tarifaria favorável às importações” (ANFIP, 2000, pp. 33-34).
Segundo os mesmos autores, no entanto, tais medidas tiveram resultados ruins,
como o aumento das taxas de desemprego, queda no crescimento do PIB ano após
ano, aumento das dívidas interna e externa, e ainda, o incentivo às importações
9
elevou o déficit da balança comercial.
Um marco desse período foi a aprovação da Lei 101/2000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que impôs maior rigor na execução do
orçamento público, limitando o endividamento dos estados e municípios e impondo
percentuais de gastos da arrecadação com o funcionalismo público. A LRF
representou um avanço na moralização dos gastos públicos, impondo sanções e
responsabilidades ao gestor público que descumprir suas determinações. Porém, a
mesma lei limitou a concessão de reposições ao funcionalismo público, em razão da
fixação do percentual de gastos com a folha de pagamento, condicionando a
concessão de reposições ou de aumento real dos salários ao aumento da
arrecadação.
Da mesma forma, em relação à seguridade social, o artigo 24 estabelece que
“nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total” (BRASIL, 2000,
online). Ou seja, ao gestor público que autorizar determinado aumento de despesa,
caberá a responsabilidade de informar quais serão as fontes de recursos disponíveis
para custeá-la. Ao mesmo tempo em que impõe uma responsabilidade, tem a
contrapartida de causar um engessamento na ampliação de programas sociais
relativos à seguridade social.
2.2 O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL (WELFARE STATE)
O estado de bem estar social teve como fundamento as ideias preconizadas
pelo economista britânico John Maynard Keynes, em sua obra Teoria geral do
emprego, do juro e da moeda, publicado em 1936, na qual defendia a intervenção
estatal como forma de reativar a produção (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 83). A
instituição de políticas sociais públicas teria assim a capacidade de propiciar o
desenvolvimento econômico, através da injeção de recursos na economia, o que
vem a ser um incentivo à demanda e ao consumo, e consequentemente, à
produção. O fato de que as políticas sociais públicas influenciariam no sentido do
aumento do consumo seria usado posteriormente como argumento dos neoliberais
10
para atacarem o estado de bem estar social, sob a ótica de que o consumo diminui a
poupança da população.
A intervenção estatal através das políticas sociais resultaria como uma
espécie de investimento no setor produtivo, conforme Coelho (2009, p. 88), ao
afirmar que o estado de bem estar social teria como base o uso da “força estatal, por
meio da implementação de políticas públicas, visando intervir nas leis de mercado e
assegurar para os seus cidadãos um patamar mínimo de igualdade social e um
padrão mínimo de bem estar”. Além de ampliar a disponibilidade de recursos na
economia, este modelo de estado se caracterizava por uma ampla e irrestrita
concessão de benefícios sociais ao cidadão, independente de quaisquer condições.
Coelho (2009, p. 89) estabelece ainda uma relação causal entre o aumento
da pobreza e as deficiências do mercado, o que vem a corroborar a tese de que os
mercados não são assim autorreguláveis, pois:
“Até o século XIX, os liberais acreditavam que a pobreza fosse resultado da
insuficiência de desenvolvimento econômico, e que este emergiria
naturalmente do mercado livre e autorregulado. No entanto, o tempo
mostrou que, apesar da liberdade de mercado, do crescimento econômico e
do notável avanço industrial nas sociedades capitalistas, a pobreza persistiu
e por vezes aumentou. Esse revés da história acabou por levar à reversão
da equação liberal: ao invés de a pobreza resultar da insuficiência do
mercado, seriam as insuficiências do mercado como instituição reguladora
que levariam à reprodução da pobreza. Assim sendo, coube ao Estado
suprir essas deficiências para promover o bem-estar nas sociedades ricas e
industrialmente desenvolvidas”.
O argumento neoliberal de que as políticas públicas seriam responsáveis pelo
déficit público e pela grave crise financeira que atingiu os países capitalistas no final
da década de 60 e início dos anos 70 não encontrou lastro. O que se verificou foi
exatamente o contrário, no sentido de que, dentre os países capitalistas centrais, os
que atingiram os maiores níveis de desenvolvimento econômico foram exatamente
aqueles que em algum momento de seu processo de industrialização instituíram
algum modelo de Estado voltado à proteção social. Este fato parece confirmar a tese
keynesiana de que a intervenção estatal teria a propriedade de reativar a produção.
Boschetti (2009, p. 174) afirma que “o pensamento keynesiano foi
determinante para o desenvolvimento e expansão das políticas públicas e da
seguridade social, porque preconiza que o Estado tem uma função-chave no
desenvolvimento econômico por meio da ampliação das políticas sociais”. A tese
11
defendida por Keynes era de que os gastos sociais refletiriam no aquecimento da
economia, em função dos investimentos na produção, e que poderiam propiciar um
contexto de pleno emprego. Os investimentos em políticas sociais públicas
refletiriam ainda em uma organização mais eficiente do sistema produtivo.
As políticas sociais públicas foram ampliadas a partir da publicação do Plano
Beveridge, em 1942, na Inglaterra, fato que pode ser considerado como o marco
mais importante na instituição do estado de bem estar social. Conforme descrito por
Araújo (2005, online), o plano elaborado pelo Lorde Beveridge “tinha como objetivo
constituir um sistema de seguro social que garantisse ao indivíduo proteção diante
de certas contingências sociais, tais como a indigência ou incapacidade laborativa”.
Outras premissas do plano consistiam na unificação dos seguros sociais existentes,
no estabelecimento da universalidade de proteção social para todos os cidadãos, e
na tríplice forma de custeio da seguridade social, com predominância de custeio
estatal.
No contexto da realidade brasileira, a Constituição Federal de 1988 veio
universalizar os direitos sociais, trazendo amparo a todo e qualquer cidadão, com
incapacidade laborativa permanente ou temporária, independente de sua vinculação
a um contrato de trabalho. Até mesmo por essa razão, a CF 88 é denominada a
Constituição Cidadã, pois desvinculou o direito aos benefícios sociais da condição
de estar empregado e vinculado ao trabalho.
As políticas sociais públicas seriam ainda um meio de ascensão social, de
acordo com a tese defendida por Faleiros (1991, p. 42), de que a intervenção estatal
no mercado pode se configurar pelo “apoio que o Estado dá às empresas ou aos
indivíduos para produzir ou ascender aos bens e aos serviços existentes no
mercado”. Os benefícios previdenciários podem garantir certos mínimos necessários
ao bem estar do cidadão, propiciando a estes uma oportunidade de alcançar
melhores condições de vida. As necessidades básicas dos cidadãos são prementes
e não podem esperar, e, em função disso, em muitos casos se faz necessário uma
intervenção estatal para garantir um mínimo de dignidade ao ser humano. E são
esses recursos financeiros, colocados em circulação, que interferem na economia,
na produção e no comércio, movimentando o ciclo da produção e do consumo.
12
2.3 O NEOLIBERALISMO
A origem do neoliberalismo remonta ao fim da Segunda Guerra Mundial, e
representava uma reação teórica ao Estado intervencionista de bem-estar social.
Teve como fundamento um texto elaborado por Friedrich August von Hayek, em
1944, denominado O caminho da servidão, cujo propósito era ‘combater o
keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases para um outro tipo de
capitalismo, duro e livre de regras para o futuro’ (ANDERSON, 1995, p. 10, apud
Behring e Boschetti, 2011, p. 125). Hayek buscava demonstrar também que “o
intervencionismo estatal levaria ao totalitarismo e à perda de liberdade” (MONTAÑO
e DURIGUETTO, 2011, p. 60).
No conceito do liberalismo econômico, o próprio mercado teria a capacidade
de se regular automaticamente, de acordo com a teoria defendida por Adam Smith
(apud Vicentino, 2000, p. 290), segundo a qual a livre concorrência agiria como uma
“mão invisível”, capaz de harmonizar os interesses individuais e conduzir ao bemestar coletivo. Além disso, a lei da oferta e da demanda teria o poder de,
naturalmente, produzir queda nos preços, cabendo ao Estado somente fornecer as
bases para o desenvolvimento econômico.
A doutrina neoliberal surgiu em função da tese de que o liberalismo
econômico tradicional de Adam Smith seria um modelo ultrapassado e ineficaz para
o momento de crise vivido pela economia mundial. Acreditava-se que a ideia da
“mão invisível” capaz de regular as relações do mercado seria um conceito por
demais simplista e não teria mais validade para o contexto de crises financeiras que
o mundo passou a viver após a Grande Depressão de 1929. A esse respeito, Coelho
(2009, pp. 80-81) argumenta que “a complexidade da economia e da sociedade
capitalista havia chegado a tal ponto que mesmo os mais convictos liberais não
eram mais capazes de acreditar que o mercado fosse autorregulável, dispensando a
intervenção do Estado”. Os neoliberais, então, responsabilizavam o estado de bem
estar social pelos grandes déficits públicos dos países capitalistas. Ao mesmo
tempo, o modelo liberal de Adam Smith era considerado insuficiente para explicar e
regular as relações de mercado existentes no período pós-Segunda Guerra Mundial.
Diante desse impasse, criou-se o conceito de neoliberalismo.
13
Enquanto doutrina social, o Neoliberalismo teve um grande impulso a partir
dos acordos firmados em 1944, na Conferência de Bretton Woods, New Hampshire,
EUA. Nesta conferência, as maiores nações capitalistas do mundo firmaram acordos
em oposição ao Estado de Bem Estar Social. Os defensores dessa corrente de
pensamento apontavam os elevados gastos em políticas sociais como responsáveis
pelos grandes déficits nas contas públicas. De acordo com FIORI (1997, online, p.
141):
“Estavam aí repostos os termos de um debate que começara antes, nos
anos 60/70, sobre a crise de governabilidade dos Estados pressionados,
segundo os conservadores, por um excesso de demandas democráticas e
por um Estado de Bem-Estar Social cada vez mais extenso, pesado e
oneroso, o responsável central, segundo eles, da própria crise econômica
que avançou pelo mundo todo a partir de 1973/75”.
Isto é, para os adeptos da doutrina neoliberal, o estado de bem estar social se
constituía um peso na estrutura dos governos, devido à manutenção de uma ampla
e irrestrita rede de proteção ao cidadão. Argumentavam que os elevados gastos
sociais eram os responsáveis pelo déficit público e pela grave crise econômica que
se instaurou no mundo na década de 1970. Obviamente arrazoavam que para por
um fim à crise, deveriam ser adotadas medidas drásticas de contenção dos gastos
governamentais, e consequentemente, dos investimentos na área social. As
medidas incluíam, de acordo com Fernandes (2007, online, p. 5), além de um
planejamento meticuloso dos investimentos públicos, a instituição de outros
mecanismos de regulação da economia por parte do Estado, tais como “controle de
câmbio, juros e oferta de moeda visando estabilizar os preços para impedir
aumentos inflacionários”.
Fernandes (2007, online, p. 6) afirma ainda que a conferência de Bretton
Woods teve como principal resultado a “criação das principais instituições
multilaterais de apoio ao investimento público e às finanças internacionais que foram
o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI)”. Os organismos de
finanças internacionais citados são os responsáveis pelo estabelecimento das metas
de inflação, do superávit primário e impõem regras de austeridade fiscal aos países
que necessitam de seus empréstimos. O problema é que, para cumprir as
exigências dessas organizações e ter condições de honrar os empréstimos
14
assumidos, os países devedores são obrigados a reduzir seus gastos, o que
fatalmente, irá refletir na redução das políticas sociais.
Um ponto primordial de diferenciação do liberalismo clássico e do
neoliberalismo, apresentado por Waldraff (2002, online), consiste no “protagonismo
atribuído ao Estado”. No liberalismo clássico, o Estado atuava como garantidor da
segurança jurídica e da propriedade privada, em razão de que a garantia da
propriedade privada era um aspecto indispensável à economia de mercado
preconizada pelos liberais.
Por sua vez, o ideário neoliberal atribuiu ao Estado o papel de “agente
regulador dos mercados recém-criados” (COELHO, 2009, p. 106). O resultado das
privatizações foi a abertura de novos nichos de mercado em áreas de atuação onde
anteriormente existia o monopólio estatal, criando concorrência entre as empresas
prestadoras dos serviços. Ocorre então que, para garantir a qualidade dos serviços
prestados pelas empresas, foram criadas as agências reguladoras vinculadas ao
Estado.
Há uma clara distorção no que se refere ao modelo liberal, da forma como
preconizado por Adam Smith, e o modelo defendido pelos neoliberais. O liberalismo
clássico era uma oposição ao Estado absolutista, à aristocracia e ao clero, defendia
a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, a não intervenção estatal na
economia, exaltando o mercado como um mecanismo natural de regulação das
relações sociais. (BEHRING e BOSCHETTI, 2011, p. 59).
No entanto, as autoras afirmam ainda que esses conceitos foram “cinicamente
recuperados pelos neoliberais de hoje, num contexto muito diferente”. Mas como? O
liberalismo econômico dispensava a intervenção estatal na economia, no contexto
da produção e do consumo, mas atingiria inclusive a “assistência pública prestada
aos mais pobres” (COELHO, 2009, p. 102), sob a justificativa de que o bem estar
coletivo seria alcançado em decorrência da busca pelo bem estar individual.
A contradição surge na intervenção estatal, a qual deveria ocorrer no mínimo
grau possível, e somente em setores onde sua atuação fosse absolutamente
imprescindível. Ainda segundo Coelho (2009, p. 103), a crítica neoliberal era focada
no excesso de regulação estatal, o que comprometeria o funcionamento de
monopólios estatais controlados pelo Estado, mas que poderiam ser privatizados.
Daí a necessidade das privatizações, com duas finalidades, quais sejam: a primeira
15
de transferir a terceiros a responsabilidade pela prestação dos serviços, e a
segunda, de auferir recursos para os cofres públicos.
Desse mesmo conceito de redefinição da ação estatal, decorre a crença que
o mercado e a sociedade civil organizada estariam aptos a desempenhar tarefas
anteriormente atribuídas ao Estado. Um exemplo prático é a prestação de serviços
de assistência social prestados por entidades não-governamentais, que podem
reduzir a intervenção e os investimentos governamentais em políticas públicas.
O Estado mínimo resulta na redução dos gastos públicos com as políticas
sociais, como saúde, educação, previdência social, dentre outras. Esse contexto
revelou a ascensão do terceiro setor, que passou a ofertar ao cidadão alguns
serviços outrora de responsabilidade do Estado, especialmente nas áreas de
educação e saúde. Muitos desses serviços foram entregues ao mercado financeiro,
e a previdência pode estar seguindo pelo mesmo caminho. É justamente nesse
contexto, da transferência das responsabilidades do Estado, da privatização e da
terceirização, que se insere o regime de previdência dos servidores públicos
municipais.
2.4 AS PRIVATIZAÇÕES
Uma das propostas-chave do neoliberalismo é a privatização de empresas
estatais, cujo objetivo é desonerar o Estado da responsabilidade pela prestação de
serviços que, por suas características, possam ser delegáveis a empresas privadas,
constituindo-se uma preocupação a menos para o Estado. A privatização é ainda um
vislumbre dos nichos de mercado passíveis de serem privatizados, com o objetivo
de gerar lucro para o governo. Sob essa ótica, pode ser visto como uma forma de
exploração indireta do Estado no mercado de capitais.
Os ideais neoliberais começaram a ganhar ênfase no Brasil a partir de 1990,
com o presidente Fernando Collor de Mello, que governou o país de 1990 a 1992.
Após sofrer um processo de impeachment, seu sucessor Itamar Franco deu
prosseguimento aos ideais neoliberais, que incluíam em sua agenda privatizações,
superávit primário, ajuste fiscal e flexibilização das relações trabalhistas.
16
O processo de privatizações ocorrido no Brasil teve seu início com a
instituição do PND – Programa Nacional de Desestatização, instituído pela Lei
8.031, de 12 de abril de 1990, a qual foi posteriormente revogada pela Lei 9.491, de
9 de setembro de 1997. A citada lei estabelecia diretrizes referentes à expansão do
mercado de capitais, a serem seguidas pelo Estado, dentre as quais merecem
destaque:
“Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização – PND tem como objetivos
fundamentais:
[...]
I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à
iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público;
[...]
V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas
atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a
consecução das prioridades nacionais;
[...]
VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais [...]” (BRASIL,
1997, online).
O texto legal alude ao fato de que a exploração de determinados ramos de
atividade pelo poder público deveria ser delegada a terceiros, por ser indevida, e de
que deveriam ser concentrados esforços em atividades nas quais a atuação do
Estado seja estritamente necessária ao alcance dos objetivos nacionais. A atuação
estatal restrita às atividades absolutamente indispensáveis é uma faceta
reconhecidamente neoliberal. A regulamentação estatal, nesse caso, é claramente
direcionada no sentido de beneficiar o mercado, através da constituição de novos
nichos de mercado, mediante transferência de atividades à iniciativa privada, e da
contribuição (inclusive financeira) para a expansão do mercado de capitais.
O argumento divulgado pela mídia para justificar as privatizações diante da
população em geral era de que as empresas estatais em vias de serem privatizadas
seriam deficitárias, ineficientes e que custavam caro para o governo (COELHO,
2009, p. 101), o que, acredita-se, seria uma falácia. Dentro do contexto das
privatizações, eram diversas as atividades em vias de serem transferidas para a
iniciativa privada, umas mais e outras menos evidentes em sua vinculação de
responsabilidade por parte do poder público.
17
2.5 O INÍCIO: PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO
Especificamente no município de Maringá, uma experiência de privatização
da administração do sistema municipal de ensino ocorreu entre os anos de 1991 e
1992, na gestão do então prefeito Ricardo Barros, à época filiado ao PFL (Partido da
Frente Liberal). Em seu mandato, foi instituído o Programa Especial de Trabalho –
Escola Cooperativa, através do decreto nº 849, de 20 de dezembro de 1991. Por
intermédio desse programa, a Prefeitura do Município “transferiu do Poder Público
para terceiros, [...] a responsabilidade de gestão de serviços públicos” (GOMES,
2006, p. 10). Assim, no caso em tela, o Poder Público outorgou a empresas privadas
a administração das escolas municipais de educação fundamental, remunerando-as
proporcionalmente ao número de alunos matriculados.
No entanto, a lei que instituiu o PND previa a transferência ao setor privado
das atividades cuja exploração fosse indevida para o setor público, o que
obviamente não é o caso da educação. Nesse sentido, a administração dos serviços
de educação jamais deveria ser objeto de privatização ou terceirização, por se
constituir um dever do Estado, nos moldes do artigo 205 da Constituição Federal de
1988, a qual estabelece que a educação é um “direito de todos e dever do Estado e
da família” (BRASIL, Constituição Federal, 1988).
A chamada Escola Cooperativa era uma instituição de caráter privado e, em
tese, não lucrativa. Mello (2011, online) afirma que as escolas cooperativas
“representam uma alternativa valorizada pelas famílias de baixa renda”. O objetivo
do projeto, conforme estabelecido no artigo 1º do decreto 849/91, era de
“racionalizar as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Educação, visando a
otimização dos procedimentos administrativos e os dispositivos legais que regem a
educação pública e a contratação de serviços de terceiros pelo Poder Público”
(MARINGÁ, 1991).
Corrêa (1993, pp. 59-60) afirma que o então prefeito Ricardo Barros, ao
assumir seu mandato, em 1988, encontrou uma situação de boa qualidade no
ensino público, mas, de acordo com sua avaliação, essa situação favorável ainda
‘poderia ser melhorada, se afastados os malefícios originados na macrogestão
pública’. A partir deste pressuposto, foi criado o conceito de escolas cooperativas.
18
Significa dizer que, não obstante os sucessos alcançados, a administração pública é
ineficiente e desinteressada na qualidade dos serviços prestados. Ora, se tal
ineficiência de fato existe, o problema geralmente reside na gestão dos recursos.
Não por essa razão tais serviços devam ser transferidos ao setor privado, mas sim
corrigidas as distorções que ocorrem no setor público.
O próprio decreto de instituição da Escola Cooperativa previa em seu texto a
possibilidade de contratação de serviços de terceiros direcionados às finalidades
educacionais. O artigo 4º estabelecia que, para operacionalizar o programa, seriam
utilizados recursos humanos e materiais da administração pública, ou seja,
profissionais, infraestrutura, equipamentos, instalações, e apenas a gestão seria
privada, sob a figura jurídica da cooperativa.
As diretrizes educacionais continuavam sendo responsabilidade do poder
público, conforme estabelece o artigo 23 do decreto 849/91, através da ora existente
Secretaria de Desenvolvimento Humano, por intermédio da Diretoria de Educação, à
qual competia administrar as Unidades Escolares do Município.
A prestação dos serviços e a gestão das cooperativas educacionais era
terceirizada para as empresas privadas. De acordo com relatos de profissionais da
educação, muitos professores ora contratados mediante teste seletivo, cujo contrato
era regido pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, demitiram-se ou foram
demitidos, e após, recontratados através das cooperativas. Outros se reuniram em
grupos e formaram cooperativas próprias de professores para concorrerem em
licitações com o poder público municipal.
Um fato que deve ser considerado é que a experiência de privatização da
gestão do ensino público em Maringá não trouxe custos ou qualquer espécie de
contraprestação devida pelo cidadão, usuário dos serviços. Ou seja, o ensino
continuou sendo gratuito, conforme relataram alguns usuários consultados. O
problema era o fato de que recursos públicos estavam sendo direcionados à
iniciativa privada, quando o poder público tem a prerrogativa de oferecer os serviços
de educação.
Na página virtual do ex-prefeito Ricardo Barros, há uma afirmação de que o
programa Escola Cooperativa possibilitou a redução dos custos e a elevação do
nível de qualidade do ensino público municipal. No entanto, medidas como essa,
que transferem recursos públicos à iniciativa privada, vão ao encontro da lógica do
19
Estado Mínimo e a favor do capitalismo de mercado, exatamente de acordo com o
liberalismo econômico proposto por Smith, segundo o qual o Estado deveria exercer
apenas três funções: “a defesa contra os inimigos externos; a proteção de todo
indivíduo de ofensas dirigidas por outros indivíduos; e o provimento de obras
públicas, que não possam ser executadas pela iniciativa privada” (SMITH, apud
Behring e Boschetti, 2011, pp. 59-60).
2.6 A PRIVATIZAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DA CAPSEMA
Nesse mesmo contexto de privatização está inserida a questão da CAPSEMA
– Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de
Maringá. Esse fundo, além de ser destinado originalmente a aposentadorias e
pensões, prestava assistência à saúde dos servidores municipais. A Prefeitura
abandonou a prestação do atendimento de saúde aos servidores, deixando de
realizar os repasses previstos em lei municipal, por entender que o pagamento seria
inconstitucional. Além disso, havia o argumento de que o fundo de assistência à
saúde da CAPSEMA teria acumulado até o ano de 2007 uma dívida de R$ 2,5
milhões (Jornal O Diário, 2007, online), o que corrobora o argumento anteriormente
citado de que as instituições ora sob a mira das privatizações e/ou terceirizações
seriam declaradas deficitárias pelo poder público. De acordo com o SINASEFE 2
(2008, online, p. 7) o recorrente discurso do déficit é manipulador e ideológico, pois
“pretende criar uma comoção social em favor da privatização da Previdência”.
Após o encerramento da prestação dos serviços de saúde, o atendimento
passou a ser realizado pelo SAMA – Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores
Municipais de Maringá, operacionalizado pelo Hospital Santa Rita (Associação
Beneficente Bom Samaritano), vencedor do processo de licitação. Segundo relatos
de usuários dos serviços, o atendimento realizado decaiu muito no quesito
qualidade. Quando operacionalizado pela CAPSEMA, havia uma extensa rede de
profissionais conveniados para atendimento. Ocorre hoje que, em muitas
2
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. In:
Cartilha da Previdência Social, 2008.
20
especialidades médicas, não existe a possibilidade de escolha dos profissionais de
saúde por parte dos usuários, sendo estes atendidos geralmente por profissionais
vinculados ao próprio hospital. Outra queixa recorrente refere-se ao longo tempo de
espera para a liberação de consultas especializadas.
As informações a seguir são baseadas em relatos de servidores públicos
efetivos, diretamente relacionados ao processo de extinção da CAPSEMA, ou que,
em razão das atividades exercidas em seus respectivos órgãos da municipalidade,
eram conhecedores da situação. Os relatos dão conta de que o primeiro e principal
argumento que, em tese, justificaria o fim do atendimento à saúde do servidor
municipal pela CAPSEMA era contábil, sob a alegação de que o sistema não seria
autossustentável.
O artigo 14 da Lei Complementar 386/2001 previa a obrigatoriedade do
repasse de recursos para o fundo, mediante consignação em folha de pagamento, à
razão de 3% (três por cento) por parte dos segurados, e de 8% (oito por cento),
como contrapartida devida pela Administração Direta, Indireta, Autárquica e
Fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo do Município. O artigo 18, letra “d”
estabelecia a competência dos mesmos órgãos da administração pública de “incluir
em seus orçamentos anuais as dotações necessárias ao cumprimento de suas
obrigações para o Fundo de Saúde do Servidor Público Municipal de Maringá”.
Os argumentos relativos à falta de sustentabilidade do fundo tinham início
quando da realização de procedimentos de alta complexidade e alto custo, como por
exemplo, tratamentos de oncologia e cirurgias. O segurado, nesse caso, deveria
arcar com a contrapartida referente a um percentual do custo do tratamento, além
dos 3% descontados em folha. O artigo 20 da LC 386/2001 estabelecia que,
havendo necessidade de parcelamento dessa contrapartida, o valor descontado em
folha não poderia exceder a dez por cento de sua remuneração, o que, segundo os
argumentos contábeis apresentados, seria insuficiente para cobrir tais custos.
Inclui-se aí o fato de que, se o servidor necessitar de um novo procedimento
médico, durante o prazo de pagamento do primeiro, prolongaria ainda mais o tempo
para a quitação dos mesmos, em virtude de lei que não permitia majorar o desconto
em folha além dos dez por cento fixados. Caso o servidor municipal viesse a falecer
nesse período, a dívida não poderia ser descontada dos proventos da pensão, e
21
seria assumida pelo fundo de saúde. Nisso consistiam os argumentos referentes à
possibilidade de endividamento e insolvência do sistema.
Voltando ao âmbito jurídico da questão, o principal argumento apresentado
era de que o repasse dessa contrapartida por parte do poder público para o fundo de
saúde seria inconstitucional, sob a alegação de que se constituía um tratamento
diferenciado que beneficiaria a classe dos servidores municipais, em detrimento da
totalidade da população.
Outra questão apontada no processo era de que não havia procedimentos de
licitação para o credenciamento de profissionais que prestavam serviços para o
fundo de saúde, pois na prática, o atendimento à saúde do servidor sempre foi
terceirizado a profissionais credenciados. O credenciamento era feito mediante livre
opção do profissional, se este se prontificasse a aderir ao atendimento pelo plano. A
CAPSEMA apenas gerenciava os custos, controlava os gastos e emitia as guias
para o atendimento. Já em relação à adesão, o plano era de caráter obrigatório para
o servidor, o que, em tese, contrariava seu direito de escolha entre associar-se ou
não ao plano de saúde, sendo que a voluntariedade deveria ser uma característica
básica de qualquer tipo de seguro.
Um dos argumentos favoráveis à manutenção da prestação dos serviços de
saúde ao servidor pela CAPSEMA faz referência a um vício regimental na origem da
lei ordinária 687/2007, que instituiu o novo Sistema de Atenção à Saúde dos
Servidores do Município de Maringá. A Lei 687/2007 foi sancionada em data anterior
à aprovação da alteração na Lei Orgânica do Município, que autorizaria a criação do
novo fundo. A referida lei foi sancionada no dia 14 de novembro de 2007, ao passo
que a alteração na Lei Orgânica foi votada somente em 20 de novembro de 2007,
quando então o artigo 67-A foi incluído com a seguinte redação:
“Art. 67-A: O Município manterá programa ou sistema destinado à
concessão e manutenção de benefícios de atendimento à saúde dos
servidores titulares de cargos efetivos, bem como de seus respectivos
dependentes, na forma definida em lei”.
Ocorreu, portanto, uma inobservância dos trâmites legais, que
invalidaria todo o processo legislativo. Uma vez que a alteração da Lei
Orgânica do Município, que possibilitaria a implementação do novo sistema de
atenção à saúde do servidor não havia sido votada e aprovada, é inaceitável que a
22
referida Lei Complementar que rege tal matéria tenha sido votada e sancionada,
sem que houvesse a devida previsão legal.
Outro fato obscuro da lei que instituiu o novo sistema de atenção à
saúde do servidor é a falta de previsão das fontes de recursos para a
manutenção e o custeio do novo fundo de saúde, e como será feita sua
destinação. Isto permite supor que tais recursos devam, portanto, serem
oriundos do orçamento geral do Município, ao contrário do que ocorria com o
fundo de saúde da CAPSEMA, cuja fonte de recursos era vinculada à folha de
pagamento. Dessa forma, ocorreria a destinação de recursos de caráter geral para
a iniciativa privada gerenciar o novo fundo de saúde dos servidores.
Já o argumento de ilegalidade do repasse da contrapartida do município seria
improcedente, conforme apontado pelo SISMMAR – Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Maringá (2007, online), ao afirmar que “o Tribunal de Contas
em nenhum momento reprovou as contas da CAPSEMA nem tampouco considerou
ilegal a manutenção do repasse patronal”. Os dirigentes citam o Acórdão TCE/PR nº
1440/06, a resposta ao Ofício nº 030/2007-CM, o Relatório Preliminar de Auditoria nº
45/06 do Ministério Público, e a sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Cascavel
– PR (processo nº 832/2003), afirmando que a análise destes documentos não
aponta para a ilegalidade e a suspensão do repasse.
Lembram ainda que a Resolução TCE/PR nº 4403/01 relata a existência de
uma jurisprudência que garantiria o repasse aos servidores púbicos, e que a
sentença apontada como justificativa para o fim do repasse era específica para os
municípios de Cascavel e Guaíra, cuja situação do fundo de saúde não se
equiparava à de Maringá.
Os recursos componentes do Fundo de Saúde do Servidor Público Municipal
de Maringá eram provenientes da folha de pagamento dos próprios servidores,
incluídos na categoria de gastos com pessoal, passíveis de controle pela LC
101/2000 (LRF), e não utilizava recursos do Fundo Municipal de Saúde. Não se
constituía, assim, uso indevido de recursos públicos para o benefício de uma
categoria específica, por possuir previsão orçamentária própria.
O discurso de ilegalidade, nesse caso, parece ter um viés ideológico e de
favorecimento a terceiros. Ao suspender o repasse para o fundo de saúde da
23
CAPSEMA, ocorreu exatamente o que se poderia esperar, ou seja, uma privatização
da prestação de assistência à saúde do servidor, mediante abertura de um processo
de licitação. Daí decorre que continua havendo o repasse de recursos públicos para
a manutenção dos serviços de saúde para a classe do funcionalismo público, mas
desta vez, diretamente para a iniciativa privada.
O que teria ocorrido, nesse caso, com o argumento da ilegalidade do repasse
patronal ao fundo? O que ficou claro é que nada mudou efetivamente, em relação à
transferência de recursos à iniciativa privada. Finalmente, o que parece é que, à
época, a propaganda seria destinada ao propósito de “criar a ilusão de que o
funcionalismo é uma classe cheia de privilégios que custam muito caro para o
Estado” (SINASEFE, 2008, p. 10), lançando a opinião pública contra os servidores.
A precarização do fundo de saúde da CAPSEMA não tem outra origem senão
a suspensão do repasse do percentual de 8%, por parte da Administração Municipal.
Foi a partir desse corte de recursos que o sistema passou a ter problemas de caixa.
Isto parece ter sido feito com o propósito de justificar a criação de um novo sistema
em detrimento do que já existia.
2.7 A QUESTÃO DA APOSENTADORIA INTEGRAL DO FUNCIONALISMO
Com o encerramento do fundo de atendimento à saúde do servidor e a
revogação da Lei 386/2001, em face da aprovação da Lei 687/2007, era imperioso,
em tese, regulamentar a situação do fundo previdenciário, uma vez que a Lei
386/2001 regulamentava juntamente os dois fundos. Oportunamente, em razão da
necessidade de regulamentação do fundo previdenciário, foi criado o Maringá
Previdência, o qual, vale lembrar, não extinguiu nem substituiu por completo a
CAPSEMA.
Os problemas do fundo previdenciário tinham origem a partir do momento em
que novos funcionários públicos municipais, que contribuíram a maior parte de seu
tempo de atividade para o INSS, repentinamente se aposentavam pela CAPSEMA,
que não tinha meios legais, à época, para requerer as compensações financeiras
entre os fundos previdenciários. Assim, o fundo previdenciário municipal acabava
24
arcando com todo o benefício concedido ao servidor. Além disso, o funcionário em
final de carreira tinha o direito de se aposentar com todas as verbas remuneratórias
que recebia por ocasião da aposentadoria, bastando que, em seu último mês de
atividade, estivesse exercendo um cargo com função gratificada, por exemplo. Toda
a verba remuneratória referente às gratificações seria automaticamente incorporada
ao valor do benefício, o que não ocorre hoje, em obediência ao disposto no
parágrafo 3º do artigo 40 da Emenda Constitucional 41/2003: “Para o cálculo dos
proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes
de previdência” (BRASIL, 2003, online). Assim, estabeleceu-se a não-incidência de
contribuição previdenciária sobre os proventos relativos às funções gratificadas, na
Prefeitura de Maringá.
Além disso, quando da criação do fundo Maringá Previdência, foi adotada
uma regra de transição, baseada na segregação de massas. Os antigos servidores,
admitidos no serviço público municipal anteriormente à EC 41/2003, estão incluídos
no fundo financeiro que é inteiramente financiado pela Prefeitura, até que se esgote
essa categoria. Os novos servidores, admitidos após a EC 41/2003, estão incluídos
no fundo previdenciário, custeado pela autarquia (Maringá Previdência).
O artigo 6º da emenda estabelece ainda que os servidores públicos de
quaisquer das esferas governamentais (federal, estadual ou municipal), poderão se
aposentar
com
proventos
integrais,
compreendendo
a
totalidade
de
sua
remuneração, se vierem a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: “[...]
III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; [...] e, IV – dez anos de
carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”
(BRASIL, 2003, online).
Com isso, as regras para a concessão dos benefícios de aposentadoria e
pensão tornaram-se mais rígidas. Servidores que tenham realizado transposição de
cargos mais baixos para cargos mais elevados, ainda que mediante concurso
público, deverão cumprir um tempo maior na nova função antes de se aposentarem,
bem como os trabalhadores vindos do setor privado, ingressantes no setor público.
Visando a regulamentação da EC 41/2003, está em fase de tramitação na
Câmara dos Deputados um outro projeto de lei, o PL 1992/2007, o qual tem o
propósito de instituir um regime complementar de previdência do servidor público
25
federal. Segundo informações dos dirigentes do SINASEFE (2008, p. 10), a grande
armadilha desse projeto de lei seria o fato de que os novos servidores terão a
“oportunidade” de optar pelo fundo de pensão complementar, e, caso assim não o
façam, seus proventos de aposentadoria serão fixados no mesmo teto dos
trabalhadores da iniciativa privada.
Corroborando essa posição, o FONACATE 3, argumenta que o PL 1992/2007
não aborda “a portabilidade das contribuições previdenciárias do servidor e a
patronal do ente da Federação” (2010, p. 3). Existe, portanto, uma tendência de
“achatamento” dos benefícios previdenciários. Na prática, isso significaria o fim da
aposentadoria integral para o servidor público federal, depois de décadas de
contribuição sobre a totalidade de seus vencimentos, o que é no mínimo injusto.
Caso seja aprovado o referido projeto de lei, os funcionários públicos federais serão
a primeira categoria a ter instituído um plano de previdência complementar, o que
significa que os recursos dos fundos de pensão passarão a ser geridos por
entidades do mercado financeiro, o que aumentaria por demais os riscos ao sistema
previdenciário, em função das graves crises financeiras internacionais.
3
Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. In: Manifesto coletivo contra a
previdência complementar.
26
3 CONCLUSÕES
A intenção ao se desenvolver esta pesquisa foi de proporcionar uma ideia
geral de como se desencadeou o processo de precarização e privatização do fundo
de saúde da CAPSEMA, sem, contudo, tencionar o esgotamento do assunto, o que
seria impraticável e por demais pretensioso. Destaque-se que, a partir da década de
1990, ocorreu no Brasil a implementação do modelo neoliberal, com a instituição de
planos de desnacionalização do patrimônio público nacional, com incentivos ao
ingresso de empresas multinacionais no país, e o consequente fortalecimento do
capital privado. A propaganda ideológica utilizada na época era de déficits e
ineficiência na prestação dos serviços públicos, e por essa razão era amplamente
alardeada a privatização de tais serviços.
A privatização do fundo de saúde da CAPSEMA seguiu essa mesma lógica
do neoliberalismo, na qual o Poder Público se posiciona a favor do capital e do
desmantelamento das políticas sociais públicas. À época, nada foi feito na tentativa
de salvaguardar o fundo de saúde da CAPSEMA, antes foi extinto e a assistência à
saúde dos servidores entregue à iniciativa privada, por força de uma lei aprovada às
pressas, quase no apagar das luzes do ano de 2007.
A precarização e os supostos déficits do fundo de saúde somente vieram a
existir em decorrência da suspensão dos repasses. Portanto, é fato que poderia ter
havido uma saída que mantivesse o fundo de saúde da CAPSEMA, ainda mais se
considerando que não havia (ao contrário do que se afirmava) questionamentos
acerca da legalidade dos repasses da Prefeitura. Bastava então que houvesse a
continuidade dos repasses previstos em lei, uma vez que o sistema já estava
estruturado e em funcionamento, e, partindo deste, estudar formas de adequação do
fundo ora existente, sem que isso resultasse em grandes prejuízos para o servidor
municipal.
Em relação ao sistema previdenciário dos servidores municipais de Maringá, o
primeiro passo para a ruína já pode ter sido dado quando do encerramento do
atendimento à saúde. Da mesma forma como ocorreu com esse fundo, o mercado
financeiro tem grande interesse em gerir esse enorme volume de recursos
financeiros dos fundos de pensão dos servidores públicos. O que resta saber é se o
27
fundo de aposentadoria do servidor público municipal de Maringá estaria seguindo
pelo mesmo caminho, o que fatalmente resultaria em inestimáveis perdas para a
categoria.
Com o PL 1992/2007, o servidor público federal poderá ser o pioneiro do
possível fim da aposentadoria integral, tendo seus proventos de pensão fixados a
um teto máximo, de acordo com o estabelecido pelo INSS para as aposentadorias
do setor privado. O que seria no mínimo injusto, ter os proventos de aposentadoria
reduzidos, após contribuir durante 35 anos sobre a integralidade da remuneração.
Se o PL 1992/2007 for aprovado dessa forma, acredita-se que seria apenas uma
questão de tempo para as demais esferas governamentais seguirem a mesma
tendência.
28
REFERÊNCIAS
ANFIP – Associação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias.
Previdência, sociedade e desenvolvimento econômico. Brasília: Teixeira gráfica
e editora, 2001.
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e
história. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
BOSCHETTI, Ivanete; BEHRING, Elaine Rossetti (orgs.). Política social no
capitalismo: tendências contemporâneas. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2009.
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de
julho de 1934). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm>
Acesso em 09 set. 2011.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil:
Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988. Brasília: Senado Federal,
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2010, 103 p.
BRASIL. Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm>
Acesso em 09 out. 2011.
COELHO, Ricardo Corrêa. Estado, Governo e Mercado. Florianópolis:
Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES: UAB, 2009.
COELHO, Ricardo Corrêa. O Público e o Privado na Gestão Pública.
Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] :
CAPES: UAB, 2009.
CORRÊA, Vera Lúcia de Almeida. Avaliação de programas educacionais: a
experiência das escolas cooperativas em Maringá (PR). Rio de Janeiro, 1993.
Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8064/000060893.pdf?s
equence=1> Acesso em 05 out. 2011.
29
CRAVEIRO, Adriéli Volpato. O trabalho como processo histórico-social na
perspectiva marxista. Revista Pontes – Janeiro-Fevereiro de 2010 – nº 9 – pp. 3249. ISSN: 1808-6462. Disponível em: <http://pontesrevista.com.br/wpcontent/uploads/2010/05/hist%C3%B3rico-social.pdf> Acesso em 05 set. 2011
FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do estado capitalista: as funções
da previdência e da assistência sociais. 6 ed. São Paulo: Cortez, 1991.
FASSY, Amauri. Brasil: do FMI ao caos. São Paulo: Global, 1984.
FERNANDES, Antônio Sérgio Araújo. Políticas Públicas: definição, evolução e o
caso brasileiro. Disponível em:
<http://serv01.informacao.andi.org.br/b6d71ce_114f59a64cd_-7fcc.pdf> Acesso em
11 ago 2011.
FIORI, José Luís. Estado de bem-estar social: padrões e crises. Em: Physis: Rev.
Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, 7(2): 129-147, 1997.
FONACATE – Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado.
Manifesto coletivo contra a previdência complementar. Disponível em:
<http://www.fonacate.org.br/fn/public/web_disk/documentos/2011/manifesto_coletico
_contra_o_pl_1992.pdf> Acesso em 10 out. 2011.
GOMES, Antônio José. Escola cooperativa no Brasil: mito e realidade. Disponível
em:<http://www.ufpi.edu.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/2006.gt16/GT1
6_2006_05.PDF> Acesso em 03 out 2011.
Grupo Krisis. Manifesto contra o trabalho. Tradução de Heinz Dietermann.
Coleção Baderna. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2003.
HOMCI, Arthur Laércio. A evolução histórica da previdência social no Brasil. Jus
Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2104, 5 abr. 2009. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/12493>. Acesso em: 08 set. 2011.
MARINGÁ. Lei Complementar Municipal nº 386, de 20 de agosto de 2001.
MARINGÁ. Decreto nº 849, de 20 de dezembro de 1991.
30
MELLO, Guiomar Namo. Deve haver subsídio público para a educação privada?
Disponível em: <http://www.observadorpolitico.org.br/2011/07/deve-haver-subsidiopublico-para-a-educacao-privada/> Acesso em 03 out 2011.
MELLO, Leonel Itaussu A.; COSTA, Luís César Amad. História moderna e
contemporânea. 5 ed. revista e atualizada. São Paulo: Scipione, 1995.
MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, classe e movimento
social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
MORAES, Marcelo Viana Estevão de. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a
Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Brasília: FUNPREV, 2001.
O Diário Maringá. Disponível em:
<http://maringa.odiario.com/maringa/noticia/160779/fundo-de-saude-da-capsemaacumula-divida-de-25-milhoes-de-reais/> Acesso em 01 out. 2011.
PINHEIRO, Waldomiro Vanelli. A reforma da previdência. Frederico Westphalen:
Ed. da URI, 1999.
SINASEFE – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica. Cartilha da Previdência Social, 2008. Disponível em:
<www.sindscope1.files.wordpress.com/2008/11/cartilha_previdencia.pdf> Acesso em
01 out. 2011.
SISMMAR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá. Disponível
em: <http://sismmar.blogspot.com/2007/10/capsema.html> Acesso em 01 out. 2011.
SISMMAR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maringá. Disponível
em: <http://sismmar.blogspot.com/2007/02/corte-do-repasse-capsema-perdemos.html> Acesso em 05 out. 2011.
WALDRAFF, Célio Horst. A distinção entre o Liberalismo Clássico e o
Neoliberalismo. Disponível em:
<http://www.fiscolex.com.br/doc_857933_A_DISTINCAO_ENTRE_LIBERALISMO_C
LASSICO_NEOLIBERALISMO.aspx>. Acesso em: 05 out. 2011.
31
YAZBEK, Maria Carmelita. Estado e políticas sociais. Disponível em:
<www.ess.ufrj.br/ejornal/index.php/praiavermalha/article/download/39/24> Acesso
em 10 set. 2011.
_______<http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/governo-vargas-1951-1954suicidio-de-getulio-pos-fim-a-era-vargas.jhtm> Acesso em 16 set. 2011.
_______<http://www.ricardobarros.com.br/prefeito.php> Acesso em 01 out. 2011.
_______<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/501938.pdf> Acesso em 10 out.
2011.
_______<http://www2.maringa.pr.gov.br/site/index.php?sessao=c0bdccf5e455c0&id
=14592> Acesso em 22 out. 2011.
_______<http://www.cesumar.br/radiocesumar/megafone/agencia/show_news.php?s
ubaction=showfull&id=1196256165&archive=&template=vejamais-ruc> Acesso em
22 out 2011.