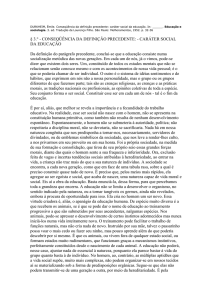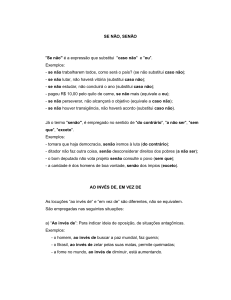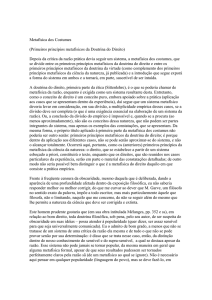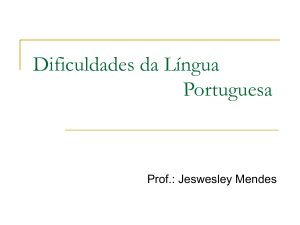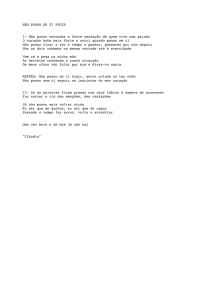SER E TER
1
PRIMEIRA PARTE: SER E TER
I – DIÁRIO METAFÍSICO (1928-1933)
10 de novembro de 1928
Tomo hoje a firme resolução de continuar meu diário metafísico, talvez sob a forma de
uma série de meditações encadeadas.
Faz algum tempo que tenho entrevisto uma ideia que poderia ser importante: retomando
minhas considerações fundamentais sobre a existência, perguntava-me se é possível dizer de
algum modo que uma ideia existe; e eis o que tenho vislumbrado: a ideia enquanto que
representada – como um objeto (outro dia refletia sobre isso que entendemos pelas facetas de
uma ideia) – participa da in-existência do objeto como tal; o objeto não existe senão enquanto
participa da natureza de meu corpo; dito de outro modo: enquanto que não é pensado como
objeto. Não seria necessário dizer assim mesmo que pode haver, que há, uma existência da
ideia precisamente enquanto que esta é irredutível às representações pseudo-objetivas que
fazemos dela? A interpretação materialista, por inadequada que seja em si mesma, implicaria,
ao menos, o sentimento confuso do que busco expressar aqui. Poder-se-ia dizer que a ideia
existe na medida em que é aderente. Quisera intentar aclarar isto com a ajuda de exemplos
concretos, porém, naturalmente, é muito difícil. O ponto de partida de minhas reflexões de
outro dia era a ideia de um acontecimento (a operação de X), que eu temia por múltiplas
razões. Dir-se-ia que eu dava voltas à ideia ou que ela mesma girava e me apresentava
sucessivamente distintas facetas; quer dizer, que eu a representava por analogia com um
objeto de três dimensões, por exemplo, com um dado.
22 de novembro de 1928
Ideia curiosa: a imputabilidade ou, melhor, o desejo de imputar (de ter algo ou alguém a
que ou a quem jogar a culpa) não estaria na origem de toda “explicação causal”? Tenho a
impressão de que isto poderia levar-nos muito longe. Parece-me que está muito próximo à
psicologia nietzschiana.
Notas:
Para uma comunicação à Sociedade de Filosofia (estas notas não fechadas foram
escritas em 1927 ou 1928)1
Quando afirmo que uma coisa existe, é que considero tal coisa como vinculada a meu
corpo, como suscetível de entrar em contato com ele, por indiretamente que seja. Unicamente
1
Esta comunicação não passou do estado de projeto.
2
é preciso ter muito em conta que esta prioridade, que desta maneira atribuo a meu corpo,
deve-se ao fato de que este me é dado de modo não exclusivamente objetivo, ao fato de que é
meu corpo. O caráter, ao mesmo tempo misterioso e íntimo, da vinculação entre eu e meu
corpo (não emprego o termo relação de propósito) tem, na realidade, todo o juízo existencial.
Isto vem a significar que realmente não se pode dissociar:
Existência;
Consciência de si como existente;
Consciência de si como ligado a um corpo, como encarnado.
Disto parecem derivar-se várias consequências importantes:
1. Em primeiro lugar, o ponto de vista existencial sobre a realidade não parece poder ser
outro que o de uma personalidade encarnada; na medida em que podemos imaginar um
entendimento puro, não há para este possibilidade nenhuma de considerar as coisas
como existentes ou não existentes.
2. Por outro lado, o problema da existência do mundo exterior se transforma e, inclusive,
pode perder seu significado; com efeito, eu não posso, sem cair em contradição, pensar
meu corpo como não-existente, posto que (enquanto que é meu corpo) todo o existente
se define e se situa em relação a ele; contudo, deve-se também perguntar se há razões
suficientes para conceder a meu corpo um estatuto metafísico privilegiado a respeito das
outras coisas.
3. Se é assim, pode-se perguntar se a união da alma e do corpo é de uma essência
realmente diferente da união da alma e das outras coisas existentes: em outras
palavras, se sob toda afirmação de existência está como subjacente uma certa
experiência de si como ligado ao universo.
4. Examinar se tal interpretação do existencial conduz ao subjetivismo.
5. Mostrar como o idealismo tende inevitavelmente a eliminar toda consideração existencial
em razão da ininteligibilidade radical da existência. O idealismo contra a metafísica. Os
valores separados da existência: demasiado reais para existir.
Solidariedade estreita entre as preocupações existenciais e as preocupações
personalistas. O problema da imortalidade da alma, gonzo da metafísica.
Todo o existente pensado como obstáculo localizável – com algo contra o que tropeçarei
em certas circunstâncias – resistente, impermeável. Esta impermeabilidade é pensada, sem
3
dúvida, porém pensada como algo não absolutamente pensável.
2
De modo parecido meu
corpo, que é pensado enquanto que é um corpo, porém, meu pensamento tropeça contra o fato
de que seja meu corpo.
Dizer que uma coisa existe não somente é dizer que pertence ao mesmo sistema que
meu corpo (que está unida a ele por certas relações racionalmente determináveis), é dizer que
de alguma maneira está unida a mim como meu corpo.
A encarnação – dado central da metafísica. A encarnação, situação de um ser que
aparece como ligado a um corpo. Dado não transparente a si mesmo: oposição ao cogito.
Deste corpo eu não posso dizer sequer que é eu, nem que é para mim (objeto). De início, a
oposição entre sujeito e objeto se torna transcendida. Inversamente, se parto de tal oposição
tomada como fundamental, não haverá malabarismo lógico algum que me permita recuperar
esta experiência; esta será inevitavelmente evitada ou rechaçada, o que vem a ser o mesmo. É
inútil objetar que esta experiência apresenta um caráter contingente; na realidade toda
investigação metafísica exige um ponto de partida deste gênero. Não pode partir senão de uma
situação sobre a que se reflete sem que se possa compreender.
Examinar se a encarnação é um fato. Não me parece, é o dado a partir do qual é
possível um fato (coisa que não é verdade a respeito do cogito).
Situação fundamental e que, em rigor, não pode ser dominada, submetida, analisada.
Esta é precisamente a impossibilidade que se afirma quando declaro, confusamente, que eu
sou meu corpo, quer dizer: eu não posso tratar-me em absoluto como um termo distinto de
meu corpo, que estaria com ele uma relação determinável. Como já disse em outras ocasiões,
desde o momento em que o corpo é tratado como objeto de ciência, ao mesmo tempo me exilo
ao infinito.
Aqui está a razão pela qual não posso pensar minha morte, senão tão somente a
interrupção no funcionamento de uma máquina (illam, não hanc). Talvez seria mais exato dizer
que não posso antecipar minha morte, quer dizer, perguntar-me que serei eu quando a
máquina deixe de funcionar.3
29 de fevereiro de 1929
Talvez tenha descoberto uma ilusão capital (conferir minhas anotações anteriores sobre
a encarnação) implicada na ideia segundo a qual a opacidade estaria vinculada à alteridade –
Está pensada, porém nunca reduzida. A opacidade do mundo é, em certo sentido, irredutível. Relação entre
opacidade e a “Meinheit”; minha ideia me é opaca a mim mesmo enquanto que é minha: noção de aderência
(Anotação de 24 de fevereiro de 1929).
3 Ideia de um compromisso. Mostrar em que sentido esta envolve a impossibilidade (ou a não validez absoluta) de
uma representação de minha morte. Buscando pensar minha morte quebrando as regras do jogo. Porém, é
radicalmente ilegítimo converter dita impossibilidade em uma negação dogmática (anotação de 24 de fevereiro de
1929).
2
4
sendo, então, sem dúvida, verdadeiro o contrário: a opacidade não procede em realidade do eu
que se interpõe entre si mesmo e o outro, intervindo como um terceiro?
A obscuridade do mundo exterior depende de minha obscuridade para comigo mesmo:
não há obscuridade intrínseca alguma do mundo. Deve-se dizer, então, que vem a ser o
mesmo? Perguntar-se até que ponto esta opacidade interior é um fato; não é em grande
medida a consequência de um ato? E não é este o pecado?
Minhas ideias me escapam exatamente pelo lado pelo qual são minhas; é por aqui onde
me são impermeáveis.
4
O problema que me apresento é o de saber se não acontece assim
para toda a realidade: não é ela impenetrável precisamente enquanto estou comprometido com
ela?5
No fundo, pensar com claridade tudo isto é terrivelmente difícil. Alegremente diria,
empregando outra linguagem, a do Diário Metafísico, que enquanto meu corpo é o mediador
absoluto, deixo de comunicar com ele (comunicar no sentido em que o faço com qualquer outro
setor objetivo da realidade). Digamos de novo que não é nem pode ser-me dado. Pois todo
dado estabelece um processo de objetivação indefinida, que é o que eu entendo pelo termo
permeável.
6
A impermeabilidade de meu corpo lhe pertence em virtude de sua qualidade de
mediador absoluto. Porém, é evidente que meu corpo, neste preciso sentido, sou eu mesmo,
pois não posso distinguir-me dele mais que a condição de convertê-lo em objeto, quer dizer, de
não tratá-lo mais como mediador absoluto.
Romper, por consequência, de uma vez por todas com as metáforas que representam a
consciência como um círculo luminoso ao redor do qual não haveria para ela senão trevas. É,
ao contrário, a sombra quem ocupa o centro.
Quando busco esclarecer minha vinculação ao meu corpo, este me aparece como algo
que antes tenho prática (como um piano, um serra ou uma máquina de barbear); contudo,
todas essas práticas são prolongações da prática inicial que é precisamente a do corpo. E é a
respeito da prática, e de nenhum modo a respeito do conhecimento, a verdadeira prioridade de
que gozo em relação ao meu corpo. Dita prática somente é possível sobre a base de uma certa
comunidade sentida. Porém, esta comunidade é indivisível, eu não posso dizer legitimamente:
eu e meu corpo. Dificuldade que radica em que penso minha relação com meu corpo por
analogia à minha relação com meus instrumentos – a qual, contudo, realmente supõe a
anterior.
E tornam-se um princípio de obscurecimento interior, é nesta medida, com efeito, em que me dominam e fazem
de mim uma espécie de escravo-tirano. Tudo isto se aclara à luz da Fenomenologia do Ter, esboçada em 1933
(Anotação de 13 de abril de 1934).
5 Antecipava aqui algo sobre o que escrevi mais tarde: o mistério. Contudo, esta passagem implica seguramente
uma confusão entre opacidade e mistério (Anotação de 13 de abril de 1934).
6 Inclusive me parece que aqui há uma confusão: o objeto, enquanto tal, me é, por definição, acessível, porém, de
nenhum modo permeável. É o outro ou, mais exatamente, o “Tu” quem é permeável (13 de abril de 1934).
4
5
28 de fevereiro de 1929
Tenho pensado esta tarde (a propósito da palestra que tem lugar no dia 09 na rua
Visconti) que a única vitória possível frente ao tempo participa, segundo vejo, da fidelidade
(que aprofunda a sentença de Nietzsche: o homem é o único ser que faz promessas). Não há
estado privilegiado que nos permita transcender o tempo: o erro de Proust é não fazê-lo
compreendido. Um estado como o que ele descreve não tem outro valor que o de uma isca
(engodo). Intuo que esta noção de isca está chamada a desempenhar um papel cada vez mais
central em meu pensamento. Porém, o que é preciso ver, e que me separa, creio eu, de
Fernandez, é que dita fidelidade, sob pena de permanecer estéril e de ficar reduzida a pura
obstinação, deve ter como ponto de partida o que chamarei um dado absoluto (isto o que sinto
em grau máximo em relação aos seres que quero). Em princípio, é necessário que haja a
experiência de uma entrega: algo nos foi confiado, de tal modo que não somente somos
responsáveis ante nós mesmos, senão, também, ante um princípio ativo e superior – e
emprego a desgosto esta palavra tão detestavelmente abstrata.
Como escrevia a M..., tenho por sua vez o temor e o desejo de comprometer-me.
Porém, ainda esta vez...sinto que na origem há algo que me sobrepassa, um compromisso que
foi aceito, a consequência de um oferecimento que me foi feito no mais secreto de mim
mesmo...Deve-se merecer tudo isso. Coisa estranha – se bem que muito clara -, não
continuarei crendo senão na condição de continuar merecendo. Há aqui uma conexão
maravilhosa.
05 de março de 1929
Já não duvido mais. Felicidade milagrosa esta manhã. Tenho vivido pela primeira vez
claramente a experiência da graça. Estas palavras são aterradoras, porém, é assim.
Fui finalmente cercado pelo cristianismo e estou submergido. Bem-aventurada
submersão! Porém, não quero escrever mais.
Não obstante, tenho necessidade de fazê-lo. Impressão de balbucio...é seguramente um
nascimento. Tudo é de outro modo.
Também vejo claro agora em minhas improvisações. Uma metáfora distinta, contrária à
outra – a de um mundo que estava aí inteiramente presente e que, por fim, aflora.
6
06 de março de 1929
Anotações sobre o tempo que pressinto deveras ser importante. Enquanto o sujeito seja
pensado como pura receptividade, o problema das relações entre o tempo e o intemporal é
relativamente simples: com efeito, posso conceber-me como apreendendo sucessivamente
algo que, em certo sentido, está dado simultaneamente (metáfora da leitura); porém, isto não é
senão uma abstração. O sujeito não é pura receptividade ou, mais exatamente, tal apreensão é
ela mesma um acontecimento (uma série indefinida de acontecimentos; implica uma série de
acontecimentos que não é separável da história que revela). Em outros termos: o sujeito está
comprometido enquanto agente (e não é a receptividade mais que a condição de ser
igualmente agente) com o conteúdo que não tinha mais remédio que decifrar pura e
simplesmente. Situação de extraordinária complicação e que é preciso chegar a pensar. Estou
convencido de que é este o verdadeiro caminho, porém, chegarei a esclarecer tudo isto?
Precisarei: dado o conjunto inteligível, o totum simul, ao qual chamo L, chamarei L à
leitura, o conjunto de operações graças ao qual tomo pouco a pouco consciência de seus
elementos. Esta leitura se decompõe em
, porém, estas tomadas de
consciência estão evidentemente vinculadas aos atos a1, b2 e c3. Somente que estes
aparecem ante a reflexão como completamente exteriores, indiferentes a L (e aos passos pelos
que L parece haver-se constituído, passos que, não há do que duvidar, pertencem ao
passado). O fato de que esses passos pertençam ao passado está estreitamente ligado,
observê-mo-lo, a este outro fato: que L se me apresenta como objeto (livro, mesa, nos quais
discirno sucessivamente partes, etc.).
Agora se pode imaginar um caso mais complexo. Suponhamos que assisto a uma
improvisação I. Eu tomo consciência sucessivamente das fases de dita improvisação, pode
suceder que estas fases me apareçam como descontínuas; porém, também, é possível que eu
reconheça a unidade desta improvisação, com independência de que possa ser-me dada,
falando com propriedade, como um objeto, posto que é uma improvisação (isto não é mais que
a compensação da observação que fazia há pouco sobre o propósito do vínculo entre o feito de
que os passos constitutivos pertencem ao passado e esse outro de que o totum simul é objeto,
é dado para mim). Este reconhecimento que se produz no caso da improvisação é já, no fundo,
uma certa participação, quer dizer, não pode produzir-se mais que se eu estou, de alguma
maneira, em seu interior.
Porém, podemos dar um passo a mais. Não é inconcebível que dita participação
contribua ela mesma de algum modo à improvisação. Quanto mais efetiva seja esta
participação, tanto mais ativamente comprometido estarei na improvisação (menos me
comportarei a respeito dela como pura receptividade) e, em certo sentido, tanto mais difícil me
7
será tratá-la como um totum simul. Contudo, esta dificuldade, esta quase impossibilidade,
estará vinculada muito menos à estrutura mesma do conjunto que tratamos que ao modo em
que eu estou ativa e pessoalmente comprometido com ele. Minha situação neste conjunto não
é, para dizer a verdade, tal que não possa de nenhuma maneira separar-me da função que
nele me é atribuída; porém, então, haverá de saber que posição tomarei frente a tal separação
e isto me parece de suma importância.
Poderá suceder que eu esqueça esta separação e me converta em puro espectador.
Porém, esta conversão supõe um risco e é aquele em que o conjunto mesmo tende a
aparecer-me como puro espetáculo, talvez como espetáculo carente de sentido. Porque
o dinamismo inteligível que anima a improvisação talvez não seja captável por mim, mas
que estou ativamente associado a ele. Uma sorte de distância se abre agora para mim,
bem entre eu mesmo e o conjunto, bem entre eu e eu mesmo (isto supondo que em
certo modo rechace de mim mesmo, quer dizer, de puro espectador, as ações
imanentes pelas quais se manifesta minha participação; porém, estas ações assim
isoladas e privadas de seu sentido perdem toda sua significação e seu nada intrínseco
se expõe a comunicar-se por uma autêntica contaminação à improvisação mesma).
Pelo contrário, pode suceder que esta separação seja pensada por mim efetivamente
como um modo interiorizado de participação. Se assim é, continuo formando parte do
sistema, meu lugar será trocado e isso é tudo.
07 de março de 1929
Se não estou equivocado, comete-se um grave erro tratando o tempo como modo de
apreensão (porque, então, se está obrigado a considerá-lo também como a ordem segundo a
qual o sujeito se apreende a si mesmo e isto não é possível mais que a condição de que o
sujeito se distraia, se posso dizê-lo assim, de si mesmo e quebre idealmente com o
compromisso fundamental que lhe faz o que é, tomando a palavra compromisso em seus dois
sentidos).
Isto é em suma o que queria dizer quando considerei, ontem à tarde, que o tempo é a
forma mesma da prova. E desde este ponto de vista, retomando a metáfora, para mim
inesgotável da Improvisação absoluta, chega-se à ideia de que transcender o tempo não é, em
absoluto, elevar-se, como pode fazer-se a cada momento, sobre a ideia vazia em definitiva de
um totum simul – vazia porque permanece exterior a mim e por isto mesmo se encontra em
certa maneira debilitada -, senão participar de uma maneira cada vez mais efetiva na intenção
criadora que anima ao conjunto; em outros termos: elevar-se a planos onde a sucessão
8
aparece cada vez menos evidente, onde uma representação cinematográfica, por assim dizêlo, dos acontecimentos resulta cada vez mais inadequada e ao longe deixa incluso de ser
possível.
Isto me parece da maior importância. Isto e talvez somente isto é o trânsito de uma
evolução criadora a uma filosofia religiosa, porém, este trânsito não pode fazer-se mais que por
uma dialética concreta da participação.7
Creio também, sem poder demonstrá-lo ainda completamente, que isto é o fundamento
de uma teoria do mal, que por sua vez, sustenta a realidade e a contingência.
Quanto mais tratemos o mundo como um espetáculo, necessariamente mais deve
chegar a ser metafisicamente ininteligível; e isto porque a relação mesma que se estabelece
então entre nós e ele é intrinsecamente absurda. Talvez volte por isto ao que eu escrevia outro
dia sobre a opacidade interior.
Minhas anotações de ontem me parecem importantes para o problema da gênese do
universo, ou da finitude do mundo no tempo. Enquanto eu trato o universo como objeto
(separação no sentido A), não posso não perguntar-me como se tem formado dito objeto, como
começou “este assunto”; e isto quer dizer reconstituir com o pensamento uma série de
operações que se tem desenvolvido sucessivamente. O fato de ser pensado ou tratado como
objeto e o de possuir um passado reconstituível estão essencialmente ligados; o exemplo mais
simples e mais claro é o de uma pessoa empiricamente dada.
Porém, isto supõe, repito de novo, o ato inicial pelo qual me separo do mundo, como me
separo do objeto que considero sob seus diferentes aspectos. Este ato, inteiramente legítimo e
inclusive obrigatório cada vez que considero uma coisa particular, torna-se, pelo contrário,
ilícito e até absurdo tão logo como se trata do universo. Não posso, nem sequer com o
pensamento, colocar-me realmente fora do universo; somente por uma ficção ininteligível
posso situar-me em não sei quê ponto exterior a ele, desde onde reproduziria, em uma escala
reduzida, as fases sucessivas de sua gênese. Por outra parte, tampouco posso (e este
paralelismo é revelador) colocar-me fora de mim e perguntar-me acerca de minha própria
gênese, entendendo naturalmente por esta minha realidade não empírica ou metafísica. O
problema da gênese do eu e o do gênese do universo não são senão um só e mesmo
problema ou, mais exatamente, um só e mesmo insolúvel, estando esta insolubilidade
vinculada à minha própria posição, à minha existência, ao fato metafísico radical desta
existência. E aqui se ascende, creio eu, a uma noção absolutamente positiva da eternidade. O
universo, enquanto tal, não sendo nem podendo ser pensado como objeto, não tem, falando
com propriedade, passado; é inteiramente transcendente ao que se tem chamado uma
Esta observação, feita em 1929, segue sendo válida para mim, inclusive depois da publicação da obra de
Bérgson “Os dois caminhos da moral e da religião” (abril de 1934).
7
9
representação cinematográfica qualquer. E exatamente o mesmo sucede com respeito ao eu;
em certo plano, não posso não aperceber-me como contemporâneo do universo (coaevus
universo), quer dizer, eterno. Entretanto, de que ordem é esta apreensão de si como eterno?
Nisto está, sem dúvida, o ponto mais difícil. E é aqui, creio eu, por onde se volte ao que
escrevia esta manhã.
No fundo, o método é sempre o mesmo: é o aprofundamento em certa situação
metafísica fundamental da que não basta dizer que é minha, posto que consiste
essencialmente em ser eu.
Não posso por menos deixar de escrever que esta luz que se tem feito em meu
pensamento não é para mim senão a prolongação de uma Outra, a única Plenitude de gozo.
Acabo de tocar, durante longo tempo, de Brahms, as sonatas para piano que não
conhecia. Permaneceram sempre associadas para mim a estes momentos inesquecíveis.
Como conter este sentimento de invasão, de segurança absoluta, inclusive de envolvimento?
08 de março de 1929
Cada vez me chama mais a atenção a distinção entre os dois modos de separação: um
é o do espectador, o outro é o do santo. A separação do santo se produz, atrevo-me a dizer, no
interior mesmo do real; exclui completamente a curiosidade a respeito do universo. Esta
separação é uma participação, a mais alta que se pode dar. A separação do espectador é
exatamente inversa: é deserção, não somente ideal, senão real. E aqui radica, em meu modo
de ver, essa espécie de fatalidade que pesa sobre toda a filosofia antiga, filosofia
essencialmente espetacular.
Porém, o que é preciso ver é que somente em virtude de uma ilusão se crê poder
escapar do puramente espetacular, mediante a adesão a uma ciência pragmática que modifica
o real por suas aplicações. E aqui entrevejo uma ideia muito importante que não chega a
formular-se, todavia, para dizer a verdade, com suficiente claridade. Eu a expressaria dizendo
que as modificações que tal ciência impõe à realidade não têm outro resultado
(metafisicamente, se entenda) que o de convertê-la em certa medida em estranha a si mesma.
O termo alienação traduz exatamente o que quero dizer: “Eu não assisto ao espetáculo”: quero
repetir-me estas palavras todos os dias. Dado espiritual fundamental.
Interdependência dos destinos espirituais, plano de salvação: isto é para mim o que há
de sublime, de único no catolicismo.
Há um instante refletia no fato de que a atitude espetacular corresponde a uma forma de
concupiscência; mais ainda: corresponde o ato pelo qual o sujeito centra o mundo em torno de
10
si. E agora percebo a profunda verdade do teocentrismo beruliano. Estamos aqui para servir;
sim, é a ideia do serviço, em todos os seus sentidos, em que devo aprofundar.
Tenho vislumbrado também esta manhã, porém de maneira confusa, que há um
conhecimento profano e um conhecimento sagrado (em lugar de minha tendência de algum
tempo a pretender que todo conhecimento seja profano. Não é exato; o termo profano tem uma
força instrutiva incomparável). Investigar em quê condições um conhecimento deixa de ser
profano.
Densidade espiritual incrível desses dias. Minha vida se ilumina até nas profundidades
do passado e não somente minha vida.
Cada permissão que nos outorgamos é talvez uma limitação suplementar que nos impõe
sem suspeitá-lo: uma cadeia. Isto é a justificação metafísica do ascetismo: jamais havia
compreendido tal coisa.
A realidade como mistério, inteligível somente como mistério. Eu, igual.
09 de março de 1929
Uma observação importante se apresenta neste momento ao espírito. Não posso de
nenhum modo seguir admitindo a ideia de um além da verdade; faz muito tempo que esta me
suscita mal estar. Esta margem entre a verdade e o ser se preenche com certa maneira por si
mesmo desde o momento em que a presença de Deus se tem experimentado efetivamente e
são as verdades parciais as que cessam, aos olhos da fé, de merecer seu nome.
A fé, evidência das coisas não vistas: constantemente me repito esta fórmula luminosa,
porém não é luminosa senão depois.
Tomo também consciência cada vez mais clara do papel da vontade na fé. Trata-se de
permanecer em certo estado que, no plano humano, corresponde à graça. Neste sentido, é
essencialmente uma fidelidade, a mais alta que existe. Isto se tem reconhecido imediatamente
desde o dia 25 de fevereiro, com uma nitidez fulminante.
11 de março de 1929
Tem-me ocorrido um pensamento saudável que quero anotar. No fundo, sob a atitude
crítica frente aos relatos evangélicos está a afirmação implícita de que as coisas não deveriam
acontecer “assim”. Em outros termos, esboçamos interiormente – o que é verdadeiramente
uma presunção e uma necessidade assombrosa – a ideia daquilo que deveria ser a revelação.
E tenho também o sentimento muito vivo de que, nesta crítica, está sempre a ideia de que isso
não pode ser verdade e que, por conseguinte, bem podem encontrar-se deficiências,
11
contradições, etc. Parece-me que é em seu princípio mesmo onde esta jurisdição da
consciência individual deve ser rechaçada. Está sempre presente a palavra evangélica: “Fazeivos semelhantes às crianças”. Sentença sublime, porém, perfeitamente ininteligível para quem
creia em certo valor intrínseco da maturidade.
É absolutamente certo que desde o momento em que apresenta a priori a
impossibilidade dos milagres, as argumentações de uma exegese negadora não somente
perdem todo valor, senão que se fazem suspeitas por essência.
Consideramos também que a credibilidade se ache absolutamente demonstrada por um
fato como o da conversão de um Claudel, de um Maritain, etc. É absolutamente incontestável
que se pode crer em tais acontecimentos. Agora, ninguém pode admitir que é por falta de
informação suficiente que se tem crido. Deve-se, então, tomando esta crença como base,
perguntar em que condição tem sido possível; ou seja, remontar de fato às suas condições.
Pendente verdadeira, única, da reflexão religiosa.
12 de março de 1929
Tenho sofrido bastante esta manhã e tenho lido com dificuldade as páginas do
Catecismo do Concílio de Trento sobre o batismo. Tudo isto segue sendo para mim difícil de
aceitar e, ao mesmo tempo, tenho a estranha impressão de que um trabalho se leva a cabo em
mim, como de resistências trituradas ou consumidas. É uma ilusão? Tenho visto tudo isto
durante demasiado tempo desde fora. Tenho que aclimatar-me agora a uma visão
completamente diferente. É muito difícil. Impressão de cauterização interior contínua.
21 de março de 1929
Acabo de atravessar um período penoso, obscuro; um passo semeado de obstáculos,
por outra parte, difíceis de reconhecer. Creio que o dia mais duro tenha sido domingo. A
segunda-feira, pela tarde, a longa conversa com M... foi-me sido extraordinariamente
beneficiosa e também a última palestra com abade A... No fundo, o que literalmente tenho
tolerado mal é o ensinamento catequético, em um momento em que o laço vital com Deus me
parecia, senão rompido, ao menos infinitamente desatado. Hoje tenho a impressão de
recuperar-me, no sentido pleno do termo. E o que mais me sustenta é a vontade de não
alinhar-me com aqueles que têm traído a Cristo ou simplesmente com os cegos. Aqui está para
mim, atualmente, o centro fecundante do Evangelho.
12
23 de março de 1929
Fui batizado esta manhã com uma disposição interior que apenas me atrevia a esperar:
nenhuma exaltação, senão um sentimento de paz, de equilíbrio, de esperança, de fé.
No Jardim de Luxemburgo, veio-me um pensamento que quero anotar. No fundo, o
espaço e o tempo são, em certa maneira, as formas da tentação. No fato de reconhecer sua
insignificância com relação ao infinito do tempo e do espaço, combinam-se o orgulho e a falsa
humildade, pois se pretende coincidir idealmente com este duplo infinito realizado como objeto
do conhecer. Vertiginosa proximidade de Deus. Volta ao aqui, ao agora, a qual recupera um
valor, uma dignidade sem par. Isso haverei de aprofundar. Estou demasiado cansado esta
noite para escrever mais.
12 de abril de 1929
Entrevejo todo um conjunto de ideias difíceis de decifrar.
Quero refletir mais do que nunca o feito sobre a natureza do prejuízo que consiste em
crer que temos chegado a um ponto em que já não se pode crer que.. .Há nisto uma certa
noção, a priori, da experiência e do crescimento (experiência como crescimento ou crescimento
como experiência) que pede em princípio ser explicitada. Ontem refletia sobre a ambiguidade
capital da ideia de idade aplicada à humanidade. O recente é o mais velho ou o mais jovem?
Creio que alteramos ou, mais exatamente, oscilamos entre essas duas perspectivas. O milagre
cristão se me apresenta na hora atual como ponto de rejuvecimento absoluto. E, talvez, o
permanente de todo rejuvecimento possível.
10 de maio de 1929
Retomei esta tarde minhas reflexões, talvez como consequência do admirável ofício de
ontem pela manhã na rua Monsieur e também a conversa com C..., que veio a falar-me da
carta em que eu lhe confiava a angústia que experimento ante as pretensões tomistas.
Minhas reflexões versavam sobre as ideias de salvação e de perdição, em conexão com
uma passagem importante do Jornal Metafísico. Eis aqui o essencial:
Não pode salvar-se ou perder-se senão o que vive – o que participa da vida – ou o que é
tratado como se participasse dela. Porém, sobretudo, o que incorpora em si a existência e
valor. Contudo, há de se superar essas categorias e talvez assim nos acerquemos ao
13
aristotelismo. O que se salva é evidentemente o que conserva sua forma – o que por ele
mesmo se subtrai, em certo sentido, senão à vida, pelo menos o devir. E, contudo – esta é a
dificuldade -, não é suscetível de salvar-se senão o que poderia perder-se; por conseguinte,
não é nem o valor e nem a forma mesma. A forma está salva eternamente, não pode sequer
estar ameaçada. E eis aqui o termo essencial: a ideia de ameaçado é a qual se deve
aprofundar e isto em todos os planos. No plano biológico (ou se se considera, por exemplo,
uma obra de arte, um quadro, uma estátua, desde um ponto de vista puramente material), a
ideia do ameaçado é relativamente clara. O imenso erro ético e metafísico atual consiste em
não querer reconhecer que também a alma pode ser ameaçada; ou, melhor, esta negação
equivale à negação pura e simples da alma. O que é destacável é que na ordem do espírito e
mais exatamente da inteligência, se admitirá facilmente que a ideia de ameaça conserva uma
significação. Assim se admitirá, quase universalmente, que certos prejuízos sociais (prejuízos
nacionais, prejuízos de classes) podem ameaçar a noção de integridade da pessoa mesma, ao
menos que se entenda esta na acepção puramente biológica, quer dizer, que no fundo se
considere como um aparato em funcionamento. É bastante claro que, para um cristão, seria
inadmissível considerar a alma sob este viés e, talvez, seja a ideia de funcionamento normal e
até de saúde que resulte aqui inaplicável.
11 de maio de 1929
Está claro que a salvação não pode ser pensada como vinculada, diretamente ou não, a
certa vontade (que, de outro lado, pode não ser a do ser que trata de salvar-se: caso de uma
criança ou de uma alma tratada como uma criança). Uma questão capital seria saber se não
sucede acaso o mesmo a respeito da perdição.
Estamos inclinados a pensar que, na ordem da vida, a perda ou a perdição não implica
senão uma espécie de deixar ir; somente seria positiva a resistência eficaz às forças de
dissolução que se exerceriam mecanicamente. É isto realmente assim? Problema essencial se
se quer definir a natureza do mal. Pode-se dizer que há uma espécie de equívoco fundamental
inscrito no coração mesmo das coisas, posto que a morte pode ser considerada como mero
triunfo do mecanismo, do deixar ir – ou, ao contrário, como expressão de uma vontade
destruidora. Este equívoco se encontra no plano espiritual, porém aí nos é impossível dissipálo. É evidente que neste plano uma vontade de perder-se (ou, o que em certo sentido vem a
ser o mesmo, de perder ao próximo) pode ser claramente identificada. E o problema consistirá
precisamente em saber até que ponto é lícito considerar a própria ordem da natureza à luz
desta vontade perversa descoberta no coração do homem.
14
12 de junho de 1929
Problema da prioridade da essência sobre a existência que me tem preocupado sempre.
No fundo, creio que há aqui uma pura ilusão, devida a que opomos aquilo que somente é
concebido (e que cremos pode tratar como não existente) ao que está realizado. Na realidade,
não há senão duas modalidades existenciais distintas. O pensamento não pode separar-se da
existência, somente pode haver abstração dela em certa medida e é sumamente importante
que a existência não seja vítima do ato de abstração. O passo à existência de algo
radicalmente impensável, algo que carece inclusive de todo sentido. O que chamamos assim é
uma transformação intraexistencial. E somente por isso é por onde se pode escapar ao
idealismo. Pode-se dizer, pois, que o pensamento é interior à existência, que é certa
modalidade da existência que desfruta do privilégio de poder haver abstração de si enquanto
que existência e isso por fins estritamente determinados. Não seria falso dizer que o
pensamento implica neste sentido certa mentira ou, mais exatamente, certa cegueira
fundamental, cegueira que desaparece na medida em que se tenha conhecimento, quer dizer,
volva ao ser. Porém, esta volta não pode ser inteligível mais que a condição de que a cegueira
inicial seja expressamente reconhecida. A este respeito, certo cartesianismo, e, sobretudo,
certo fichteísmo parece-me os dois erros mais graves, dos quais metafísica alguma se tenha
feito culpável. Nunca se dirá suficientemente o preferível que é a fórmula es denkt in mir à do
cogito, que nos expõe ao puro subjetivismo. O “eu penso” não é uma fonte, é um obturador. 8
26 de junho de 1929
Tenho a impressão de haver eliminado hoje o que ainda podia ficar em mim do
idealismo. Impressão de exorcismo (sob a influência do livro do padre Garrigou-Lagrange sobre
Deus, que está bastante longe, contudo, de satisfazer-me plenamente).
Ordem dos problemas, tal como me aparecem: nosso conhecimento das coisas
particulares, versa sobre as coisas ou sobre suas ideias? É impossível não adotar a solução
realista. Porém, a partir daí passo ao problema do ser em si mesmo. Um conhecimento cego
do ser em geral se acha implicado em todo conhecimento particular. Porém, aqui há de se ter
cuidado com a acepção que há de se dar aos termos ser em geral. Certamente que não se
pode tratar de modo algum o ser vazio de suas características individuais. Expressar-me-ia
Hoje não afirmaria eu sem titubear estas afirmações demasiado categóricas. Porém, creio dever reproduzi-las
porque correspondem ao momento de meu itinerário filosófico em que tenho realizado o maior esforço para
romper com todo idealismo de qualquer espécie que seja (abril de 1934).
8
15
melhor dizendo que todo conhecimento que versa sobre a coisa e não sobre a ideia da coisa –
não sendo a ideia em si objeto nem podendo ser convertida em objeto a não ser por uma
operação reflexiva ulterior e suspeitosa – implica que estamos vinculados ao ser. O sentido
destas últimas palavras é aquele que deveria chegar a explorar.
28 de junho de 1929
A impossibilidade em que me encontro para negar o princípio de identidade, a não ser in
verbis, impede-me, por sua vez, de negar o ser e também conservar uma atitude de abstenção
equivalente a admitir que o ser exista como não exista. Por outro lado, o ser não pode, por
definição, entrar na categoria dos simples possíveis. Por outra parte, está fora de lugar supor
nele uma contradição lógica; e ainda: não se lhe pode tratar como possível empírico. Ou não
há nem pode haver experiência do ser ou esta experiência não é efetivamente outorgada.
Porém, não podemos nem sequer conceber o que seria uma situação mais vantajosa que a
nossa, que nos permitiria afirmar o que nossa experiência, tal como existe, não nos permita
afirmar atualmente. Esta situação seria, no melhor dos casos, a de um ser que viria, porém, por
isso mesmo, estaria além da afirmação. A posição redobrada que subsiste para o adversário
da ontologia se reduz a negar que uma afirmação incondicionada do ser seja possível: em
resumo, a encerrar-se em um pluralismo relativista que apresenta seres ou registros da
realidade, porém, que se abstém de pronunciar-se sobre sua unidade. Ou as palavras não têm
sentido ou se apresenta aqui, implicitamente, de todas as maneiras, uma unidade que as
envolva. Haverá, pois, que refugiar-se em um nominalismo puro; aí está, em meu parecer, o
único refúgio que possa parecer seguro. Haverá de se negar que ao termo ser corresponda,
não digo uma realidade, senão inclusive uma ideia. Desde este ponto de vista, o princípio de
identidade será tratado como uma simples “regra do jogo” do pensamento, e este se achará
radicalmente dissociado da realidade. Do nominalismo puro se passa ao idealismo puro.
Porém, este deslizamento é muito perigoso, posto que o idealismo não pode reduzir a ideia ao
signo, é precisa que veja nela pelo menos um ato do espírito. Por aqui aparece uma nova série
de dificuldades.
17 de julho de 1929
Quisera, na continuação de minha leitura do padre Garrigou-Lagrange, chegar a definir
minha posição sobre a legitimidade das provas clássicas da existência de Deus. No fundo,
devo reconhecer que sob a influência persistente do idealismo não tenho cessado de evitar o
problema ontológico propriamente dito. Tenho sentido sempre, reconheço-o, uma repugnância
16
íntima a pensar segundo a categoria do ser; esta repugnância posso justificá-la a mim mesmo?
Na verdade, duvido muito. O agnosticismo puro, ou seja, a abstenção com respeito à afirmação
do ser parece-me hoje insustentável. Por outra parte, não posso refugiar-me na ideia segundo
a qual a categoria do ser estaria em si desprovida de validez. O pensamento se trai a si
mesmo, desconhece suas próprias exigências, ao pretender substituir a ordem do valor pela
ordem do ser e se condena, por isso mesmo, a permanecer na ambiguidade mais suspeita em
presença do dado e, ali onde se intenta compreender, define este mesmo dado. Por outra
parte, posso sustentar que a afirmação o ser é, apesar das aparências, é a simples enunciação
formal de uma “regra do jogo” à qual o pensamento deve submeter-se para poder
simplesmente exercer-se? Dito de outro modo: é uma simples inferência hipotética que viria a
dizer que apresento certo conteúdo de tal aproximação que se implica a si mesmo e exclui,
portanto, as aproximações que não estiveram de acordo com ele?
Quando afirmo que A é A, em termos idealistas, isto significa que meu pensamento ao
apresentar A se compromete de certa maneira em função de A; porém, esta tradução não é
realmente conforme ao que eu penso na realidade quando apresento a realidade de A consigo
mesmo. Esta é, para mim, no fundo, a condição de toda estrutura possível (lógica ou real, aqui
não tenho em conta esta distinção). Na realidade, não poderia negar-se o princípio de
identidade senão negando ao pensamento a possibilidade de dirigir-se a algo, pretendendo
que, na medida em que penso algo, cesso de pensar, pois meu pensamento torna-se escravo
de certo conteúdo que o inibe ou inclusive o anula. Pode conceber-se um heracliteísmo ou um
hiperbergsonismo que chegaria até aqui. Então a questão é saber se este pensamento, que
não é pensamento de algo, seria ainda pensamento, se não se dissiparia em uma espécie de
sonho de si mesmo. Por outra parte, é isto de que estou convencido, e nesta medida se pode
perguntar se posso pensar-me a mim mesmo (como pensante) sem converter este eu pensado
em algo que não é nada e que é, portanto, contradição pura. É assim como desembocou no
tomismo, ao menos tal como eu o entendo. O pensamento não é de nenhum modo relação
consigo mesmo, ao contrário, é self-transcendência por essência. De tal sorte que a
possibilidade da definição realista da verdade está implicada na natureza mesma do
pensamento. O pensamento está voltado até o Outro, é apetite do Outro. Todo o problema
consiste em saber se este Outro é o Ser. Quero assinalar aqui que pode ser importante absterse de empregar o termo conteúdo por causa de suas harmônicas idealistas. O que é
perfeitamente claro para mim é que se passo à objetividade, com o que tem de escandaloso
para certo tipo de razão, não se estabelece desde o princípio sendo impossível de realizar.
18 de julho de 1929
17
Tenho refletido sobre a diferença entre pensar e pensar em. Pensar é reconhecer (ou
edificar ou fazer ressaltar) uma estrutura; pensar em é completamente distinto. Ajuda-nos do
alemão as palavras denken, na etwas denken, andenken, Andacht. Pensa-se em um ser ou
inclusive em um acontecimento (passado ou futuro). Não estou seguro de que se possa pensar
em Deus no mesmo sentido em que se pode pensar em Cristo encarnado – em todo caso,
somente será possível a condição de não se tratar a Deus como estrutura.
Seria, por outra parte, arriscado ou ao menos prematuro negar todo valor ontológico a
esta ordem ou a esta estrutura – e aqui posso ter sido muito imprudente. Pensar, aprofundar
em tudo isso. É evidente que posso inclusive tratar a um indivíduo como objeto de pensamento
(transposição do passo do tu ao ele).
Indagar se Deus, como estrutura, está envolto em toda estrutura particular.
19 de julho de 1929
Em suma, o pensamento se dirige somente às essências. Observar que a
despersonalização, perfeitamente legítima neste caso, é, pelo contrário, impossível na ordem
do pensar em. É realmente um tal quem pensa em tal ser ou em tal coisa. Isto é muito
importante.
Assinalar, por outra parte, que quanto mais restauramos o contexto, tanto mais nos
deslizamos do pensar ao pensar em. Isto é mais importante para compreender em que sentido
o infinito se acha envolto no fato de pensar o indivíduo como essência.
Outra coisa: chegar a compreender que rezar a Deus, sem dúvida alguma, é a única
maneira de pensar em Deus ou, mais exatamente, uma espécie de equivalente, transposto a
uma potência superior, do que em um plano inferior seria pensar em alguém. Quando penso
em um ser finito, restabeleço de alguma maneira uma comunidade entre ele e eu, uma
intimidade, em uma palavra: um com, que poderia parecer suprimido (tenho notado isso estes
dias, pensando em meus companheiros de liceu, perdidos de vista). Perguntar-se como posso
pensar em Deus? é investigar em que sentido posso estar com Ele. É completamente evidente
que não se pode tratar de uma coexistência semelhante à que pode vincular-me a alguém.
Contudo, não duvidemos que haja no fato de pensar em alguém uma ativa negação do espaço;
quer dizer: do que há de mais material e mais ilusório no com. Negação do espaço – negação
da morte -, sendo a morte, em certo sentido, o triunfo da expressão mais radical da separação,
tal como pode realizar-se no espaço. O morto é aquele que não está nem sequer em outra
parte – e mais: que não está em parte nenhuma. Porém, o pensamento é a ativa negação do
aniquilamento (valor metafísico da memória e inclusive, em certo sentido, da história). Haveria
de aprofundar-me aqui nesta ideia estranha do sentido comum de que o ausente, o morto, já
18
não está “em nenhuma parte”, senão unicamente em mim; no fundo, crê-se em uma espécie
de fotografia que sobrevive ao original, fotografia não fixada, móvel, evanescente – porém,
fotografia de todos os modos (foi, porém, tenho sua fotografia). Porém, ainda aqui se constata
um desconhecimento absoluto das afirmações espontâneas da consciência: quando penso
nele, é realmente nele em quem penso; o que se chama fotografia é somente uma espécie de
elemento mediador, de ponto de apoio (variável, por outra parte, segundo as atitudes
mnemônicas dos distintos indivíduos). Expressaria isto dizendo que o Andenken é mágico em
seu fundo, que vem a ser o mesmo, além dos chamados intermediários psicológicos (cuja
natureza ontológica permanece para nós impenetrável). Fazer justiça da ideia idealista e
proustiana, segundo a qual este ser seria construção pura. Não se pode dar conta dele
reduzindo-o a uma síntese imaginativa pura e simples. Porém, ao mesmo tempo, este ato
metafísico que me vincula a um ser – ao ser – apresenta sempre um rosto correspondente à
atividade do pensamento tomada como edificação ou como reconhecimento.
30 de julho de 1929
Isto é sobre o que esta manhã tenho refletido: dada certa estrutura, seja espacial,
temporal ou espaço-temporal (seria da maior importância aprofundar-me na noção de estrutura
temporal que Bergson parece ter escamoteado ou ignorado: tal melodia, tal vida), é evidente
que, pelo mero fato de ser tal estrutura, é ela mesma e não outra. Aqui o princípio de
identidade toma plena significação. Contudo, não se haverá concluir daqui que quanto mais
esta estrutura perca sua precisão, ou seja, quanto mais nos acerquemos ao , tanto mais
dito princípio perde sua significação? Porém, apresentam-se certas questões capitais: Posso
dizer, com os tomistas, que o princípio de identidade me obriga a afirmar o ser? Não posso
dizê-lo mais do que estou seguro de que o ser se confunde com o ; dito de outro modo,
para não estar obrigado a admitir que o princípio de identidade não é válido senão no reino do
finito: é preciso que possa distinguir o do infinito, coisa que a antiguidade não fez e que,
inclusive, negou-se a fazê-lo. Em outros termos, tudo o que eu posso dizer é que o princípio de
identidade não é, para dizer a verdade, aplicável ao e isso pela simples razão de que o
não é pensável; dito de outro modo: o princípio de identidade não cessa de aplicar-se
senão quando o pensamento mesmo não pode exercer-se. Há, pois, toda uma série de
possibilidades a distinguir:
Poder-se-á fazer do princípio de identidade o princípio do finito (confundindo o finito com
o determinado) e admitir a possibilidade (isto haverá de se ver de perto) de um
19
pensamento transcendente, que transbordaria o finito e não se submeteria ao princípio
de identidade.
Poder-se-á também negar esta última possibilidade, a qual viria a ser como admitir que
não haja pensamento senão na ordem do finito (relativismo sob todas as suas formas).
Esta negação implicaria o postulado de acordo com o qual o indeterminado e o infinito
se confundem.
Finalmente, poder-se-á rechaçar este último postulado e, em consequência, dissociar o
infinito e o indeterminado; em outros termos, conceber ou inclusive afirmar a existência
de uma estrutura absoluta que seria, ao mesmo tempo, uma vida absoluta, quer dizer,
um ens realissimum. Isto equivaleria a admitir que o princípio de identidade acompanhe
o exercício do pensamento até o extremo, porém que este pode, sem sair do
determinado, elevar-se à noção de um infinito positivo. A afirmação o ser é não pode ser
rechaçada mais que na hipótese B; quer dizer, considerado
essencialmente não tal o qual, se encontra, por definição, subtraído a um princípio que
se aplica precisamente à ordem de tal ou qual; quer dizer, do qualificado. Na ordem do
que eu chamo as estruturas particulares, acho-me sempre no hipotético: supondo que S
me seja dado em certas condições que ainda estão por precisar (não há o que duvidar
que a aparência também me é dada e, contudo, não é), posso afirmar que S existe; ou
inclusive, se é, é. Fórmula pouco clara e pouco satisfatória. Já não vejo nada e devo
parar forçosamente.
31 de julho de 1929
Pode tratar-se ao ser como elemento de estrutura, como determinação pertencente ou
não a tal tipo de estrutura? Parece-me totalmente evidente que não; é neste sentido em que
Kant teve razão ao negar que o ser fosse um predicado. Porém, então, deve-se dizer que o ser
é sujeito? – em suma: identificar Seyn e Seyende?
Impossível, não sei por que, progredir hoje nesta direção.
Deve-se desembaraçar-se de uma vez por todas da ideia, ou da pseudoideia, de uma
refração do real através de certo meio, sendo a aparência esta mesma realidade refratada.
Seja qual for o modo no qual se tenha que conceber o ideal (no sentido de mero ideal), não se
lhe pode representar como meio refratário, ainda que somente fosse pela sensível razão, que
eu chamaria o estatuto ontológico de um meio semelhante e da qual é impossível de
estabelecer; fica, com efeito, suspenso entre o ser e o não ser; o princípio do terceiro excluído
toma aqui sua plena significação, completada pela ideia de graus ou esferas de realidade.
20
Estamos comprometidos no ser, não depende de nós sair dele; mais simplesmente: somos e
tudo consiste em saber como situar-nos com relação à realidade plenária.
Creio ter percebido ontem algo importante: sendo o fenomenismo puro contraditório e,
inclusive, carente de sentido, a negação ontológica se reduz à alternativa B, segundo a qual o
ser é o - e não insisto sobre o fato de que se expressar assim equivale a proceder por
determinação. O adversário da ontologia dirá que se nega a sair da ordem de tal ou qual. Aqui
é onde se deveria chegar para tomar definitivamente uma posição. Eu vislumbro confusamente
o seguinte: esta pulverização do real (isto existe, aquilo existe, etc.), sob pena de desembocar
no impensável, quer dizer, em uma espécie de atomística transplantada, implica como
contrapartida a afirmação idealista da unidade do pensamento e deveria aprofundar-se na
natureza desta unidade. Creio, sem poder demonstrá-lo ainda, que se admite que o
pensamento é essencialmente próximo ao ser, transitus, é impossível conformar-se com um
realismo fracionado. Revisar.
Dizer “A é, B é, etc., porém, não posso afirmar que o ser seja” é o mesmo, creio eu, que
dizer: “A participa do ser, B participa do ser, etc., porém, este ser de que participam não é
talvez nada do que se possa dizer que seja”. É evidente que tal hipótese está em contradição
com o princípio de identidade, pois equivale a admitir que talvez (porém, este talvez não troca
nada) o ser não seja. Porém, não é isto tratar o ser ao modo de uma qualidade como a cor, a
dureza, etc.? Esta superfície é de cor, esta outra também, porém, não posso concluir daí que
cor seja. A
ou, se se prefere, em
minha linguagem, de uma estrutura. Porém, isto não é concebível a respeito do ser, não
podemos supor por um instante que possa dar-se uma espécie de mescla entre o ser e outra
coisa qualquer. Vejo claramente que devemos ser aqui mais eleata que Platão e dizer que,
rigorosamente falando, o não-ser não existe nem pode existir. Isso vem a dizer talvez que a
distinção aristotélica tomista entre a categoria e o transcendental está bem fundada e isto é
importante. Porém, também devemos reconhecer que o próprio termo participação é ambíguo
e, por si mesmo, perigoso, posto que seu uso ameaça inevitavelmente envolver a confusão
entre o ser e os predicados ou os atributos.9
A espécie de desconfiança que suscita a ontologia se deveria, pois, ao fato de que o
ontólogo parece tratar como qualidade e, eu acrescentaria, hipostasiar algo que nos parece
como o inqualificável por excelência. Portanto, parece estar condenado a oscilar entre um
truísmo (o que é, é) e um paralogismo que consistiria em atribuir o ser ao
anotações de ontem). A solução não consistiria em afirmar a onipresença do ser e o que eu
chamaria, talvez impropriamente, a imanência do pensamento com respeito ao ser; quer dizer,
e ao mesmo tempo, a transcendência do ser com respeito ao pensamento?
9
Isto me parece hoje bastante discutível (abril de 1934).
21
05 de agosto de 1929
Todavia, não tenho chegado a elucidar completamente a tese que indicava ao término
de minhas anotações no dia 31. Apresentar a imanência do pensamento a respeito do ser é
reconhecer com os realistas que o pensamento, desde o momento em que existe, se refere a
alguma coisa que o supera e que ele não pode pretender reabsorver em si sem trair sua
verdadeira
natureza.
Esta
referência
se
acha
perfeitamente
implicada
na
noção
fenomenológica do Meinen ou do Bedeuten alemães. É certo que, para quem tenha recebido
uma formação idealista, há aqui algo profundamente chocante. Perguntar-me-á como pode ser
evitada esta reabsorção proibida, como posso abster-me de efetuar o ato sintético que
compreende em si e transborda por sua vez a ideia e o ideado. Porém, por minha vez
perguntarei se este ato sintético, supondo que seja possível, não supera os próprios limites do
pensamento discursivo. Há aqui todo um fenômeno de ilusão contra o qual não se saberia
estar suficientemente alerta.
Quisera ver até que ponto estas observações permitem elucidar a noção de participação
no ser.
O incômodo que sinto ante estas matérias procede em parte da dificuldade que sempre
tenho experimentado em discernir a relação entre ser e existir. Parece-me evidente que existir
é certa forma de ser: haveria de ver se é a única. Talvez possa ser sem existir.
10
Estabeleço
em princípio que o contrário é inconcebível sem um verdadeiro jogo de palavras. Então,
poderei, com certas precauções, estudar o problema da participação no ser a partir de um
exemplo existencial. O que tenho dito da impossibilidade
evidentemente aqui: não posso dizer de nenhuma maneira que tal objeto ou tal ser, enquanto
que existe, participa da qualidade de existir e que deixa de participar dela quando cessa de
existir. 11
No fundo, o erro não procede acaso (cf. anotações dos dias 17, 18 e 19 de julho) do
que, confundindo o pensar e o pensar em (a confusão se opera em benefício do pensar),
chego a tratar a existência que responde ao segundo modo como uma qualidade que seria, ao
contrário, justificável do primeiro? Isto, todavia, não está claro em meu espírito. Penso em uma
coisa, em um ser, e a existência se acha aqui vinculada a este ato de pensar em ela ou em ele;
penso neles como existindo ao mesmo tempo em que lhes nego a existência. Porém, se
O exemplo mais sensível que me apresenta hoje é o do passado, que já não existe, porém não posso dizer pura
e simplesmente que já não é.
11 Perguntar-se se não existir não é, segundo certo sentido comum, confundir-se e, portanto, voltar ao apeíron. Eis
aqui um caminho a seguir.
10
22
separo deles a existência, então a penso; quer dizer, trato-a como uma essência ou, mais
exatamente, como uma pseudo-essência. Não vem isto a dizer que, no sentido estrito do
termo, não há ideia da existência? E isso porque a existência é o limite ou, se se prefere, o eixo
de referência do pensamento mesmo.
Porém, a dificuldade é sempre a mesma: não é, apesar de tudo, por que penso a
existência de certa maneira, ou seja, por que formo certa ideia dela, pela qual nego que esta
ideia seja possível? Antinomia.
09 de agosto de 1929
No fundo, admito que o pensamento se encontre ordenado ao ser como o olho para a
luz. Fórmula tomista. Porém, este modo de expressar-me resulta perigoso, pois obriga a
perguntar-se se o pensamento mesmo é. O movimento reflexivo pode ser útil aqui. Penso, logo
o ser é: pois meu pensamento exige o ser; não o envolve analiticamente, porém, se refere a
ele. É muito difícil superar este estado. Em certo sentido, não penso senão na medida em que
não sou (Valery?); quer dizer que há, de algum modo, um intervalo entre o ser e eu. Porém, é
difícil ver exatamente o que isto significa. O que eu percebo, em todo caso, é o estreito
parentesco entre o pensamento e o desejo.
12
Está claro que nestes dois casos o bem e o ser
desempenham dois papéis semelhantes. Todo pensamento transcende o imediato. O imediato
puro exclui o pensamento, como também exclui o desejo. Porém, esta superação implica uma
imantação, uma teleologia.
Sem data
O fortalecimento da exigência ontológica constitui, sem dúvida alguma, uma das
características mais salientes do pensamento contemporâneo, considerado não somente em
suas expressões tecnicamente metafísicas, senão, inclusive, nas ordens em que a ideia não se
capta senão através de um mundo de imagens que suscita, sem jamais assimilá-lo, nem
dominá-lo completamente. Sem dúvida, pode-se, com rigor, não ver aí mais do que um simples
fato justificável por explicações puramente empíricas que dependeriam talvez de uma
psicanálise tingida de sociologia. É extremamente fácil e tentador para certo tipo de inteligência
relacionar a necessidade de afirmar o ser com certo instinto vital apenas adaptado, reagindo ao
seu modo ante o pessimismo dos anos do pós-guerra. Há aqui um tema, não me atrevo a dizer
de meditação, porém, de desenvolvimento oratório, cuja fecundidade somente é equivalente à
Pergunto-me se não haveria que retificar isto à luz das observações apresentadas ulteriormente sobre a
oposição entre o desejo, por um lado, e a esperança, por outro. É de se crer que uma análise do pensamento
permitiria descobrir nele uma oposição ou hierarquia totalmente análoga (abril de 1934).
12
23
sua insignificação essencial. Tudo consiste em saber, com efeito – e é este um problema que a
maioria de nossos contemporâneos não concebe sequer apresentar-se – até que ponto a
explicação possui o poder de eliminar a coisa que se tenha de explicar ou, pelo menos, de
assegurar sua inocuidade, pois toda crença, talvez inclusive toda afirmação como tal,
apresenta aos olhos do puro racionalista um valor propriamente tóxico. Não sei se me engano,
porém, parece-me que esta maneira de conceber a explicação, quer dizer, de tratá-la
literalmente como um exorcismo, corresponde a uma disposição doentia do espírito humano,
disposição contraída em data relativamente recente sob o império do prestígio exercido pela
ciência positiva. Para obedecer ao exemplo, que utilizo como ponto de partida a estas
observações, não é completamente evidente que o juízo de valor ou, mais exatamente, a
apreciação metafísica, que convém apontar sobre a necessidade ontológica considerada em si
mesma, não tenderia a depender o mínimo possível das condições empíricas, nas quais uma
experiência mais ou menos cuidadosamente interpelada nos permite reconhecer que esta
necessidade se explicita e se reforça? É perfeitamente possível que o que chamamos, com um
termo definitivamente desprovido de sentido, o estado normal de um ser humano – estado que
implica, sem dúvida, um mínimo de segurança e de bem estar – não seja, de modo algum,
mais favorável à recuperação interior, que supõe e suscita uma investigação metafísica
verdadeiramente profunda. Quaisquer que sejam os resultados aos quais se é capaz de
conduzir uma votação sobre o que poderia chamar-se o regime empírico do pensamento
especulativo, a reflexão mais simples exige que se denunciem como falsas as pretensões
depreciadoras de certa psicopatologia, cujas ambições se apóiam quase inteiramente em uma
confusão prévia que sustenta o conteúdo do conhecer e as modalidades de fato, segundo as
quais a consciência o apreende. A admirável crítica a que um Chesterton tem submetido à
noção de saúde mental, com tudo o que comporta de neopaganismo adulterado, exige aqui
todo o seu peso. Não se deve, pois, duvidar nem um instante em reconhecer que o
renascimento contemporâneo da ontologia está certamente dirigido por um sentimento
singularmente forte e inclusive obcecado da ameaça que pesa sobre os homens – e cujas
especificações concretas são, desgraçadamente, fáceis de perceber e enumerar. Porém, esta
observação se encontra desprovida de toda fecundidade real. 13
Sem data
Mais exatamente não pode deduzir-se daqui um argumento para desvalorizar o apetite ontológico mesmo.
Porém, conviria perguntar-se se a experiência aguda da ameaça universal não tem na realidade um caráter
normal, longe de corresponder simplesmente, como alguns crêem, à perturbação acidental de uma ordem, em
princípio estável ou estabilizada. Haveria de dizer, então, que a necessidade ontológica se acentua ou se agudiza
quando o homrm se encontra instalado em uma situação que põe mais ao descoberto o estado de perigo que
constitui uma parte integrante de sua mesma realidade. Isto coincidiria, sem dúvida, com a linha de pensamento
que vai de Kierkegaard até Heidegger (abril de 1934).
13
24
Minha vida e eu.
Posso pensar em minha vida? Quando observo o sentido destas duas palavras - minha
vida - parece que todo significado foge delas. Existe meu passado, existe também certo
sentimento de atualidade palpitante. Porém, é minha vida tudo isso? Meu passado, enquanto
me ocupo dele, já cessa de ser meu passado.
Sem data
Do ser como lugar da fidelidade.
Como se explica que esta fórmula, que tem brotado em mim em um instante
denominado de tempo, apresente para mim a fecundidade inesgotável de certas ideias
musicais?
Acesso à ontologia.
A traição como mal em si.
06 de novembro de 1929
Como posso prometer – comprometer meu futuro -? Problema metafísico. Todo
compromisso é parcialmente incondicional, quer dizer, que pertence à sua essência implicar
que se faça abstração de determinados elementos, variáveis em si, da situação sobre cuja
base se contrai dito compromisso. Por exemplo: prometo a N... que irei vê-lo de manhã: em
base deste compromisso pode estar o desejo que tenho neste momento de dar-lhe satisfação e
também o fato de que nenhuma outra coisa me tente neste momento; porém, é muito possível
que pela manhã, quer dizer, no momento de cumprir meu compromisso, já não sinta esse
desejo e que, em troca, veja-me tentado por tal ou qual distração que não imaginei ao contraílo. Não posso, de nenhuma maneira, comprometer-me a sentir ainda esse desejo ou a não me
ver tentado se se me apresenta esta outra ocasião. Mais ainda: haveria certa falsidade em
estender assim meu compromisso à minha maneira de sentir. Isto seria uma afirmação, uma
pretensão à qual a realidade (sob a espécie de minha realidade) poderia opor um desmentido.
E nada é mais necessário que o distinguir entre o compromisso contraído em si e uma
afirmação relativa ao futuro que tal compromisso não implica de nenhuma maneira; deve,
inclusive, dizer-se que não poderia implicá-lo sem deixar, por isso mesmo, de ser válido, pois,
então, se tornaria condicional: “supondo que pela manhã experimente ainda o desejo de visitarte, conte comigo”. E eis aqui em quê o compromisso é parcialmente incondicional: qualquer
que seja meu estado de ânimo, meu humor – e em certa medida não me é possível prevê-los -,
irei ver-te pela manhã. Desta maneira se introduz em mim uma espécie de desdobramento
25
entre um
que afirma sua identidade através do tempo e exerce a função de
poder responsável e um conjunto de elementos de mim mesmo aos que este
,
com o qual me identifico, consegue impor obediência.
Há, naturalmente, uma zona exterior que é propriamente a
. Se,
por exemplo, meu estado de saúde me impede de sair, não irei. É evidente que uma análise
presa mostraria aqui a existência de uma espécie de degradação entre o que depende e o que
não depende de mim. Porém, em certa medida tenho direito a esquematizar. Não há, pois,
compromisso possível senão para um ser que não se confunda com sua situação de momento
e que reconheça esta diferença entre si e sua situação, que se situe, por conseguinte, como
transcendente, em certo modo, ao seu próprio futuro, que responda por si. É evidente, por
outra parte, que esta faculdade de responder por si se exercerá tanto mais facilmente quanto
aquele que a possui possa ter abstração de um futuro menos sinuoso, menos inarmonizado
interiormente. Digamos, também, que se me conheço, comprometer-me-ei menos facilmente,
em proporção precisamente do conhecimento que tenho de minha própria instabilidade interior.
Porém, em qualquer hipótese, um fenomenismo consequente, supondo que fosse possível,
que apresentasse o eu como coincidente com seu presente imediato, deveria excluir até a
possibilidade do compromisso: como poderia, com efeito, vincular eu a alguém, um alguém a
quem, por definição, não posso conhecer, posto que ainda não existe?
Este problema do compromisso precede ao da fidelidade porque, em certo sentido,
somente posso ser fiel ao meu próprio compromisso, quer dizer, parece que a mim mesmo.
Deve-se dizer, pois, que toda fidelidade é fidelidade a si mesmo? E o que se deverá entender
por isso? Não haveria, para elucidar este problema, que se distinguir uma hierarquia de
compromissos? Não há compromissos que, de algum modo, são, por essência, condicionais e
que não posso incondicionalizar senão através de uma presunção ilegítima em si? Por
exemplo: um compromisso subordinado a uma opinião (literária, política, etc.). É evidente, por
um lado, que não posso garantir que minha opinião (sobre Victor Hugo, sobre o socialismo,
etc.) não se modificará e, por outro, que seria completamente absurdo comprometer-me a
trabalhar no futuro conforme uma opinião que, talvez, já não será minha. Está claro que minha
experiência humana ou estética pode sofrer, em tais matérias, modificações quase
imprevisíveis. Há de se averiguar, pois, se existem compromissos suscetíveis de ser
reconhecidos como transcendentes às contribuições possíveis da experiência. Passar disto ao
problema da fidelidade prometida a um ser: está perfeitamente claro que a experiência pode
influenciar não somente sobre a opinião que formo sobre este ser, senão sobre o
conhecimento que tenho dele e sobre os sentimentos que me inspira. Já não se trata aqui
unicamente de um desejo que pode deixar de existir, senão de uma simpatia que pode mudarse em antipatia ou em hostilidade.
26
Porém, em que sentido posso, sem loucura, jurar fidelidade a alguém? Não seria tão
absurdo como o comprometer-se a votar sempre pelo candidato conservador ainda quando,
entretanto, eu me fiz socialista? Se há uma diferença, onde está? Problema fundamental. No
começo desta análise, temos visto que não há compromisso sem aproximação, ao menos
implícita, de certa identidade. Porém, não devemos nos fechar nas abstrações. A identidade
de que aqui se trata não pode ser puramente abstrata: é a de certo querer. Quanto mais
abstrato seja este querer, tanto mais cativo ficará de uma forma, levantando, assim, um muro
entre a vida e eu. Muito pelo contrário sucede ali onde, na raiz do compromisso, há certa
apreensão fundamental; porém, não é evidente que esta somente pode ser de ordem religiosa?
É neste ponto sobre o qual devem centrar-se minhas reflexões. Em todo caso, esta apreensão
deve versar sobre o ser ou sobre um ser.
07 de novembro de 1929
Certamente há aqui um problema muito grave. Posso comprometer-me a experimentar
amanhã o que experimento hoje? Seguramente não. Posso comprometer-me hoje a portar-me
amanhã
conforme
o
sentimento
que
experimento
hoje,
porém
que
amanhã
não
experimentarei? Tampouco. Porém, então, há de se admitir que ao jurar fidelidade a um ser
vou além dos limites de todo compromisso legítimo, quer dizer, conforme a minha natureza?
Fica, naturalmente, a solução que consiste em dizer que em todo caso deverei fazer honra à
minha própria palavra e que, por conseguinte, ao contrair um compromisso, creio, inclusive, na
razão ou motivo que me permitirá cumpri-lo. É esta uma resposta que pode satisfazer-me? Em
primeiro lugar, poderia responder que se hoje tenho o desejo de cumprir minha palavra, este
desejo pode, por mil razões, achar-se infinitamente mais débil amanhã e, então, com que
direito o apresento como uma constante?
Não poderei fazê-lo, em todo caso, senão na
condição de não tratar este desejo como um simples estado. Deve-se, pois, distinguir entre o
fato de sentir-se e o ato de reconhecer-se obrigado e admitir que este reconhecimento é
independente do sentimento que o acompanha ou não o acompanha. Amanhã, talvez, não terei
vontade de cumprir minha palavra, porém, saberei que estou obrigado. Porém, inclusive aqui,
guardamo-nos contra o formalismo e o perigo de uma abstração pura. Não se poderia fazer
notar que simplifico o problema ao adotar o ar de considerar-me obrigado não somente por
mim mesmo? Estão os outros e o temor ao juízo que formularam sobre minha falta de palavra.
Contudo, creio que pode fazer-se abstração deste elemento. Pode haver casos em que minha
falta de própria palavra somente seja conhecida por mim mesmo. O problema se apresenta de
novo: Qual é a natureza desta obrigação? (implicada no ato de comprometer-se a algo...)
Sentir-se obrigado é, se se prefere, constatar; porém, constatar o quê? Assinei algo, estou
27
obrigado a respeitar minha assinatura – constato que se trata realmente de minha assinatura.
Deve-se dizer que transfiro à ordem puramente interior algo que não tem sentido mais que
socialmente?
Creio que aqui há de se deixar completamente de lado todas essas pseudoexplicações
que somente podem emaranhar o todo. Porém, então, por que considerar-me obrigado a
respeitar minha assinatura? É evidente que, em resumo, é para que o valor desta assinatura
fique a salvo. Esta se anula pelo mesmo ato pelo qual eu renego dela em caso particular (seja
qual for meu desejo de dotar a este ato particular de um caráter de exceção). Porém, não há aí,
depois de tudo, uma ilusão que tenho sumo interesse em dissipar? Sem dúvida, socialmente
me exponho a sanções penosas se falto com meus compromissos. Porém, não tenho interesse
em cumprir com estes somente na medida estrita em que me vejo forçado a isso? Por que,
pois, não reduzir ao mínimo a parte da religio em minha vida? Ver o que isto implica (em todo
caso, reduzir a parte do incondicional até suprimi-la).
Examinar em que medida tenho direito a vincular-me; isto toca a questão apresentada
ontem. Certa filosofia do futuro me nega este direito. Aqui está o problema mais grave.
Não tenho direito a contrair um compromisso que me será materialmente impossível
cumprir (ou melhor, se eu fosse absolutamente sincero, teria que saber que não o poderei
observar).
Leveza. Porém, há um somente compromisso que não pode ser considerado como
tomado realmente à leveza? Comparação com a verificação.
Sei quais são minhas
disponibilidades: meus compromissos somente são legítimos ou válidos na medida em que
versam sobre tudo o mais igual a minhas disponibilidades. Porém, aqui estamos em uma
ordem em que esta comparação não se sustenta: isto é o que tenho assinalado ao princípio ao
falar da parte incondicional.
O que eu entrevejo é que em última instância existiria um compromisso absoluto que
seria contraído pela totalidade de mim mesmo ou ao menos por uma realidade de mim mesmo
que não poderia ser renegada sem uma negação total – e que, por outra parte, se dirigiria à
totalidade do ser e seria contraído em presença desta mesma totalidade. É a fé. É evidente que
a negação segue sendo possível, porém, não pode ser justificada por uma troca no sujeito ou
no objeto; não pode ser explicada mais do que uma queda. Noção a aprofundar.
Por outra parte, o que também vejo é que não há compromisso puramente gratuito, quer
dizer, que não implique certa retirada do ser em nós. Todo compromisso é uma resposta. Um
compromisso gratuito seria não somente temerário, senão imputável ao orgulho.
A noção de orgulho desempenha em toda esta discussão um papel capital. Parece-me
que o essencial é mostrar que o orgulho não deve ser o princípio na qual repouse a fidelidade.
O que entrevejo é que, apesar das aparências, a fidelidade nunca é fidelidade a si mesmo,
28
senão que se refere ao que foi chamado a posse. Tudo isso ainda está apresentado
confusamente. Há de se por ordem e claridade nessas ideias dispersas. Talvez com a ajuda de
alguns exemplos. A ideia diretriz é que para reconhecer se um compromisso é válido, há de se
ter em conta a situação a situação em que se encontra a alma do que o contrai (exemplo do
juramento do bêbado). É preciso que este seja compos sui e que se declare a si mesmo como
tal (sem reservar-se a possibilidade de alegar ulteriormente que se havia equivocado). Há,
pois, um juízo cuja importância é fundamental e que está na origem do compromisso, o qual
não exclui em nenhum modo a posse exercida por uma realidade; esta posse se acha, pelo
contrário, na raiz do mesmo juízo que prolonga e sanciona uma apreensão.
08 de novembro de 1929
O amor – ou o respeito – à verdade relacionado com a fidelidade. Erro que consiste em
tratá-lo como uma vontade de acordo consigo mesmo (co-relação entre o orgulho e uma
fidelidade que não se consagra mais que a si mesma). Em outros termos, guardar-se de definir
a inteligência como uma espécie de identidade formal. É preciso que na raiz da inteligência
haja uma posse sobre o real. Esta co-relação me impressiona enormemente.
14
Mostrar talvez
também como a fidelidade está vinculada a uma ignorância fundamental do futuro. Uma
maneira de transcender o tempo em razão do que tem para nós de absolutamente real. Ao
jurar fidelidade a um ser, ignoro que futuro nos espera e inclusive, em certo sentido, que classe
de ser será amanhã; e é esta mesma ignorância que confere a meu juramento seu valor e seu
peso. Não se trata de responder a algo que me será dado, absolutamente falando, e o
essencial de um ser é precisamente não estar dado nem a outro nem a si mesmo. Parece-me
que há aqui algo essencial e que define até mesmo a espiritualidade (por oposição à relação,
senão física pelo menos atual que está encerrada no desejo; porém, não podemos reduzir ao
instantâneo, ao menos porque no instante não somos senão função).
Sem data
Prometi outro dia a C... que voltaria a visitá-lo na clínica em que agoniza há algumas
semanas. Promessa que no momento de formulá-la me pareceu brotar do fundo de mim
mesmo. Promessa devida a uma onda de compaixão: está desfeito, ele o sabe e sabe que eu o
sei. Passaram-se vários dias desde minha visita. O estado de coisas que emitiu minha
promessa não se modificou, não posso sobre este ponto fazer-me ilusão alguma. Devo dizer,
sim, que me atrevo a assegurar, que me inspira sempre a mesma compaixão. Como justificar a
14
Refletir sobre o que seria viver ao dia: seria sonhar a própria vida. Seria a vida, menos a realidade.
29
troca em minha disposição interior, posto que nada tenha sobrevindo que podia alterá-la? Não
obstante, devo confessar que minha compaixão sentida outro dia não é hoje senão uma
compaixão teórica. Julgo, todavia, que é desgraçado, que devo compadecer-me dele, porém,
outro dia nem me houvera ocorrido formular tal juízo. Era perfeitamente inútil. Meu ser não era
mais que impulso irresistível até ele, desejo louco de ajudar-lhe, de mostrar-lhe que estava com
ele, que seu sofrimento era meu. Devo reconhecer que este impulso já não existe e que não
está em minhas mãos senão imita-lo por artifício de que algo em mim se nega a zombar. Tudo
o que posso fazer é observar que C... é desgraçado, solitário e que não posso abandoná-lo;
por outra parte, prometi voltar; minha assinatura está ao pé de um contrato e esta contrato está
em meu poder.
Este silêncio em mim contrasta de modo estranho com o grito de compaixão que brotava
de meu coração; contudo, não me parece totalmente misterioso. Tenho capacidade de
descobrir em mim, no ritmo de meus humores, uma explicação suficiente. Porém, para quê?
Proust tem razão: para nós mesmos não estamos disponíveis; há uma parte de nosso ser à
quais circunstâncias estranhas e talvez imperfeitamente pensáveis; uns minutos mais tarde a
porta se nos volta a fechar, a chave desaparece. Devo aceitar com uma tristeza humilhada que
assim seja.
Porém,
esse
compromisso
que
contraí outro
dia
não
descansa
sobre
um
desconhecimento, culpável em si, destas flutuações, destas intermitências? Não haveria certa
presunção em afirmar que tal dia próximo eu sentiria ainda a mesma compaixão que na
cabeceira do enfermo me transpassava? Ou melhor: não pretendia, então, nada disso e
simplesmente quis dizer que certo fato material – minha vinda – teria lugar depois de tal prazo?
O que responder? Devo rechaçar esta alternativa. Não tenho me perguntado se o impulso que
me levava até ele devia voltar a cair como um jato, como uma melodia. A fortiori, não pude
comprometer-me a sentir amanhã o mesmo que ontem.
E apesar disso, se, deixando de lado aquilo que teve coincidência naquele instante
fugitivo, busco o que significa minha promessa como ato, estou obrigado a reconhecer que
encerra um decreto cuja audácia agora me surpreende. Reservando a possibilidade de
circunstâncias exteriores suscetíveis de pôr fora de meu alcance a realização de minha
promessa, admito, ainda que seja implicitamente, que minha disposição interior, sem dúvida,
não era inalterável, porém, ao mesmo tempo decidi que esta alteração eventual não será tida
em conta. Entre quem se atreve a dizer eu e quem se atribui o poder de obrigar-se (de obrigarme a mim mesmo) e o mundo ilimitado dos efeitos e das causas que escapa, por sua vez, à
jurisdição do eu e a toda previsão racional, existe, pois, uma zona intermediária em que se
desenvolvem acontecimentos que não são conforme nem aos meus desejos nem sequer à
minha expectativa, porém, dos quais reivindico, contudo, o direito e o poder de fazer abstração
30
em meus atos. Este poder de abstração real se situa no coração mesmo de minha promessa,
conferindo-lhe sua densidade própria e seu preço. Quero concentrar minha atenção sobre este
dado central e resistir à vertigem que ameaça apropriar-se de mim quando percebo o abismo
que se abre aos meus pés: quem é, com efeito, este corpo, de que sou por sua vez dono e
escravo? Posso, sem engano nem absurdo, exila-lo ao imenso império exterior que escapa às
minhas influências? Porém, menos ainda posso compreendê-lo perfeitamente nesta esfera
subjugada que declarei submetida ao meu poder de abstração. Parece-me igualmente
verossímil que sou responsável destas vicissitudes corporais e que não o sou; ambas as
afirmações me parecem exatas e absurdas. Não quero refletir mais sobre este ponto; basta-me
ter reconhecido que ao obrigar-me com uma promessa tenha introduzido em mim uma
hierarquia interior entre um princípio soberano e certa vida cujo detalhe torna-se imprevisível,
porém, que dito princípio subordina a si mesmo ou mais exatamente ainda, se compromete a
manter sob seu jugo.
Não posso ocultar-me que encontro aqui um dos lugares comuns mais esmagados da
sabedoria antiga; porém, por um jogo singular de perspectiva, esta evidência de outros tempos
tende a tomar para mim hoje a forma de um paradoxo; mais ainda: não posso evitar perguntarme se, aos olhos de uma ética da sinceridade pura, como a que professa comumente em torno
de mim, este decreto não se apresenta como um escandaloso abuso de poder. O mesmo
termo de abstração que me serviu em numerosas ocasiões não desperta naturalmente mais de
uma inquietude? Como justificar esta ditadura que, em nome de certo estado presente,
pretendo exercer sobre meus atos futuros? De onde emana este poder e quem é o que o
reivindica? Não recorreu a uma simplificação ao distinguir de meu presente um sujeito que
pretende superá-lo seguindo uma dimensão mental que não se confunde de nenhum modo
com a duração e apenas se presta a elaboração, nem ainda fôra como ideia? Observando-o
mais de perto: não é simplesmente este mesmo presente o que arbitrariamente se arroga uma
espécie de eternidade de direito? Porém, então, a mentira se instala no coração mesmo de
minha vida. A esta falsa “eternidade de direito” não corresponde de fato persistência alguma e
me vejo, ao que parece, enfrentado com a desconcertante alternativa seguinte: no momento
em que me comprometo ou bem admito arbitrariamente uma invariabilidade de meu sentir, que
realmente não está em mim ou bem aceito de antemão o ter que leva a cabo em um momento
dado um ato que refletirá em absoluto minhas disposições ao fazê-lo. No primeiro caso, minto a
mim mesmo; no segundo, consinto por avançado mentir a outro.
Tentarei justificar-me respondendo-me a mim mesmo que isso são sutilezas acumuladas
em torno a um problema, na realidade muito simples e que a vida se encarregará de resolver?
Não pode satisfazer-me uma resposta tão preguiçosa e não imagino neste preciso
momento vinte situações nas quais se apresenta este mesmo problema, porém, em termos que
31
acusam sua gravidade ainda para os espíritos menos atentos. Jurar fidelidade a uma criatura, a
um grupo, a uma ideia, a Deus mesmo, não é, em todos os casos, expor-se ao mesmo ruinoso
dilema? Não radica o juramento, seja qual for, em uma disposição completamente
momentânea e cuja permanência ninguém pode garantir?
Desde este ponto de vista parece como se a mesma natureza da fidelidade se cobrisse
de repente para mim o termo do compromisso. Volta à minha consciência a recordação de
todas as decepções, de todos os rancores contra si mesmo e contra os demais, que são os
frutos das promessas prematuras. Trata-se de acidentes? Ou ao contrário: haverá aí os efeitos
naturais da mais injustificada presunção? E a que preço se poderia evitar? Para que ficar
interiormente obrigado não havendo de aprender a fechar os olhos sobre o sinuoso, porém,
fatal futuro que, para uma observação enferma, cerram as estratificações de costume? Jurar
fidelidade – qualquer que seja o objeto ao qual este voto se dirija – não é, no fundo,
comprometer-se a ignorar o mais profundo de si, a aprender a arte de deixar-se enganar
constantemente por aparências com que nos temos revestido nós mesmos? Em resumo: pode
existir um compromisso que não seja traição?
Porém, não há traição que não seja uma fidelidade renegada. Existe, pois, uma
fidelidade fundamental, um vínculo primitivo que rompo cada vez que contraio um voto que
implica, em algum grau, ao que confusamente chamo minha alma – pois poderia não tratar-se
certamente dos que somente concernem à atividade mais exterior e socializada, aquela da que
a pessoa dispõe como de um instrumento manejável. Este vínculo primitivo não pode ser
senão o que alguns me têm ensinado a chamar fidelidade a mim mesmo. Pois, segundo eles,
quando me obrigo a algo, a quem traio é a mim mesmo. A mim mesmo: não meu ser, senão
meu futuro; não o que sou hoje, senão o que talvez serei amanhã. Aqui o mistério se faz mais
denso. Como poderei ser fiel ou, ao contrário, não sê-lo, ao desconhecido de hoje que somente
o futuro revelará? O que me dá a entender não é simplesmente que devo permanecer
disponível para este desconhecido, a fim de que um dia se substitua sem encontrar resistência
ao que agora sou, porém, que nesse momento haverei deixado de ser? Se me pede,
simplesmente, que me preste a este jogo, longe devo estar de restituir-me e defender-me.
Decididamente, o termo fidelidade troca aqui de sentido. Já não designa mais que um
consentimento indolente, um abandono gratuito. E quem me o prescreve? Este desconhecido
cujo prestígio radica inteiramente no fato de não existir ainda? Prodigioso privilégio de que
ainda há de nascer! Porém, faz falta, pelo menos, que tal privilégio seja reconhecido; e de novo
entro na noite. Porque o ato do qual este privilégio de meu ser futuro se acha aí consagrado
forma parte de meu presente; temos aqui, pois, um valor do futuro enquanto futuro, o qual está
ligado ao meu estado atual e, contudo, se distingue dele, pois lhe impõe, em certo modo, seu
rechaço.
32
Cederei às tentações da dialética? Admitirei que meu estado presente se nega e
pretende superar-se? Como não ver nisto um arranjo suspeitoso e que, por outra parte, ainda
supondo que eu o aprove e implica não sei que verdade transcendente ao futuro e suscetível
de fundá-lo? Porém, se é assim, já não pode valer-me o prestar-me sem resistência ao fluxo de
minhas disposições momentâneas. Algo que não é nenhuma delas, uma lei talvez, controla
seus caprichos. E a esta lei, a esta unidade, é a que tenho de ser fiel. Contudo, a linguagem
pode induzir-me uma vez mais ao erro. Esta unidade sou eu precisamente: é um mesmo e
único princípio – forma ou realidade – que exige sua própria permanência. Fidelidade não já a
um futuro, o qual carece de sentido, senão a um ser que não vejo possibilidade de distinguir de
mim mesmo. Escapo, assim, às miragens de um amanhã que se descolora na medida em que
se precisa.
Achei finalmente a solução desejada? Livrei-me das tenazes do dilema que parecia
dever proibir-me o ser ao mesmo tempo sincero e fiel? A solução que se apresenta ante mim
mesmo não é uma simples invenção lógica; um termo muito simples designa este ponto de
apoio escondido do ato pelo qual me obrigo. Que outra coisa é fazer uma questão de honra ao
cumprimento de um compromisso senão precisamente pôr o acento na identidade
supratemporal do sujeito que o contrai ou o executa?
Então chego a pensar que esta
identidade vale por si mesma, seja qual for o conteúdo de minha promessa. Esta identidade é a
que importa manter – e somente ela – por mais absurdo que possa parecer aos olhos de um
espectador o compromisso particular que tive a imprudência ou a debilidade de firmar. Pouco
me importam as objeções com que me oprimam as pessoas sensatas, os argumentos que
formulam meus amigos: prometi, cumprirei; talvez me obstinarei tanto mais quando que a
execução se me apresentará a mim mesmo e aos demais como uma espécie de aposta.
Porém, se assim o é, o objeto particular, ainda que seja Deus mesmo, ao qual se liga a
fidelidade daquele que se obriga, torna-se um puro acidente, uma espécie de pretexto; não
poderia entrar em um círculo que forma consigo mesmo a vontade tendida até a demonstração
de sua própria eficácia.
Como confundir este interesse da alma por sua própria glória, que não é senão a forma
mais seca, mais tensa, mais crispada do amor a si, com a qual, em todo momento, chamei
fidelidade? É, então, uma causalidade que, pelo contrário, a fidelidade sob seus riscos mais
característicos se encontre entre os seres menos preocupados por brilhar aos seus próprios
olhos? Um rosto de empregada ou de trabalhador me tem revelado. E qual pode ser o princípio
de uma confusão tão ruinosa entre duas disposições da alma que, segundo me assegura o
juízo mais superficial, são absolutamente incompatíveis? Ademais, como não ver que, pela
situação clandestina que encobre, uma fidelidade ao próximo, cujo princípio, raiz e centro fosse
eu mesmo, introduziria uma vez mais a mentira no coração da existência que informa?
33
O caminho a seguir para sair deste atoleiro: retomar o problema preciso que apresentei
no início, o dilema; particularmente no que concerne à fidelidade professada a um ser. Devo
rechaçar a alternativa (permanência da disposição interior ou mentira dos atos) e não é
certamente a tensão de meu próprio querer onde posso apoiar-me. Deve-se admitir, pois, que
a mesma relação implica algo inalterável. Tenho que aprofundar a natureza deste inalterável.
De onde partir para chegar a captá-lo? Dever-se-á partir do ser mesmo – do compromisso para
com Deus.
Ato de transcendência com seu revés ontológico que é a ação de Deus sobre mim. E
com relação a esta ação minha liberdade se ordena e se define.
A misteriosa relação entre a graça e a fé existe donde quer que se encontre a fidelidade
e ali onde toda relação deste gênero se ache ausente somente pode caber uma sombra de
fidelidade, uma constrição acaso culpável e mentirosa a que a alma se submete.
Aquilo que uma filosofia que me nega a possibilidade de alcançar outra coisa fora do
que ela chama “meus estados de consciência” resulta manifestadamente falsa contra a
afirmação espontânea e irresistível, que é como a base permanente do conhecimento humano,
de igual maneira sustenta que, apesar das aparências, a fidelidade não é nunca mais que uma
modalidade de orgulho e de apego a si mesmo, é seguramente destituir de seu caráter
distintivo às mais altas experiências que os homens tenham acreditado viver. Nunca se
sublinhará bastante a correlação que une estas duas “empresas”. Parece-me perceber aí um
foco de luz, ao qual terei que intentar aproximar-me. Porém, creio ver também que se pode ser
intentada uma refutação em um caso, também deve poder sê-lo em outro, seguindo a mesma
linha de reflexão.
Quando declaro que me é impossível compreender nada mais além de meus estados de
consciência, não oponho morosamente este conhecimento decepcionante e enganoso, pois
envolve uma pretensão em realidade injustificada, a um conhecimento que não está dado de
fato, porém, que pelo menos é concebido idealmente e que, ao contrário, alcançaria uma
realidade independente do que o elabora? Sem este eixo de referência, por mais imaginário
que se lhe suponha, é evidente que a expressão “meus estados de consciência” se esvaziam
de sentido, já que este não se define senão na condição de ficar restringido. Todo o problema
consiste, pois, em saber como é possível que eu tenha a ideia de um conhecimento tão
irredutível àquele de que gozo na realidade segundo esta hipótese ou, inclusive, e mais
profundamente ainda, saber se esta ideia se encontra efetivamente em mim. Bastará que
conceba que, talvez, não se encontre, para que, ao mesmo tempo, a arriscada doutrina que eu
pretendia proclamar se afunde no ato. Porém, quase não me é possível compreender como a
idéia de um conhecimento real, quer dizer, de uma referência ao ser, poderia ter origem dentro
de um mundo de puros estados de consciência. De modo que, insidiosamente, nos arredores e
34
sótãos da inexpugnável fortaleza em que eu mesmo pretendia encerrar-me, abre-se o caminho
da evasão. Não estarei obrigado a concluir que esta mesma ideia é como o cunho indelével em
mim de outra ordem?
Sucede o mesmo com a fidelidade: sobre este apego orgulhos que o eu se professa a si
mesmo se estende a sombra de outra fidelidade, cuja existência não posso negar mais porque
a concebo; porém, se desde o princípio me tem sido dado concebê-la, não é por fazê-la
experimentado antes obscuramente, já seja em mim, já nos demais? E não seria, ademais,
sobre o modo destes objetos, nos quais finjo não crer como construído bem que mal esta
realidade pessoal cujo caráter próprio seria precisamente ligar-se e manter-se em tensão
consigo mesma por um esforço incessantemente renovado?
Ademais, não está fundada minha suspeita sobre a atitude pela qual pretendo
concentrar em mim mesmo as raízes e as bases de toda fidelidade? Como poderia dissimularme que um desprezo tão sustentado e determinado das aparências não pode ter sua origem
em uma experiência, por mais encoberta e central que se lhe suponha, senão somente em um
prejuízo, em um rechaço radical pelo que, desterrando o real ao infinito, atrevo-me a usurpar
seu posto e a investir-me a mim mesmo – degradando-os, é verdade – dos atributos de que lhe
despojo?
Não pode salvar-se a fidelidade mais que a este preço? Parece-me que valeria cem
vezes mais decidir-me a não ver nisto senão uma sobrevivência, uma sombra atrás que a
reflexão deveria encarregar-se de dissipar completamente – antes que estabelecer no centro
de minha vida semelhante idolatria.
Sem ousar afirmar que esta conexão pode ser discernida em toda circunstância, não
posso não me permitir observar que a fidelidade, precisamente quando é mais autêntica e
quando nos mostra o rosto mais puro, venha acompanhada da disposição mais oposta ao
orgulho que se possa imaginar: a paciência e a humildade se refletem no fundo de suas
pupilas. A paciência e a humildade... virtudes das quais hoje temos duvidado até do nome e
cuja natureza se perde na noite à medida em que se perfecciona o instrumental técnico e
impessoal do homem, seja lógico ou dialético.
Porém, a comunidade que formam as três juntas, e que me aparece como um ser, cuja
ágil estrutura não me corresponde à psicologia identificar, não poderia existir, nem sequer ser
pensada, em um sistema que concentrasse em mim as raízes e as bases reais – dos
compromissos que a vida pode incitar-me a subscrever.
35
16 de dezembro de 1930
Ideia de uma expressão não representativa em música. Uma ordem na qual a coisa dita
não pode ser distinguida da maneira de dizê-la. Neste sentido, e somente nele, a música não
significa estritamente nada, porém, talvez por ser significação ela mesma. Aprofundar isto.
No fundo, volta-se a introduzir dentro da música, entre o conteúdo expressado (?) e a
expressão uma relação do tipo a que une a expressão com a execução. Porém, esta
transferência é ilegítima. Desde este ponto de vista, a noção de música objetiva toma um
significado ainda negativo.
Contudo, o termo expressão é ainda aplicável à música? Como existir sequer expressão
ali onde não se pode falar de conteúdo expressado – e distinto desta mesma expressão. Aqui
é, creio, onde deveria fazer introduzir a noção de essência, por outra parte tão dificilmente
definível. Há uma essência de Schumman, do último Beethoven, do último Fauré, etc. A
expressão seria, então, a permeabilidade da essência a si mesma. Essa é a ideia que em meu
parecer deve-se aprofundar. Há de se pôr em relação a ideia de essência com a de universo. A
essência como apogeu de certo universo. É quase impossível fazer aqui abstração da metáfora
do cume, e seria muito importante pôr ao descoberto as raízes desta metáfora. Assim, a ideia
do cume pode ser substituída pela do centro. Em ambos os casos existe uma periferia e, mais
exatamente ainda, alguns arredores (zonas de invasão).
Notas sobre o Discours Cohérent de Julien Benda
Não penso examinar mais que os princípios expostos nas primeiras partes do Discours
Cohérent, porque aqui são os principais os que nos interessam.
Benda, segundo própria declaração, quis edificar um infinitismo integral, mais
exatamente uma espécie de hiper eleatismo, onde os princípios de Parmênides seriam, pela
primeira vez, desenvolvidos até suas últimas consequências. E teoricamente penso que uma
tentativa desta ordem pode considerar-se como uma experiência intelectual interessante e até
fecunda, ao menos pelas reações que suscita, pela obrigação em que põe à crítica de elucidar,
por sua vez, sua própria posição.
Na realidade, o que fez Benda é uma espécie de confrontação não entre duas ideias,
mas dois aspectos de uma mesma ideia central e constante que é a ideia do mundo. “Tão
pronto o penso como idêntico a si mesmo, ou seja, sob o modo fenomênico, tão pronto como
contraditório consigo mesmo, ouso já, sob o modo divino, porém, tanto no segundo como no
primeiro é sempre o objeto de meu pensamento”. Um eleata – supondo que existam eleatas –
que lesse esta frase, começaria evidentemente a crer em um erro tipográfico da pior qualidade;
36
quero dizer: em uma inversão que desnaturaliza o sentido da frase, já que, para ele,
evidentemente, pensar o mundo fenomênico é pensá-lo de maneira contraditória. Contudo,
este eleata se enganaria e Benda diz exatamente o que quer dizer.
Seu esforço na primeira parte do Discours tende, com efeito, a mostrar que pensar o ser
como infinito é pensá-lo como contraditório. Vejamos exatamente o que entende por isto: a
demonstração nos dá possibilidade sobre o ser temporal, porém, indica que esta demonstração
pode e deve ser estendida aos outros modos de ser.
Enquanto eu represento com um número finito, por grande que seja, a duração que
atribuo ao mundo, desde hoje até sua origem, esta duração admitiria outra ainda maior.
Vejo-me, pois, necessitado, alude Benda, se quero conceber uma quantidade de ser
cuja duração desde o momento presente até sua origem não admita outra maior que ela;
quer dizer, que seja infinita; a conceber uma duração cuja medida seja um número que
escapa a esta servidão inerente ao número finito, ou seja, um número n tal que, se
adicionado uma unidade, obtenha um número n + 1, não diferente de n, um número n tal
que tenha: n = n +p, sendo p um número finito qualquer. Desde este ponto de vista, se
dirá que meu tempo é o mesmo que o de Julio César.
Porém, não nos deixemos enganar pela aparência paradoxal da fórmula; na realidade, é
um truísmo. Somente tenho direito de dizer que meu tempo é o mesmo de Julio César se com
isso quero simplesmente dizer que, posto que não há começo do mundo, não estou mais longe
deste começo que esteve Julio César. Na realidade, Benda evita esta maneira de expressar-se
para que possa subsistir confusamente no espírito do leitor a ideia deste começo situado no
infinito, apesar de tudo.
Dizer eu não estou longe do que esteve Julio César do começo do mundo porque este
começo não existe equivale a dizer que um acontecimento não pode ser situado senão por sua
relação com outro acontecimento e que, posto que não há nenhum acontecimento que possa
chamar-se começo do mundo, tampouco é possível nenhum ponto de referência temporal
absoluto de um acontecimento qualquer.
Nenhum ponto de referência temporal absoluto é possível senão admitindo que o mundo
começou realmente. Porém, Benda declara que pensar o mundo como infinito sob a relação
tempo é pensá-lo de tal maneira que suas distinções no tempo já não existem; ou seja, que o
diferente resulta indiferente. Creio que aqui há uma confusão bastante grave. Enquanto nos
movemos em um plano em que a distinção dos tempos, no qual a cronologia subsiste, é-nos
absolutamente impossível considerar esta distinção como abolida ou como suscetível de abolirse.
Tudo o que se tem a dizer é que essas distinções temporais não têm um significado
último, senão somente superficial, ainda quando sob certo registro conservem todo o seu valor.
Servir-me-ei aqui de uma comparação para fazer compreender meu pensamento. Um livro é
37
algo que comporta uma paginação perfeitamente determinada e quem está encarregado de
ordenar os livretos está obrigado a respeitar esta ordem única e irreversível. Porém, fica
perfeitamente claro, por outra parte, que o livro comporta outros tipos de unidade infinitamente
mais profundas que o que se expressa na paginação. E isto não quer dizer, portanto, de
nenhuma maneira, que a paginação seja “ilusória”. A cronologia é uma espécie de paginação
do mundo; seria completamente absurdo falar de uma origem desta paginação, a qual seria
situada no infinito. Seria contradizer-se nos próprios termos, mais exatamente, ainda, no
pensar em absoluto, de modo que não somente é legítimo, senão inevitável, elevar-se a um
ponto de vista desde aquele em que a ordem das páginas aparece como a expressão
superficial de algo infinitamente mais íntimo e que pode ser apreendido por outras vias.
Desde este ponto de vista, a fórmula n = n + p é simplesmente um contra senso. Tudo o
que se pode dizer é que, sob certo ponto de vista, a diferença entre n e n + p deixa de
apresentar um valor instrutivo ou significativo, o qual é completamente distinto e não implica
contradição alguma.
Deste modo, a definição, em virtude da qual o ser infinito seria o ser, enquanto
contraditória consigo mesma, apóia-se em um paralogismo e pode ser eliminada
imediatamente. Esta afirmação somente seria legítima se as distinções temporais se pudessem
pensar, por sua vez, como subsistente e como aniquiladas; porém, não é esse o caso
precisamente. Poder-se-ia mostrar, portanto, que a confusão vai muito mais longe. Benda
parece identificar o indeterminado e o contraditório em si mesmo. Porém, isto é injustificável. A
contradição não surge senão ali onde a um mesmo sujeito lhe são atribuídas determinações
incompatíveis entre si; então, é que se saiu do terreno do indeterminado. A indeterminação é
anterior, com efeito, a esta dupla atribuição. Poderíamos ir mais longe ainda na crítica e
mostrar em particular como Benda não tem fundamento algum para considerar o ser sob a
totalidade destas relações, posto que, desde seu ponto de vista, que é o do ser indeterminado,
estas relações podem formar uma totalidade. Está demasiado claro que ele oscila aqui, sem
dar-se conta, entre duas posições ontológicas opostas e cuja oposição não percebe.
As observações que acabo de apresentar postulam por antecipado a nulidade de todos
os desenvolvimentos que seguem à exposição destes princípios. É perfeitamente claro, em
particular no capítulo V, que Benda confunde continuamente a indeterminação, que não é
ainda mais que pura virtualidade, e a supra determinação do ser em sua plenitude, em cujo
seio se fundem todas as oposições. Diremos que é evidentemente nesta supra determinação,
nesta plenitude que convém deter-se? Tudo demonstra o contrário, a partir do texto da página
62115, onde Benda fala da solidão lógica ou da esterilidade do absoluto. Fica bem patente,
através de todo o conjunto de sua dialética, que quanto mais um ser se diferencia, tanto mais
15
Estas indicações se referem ao texto aparecido na Nouvelle Revue Française.
38
se assegura contra o retorno a Deus, definido como indeterminação inicial. E aqui aparece já
claramente o fato, sobre o qual voltarei logo, de que o metafísico – metafísico ao seu modo de
pensar – a quem Benda mais se aproxima não é Parmênides nem Spinoza, senão o Spencer
dos Primeiros Princípios, um Spencer que havia lido e anotado Schopenhauer.
Devo agora abordar outra ordem de dificuldades: trata-se desta vez da noção de Deus
tal como aparece em o Discours Cohérent. Deus, se diz no parágrafo 59, não é senão o mundo
pensado de certa maneira. E Benda precisa ainda mais dizendo que o que existe, segundo ele,
não é Deus (substantivo), senão o divino (adjetivo aplicado ao mundo). Aqui surge um
problema de prejuízo que não abordarei, porém, que era imprescindível apresentar: o de saber
se é legítimo falar de existência a propósito de algo que não é mais que adjetivo. É demasiado
claro que o que existe aqui é simplesmente o mundo; dizer que o divino existe como tal é um
contra senso. Por outra parte, não cabe de nenhum modo o recurso de dizer que este divino é
o mundo pensado como divino, porque, com isso, faço-o depender de um sujeito que se afirma
como tal, enquanto que esta dependência fica radicalmente excluída pela posição de Benda.
Porém, vemos surgir aqui uma contradição: se Deus não é mais que o mundo pensado
por mim (ou por X...), como indistinção pura, que sentido pode ter o perguntar-me pelo que
Deus conhece? No parágrafo 58 lemos: “Deus não conhece nem a inquietude nem a
serenidade; conhece a liberdade”. Objetar-se-á que não há de tomar-se o termo conhecer em
sua acepção estreita? E, com efeito, no desenvolvimento Benda explica que a ideia de Deus
está ligada à ideia de liberdade. Porém, em outra parte o termo conhecimento será tomado em
sua acepção habitual. Com efeito, após ter distinguido duas maneiras de pensar o
indeterminado, uma das quais corresponde ao estado do mundo fenomênico, chegando ao
termo de sua conversão a pensar-se sob o modo divino, enquanto que a outra corresponde ao
estado do mundo pensando-se sob o modo divino, sem haver conhecido o mundo fenomênico,
Benda declara (parágrafo 10, p. 481) que esta primeira maneira é, talvez, aquela segundo a
qual se pensa o Ser indeterminado que se conhece a si mesmo sem haver conhecido nunca
outro estado. Esta frase é extraordinariamente significativa e é evidente que, talvez, sem alterar
seu alcance, não introduz senão um elemento de confusão adicionado. Se se pode falar de um
modo de pensar-se que corresponda ao Ser indeterminado, de um conhecimento que lhe seja
próprio, é demasiado evidente que, de novo, é concebido substantivamente, o qual está em
contradição formal com a declaração do parágrafo 59.
Por outro lado, penso que se aprofundarmos na argumentação, ver-se-ia surgir uma
nuvem de novas e insondáveis dificuldades. Por exemplo, quando Benda declara que a ideia
de Deus e do mundo fenomênico, ainda sendo irredutíveis, são correlativas (parágrafo 13, p.
624), é impossível não se perguntar dentro de que unidade se constitui tal correlação, se não é
no sujeito, que eu invocava há um instante. Vê-se aparecer aqui pelo menos o fantasma de
39
uma terceira esfera, que não será por definição nem do fenomênico nem do Ser indeterminado,
cujo estatuto metafísico ou ontológico não vemos que possibilidade tem Benda de definir. E é,
na realidade, Platão e Hegel quem se impõem neste âmbito de modo irresistível; não se lança
mão da dialética: a dialética se impõe e o resistir-se a ela, como o faz Benda, é cometer um ato
de suicídio puro e simples. E, sem dúvida, esta atitude é legítima para um irracionalista. O
irracionalista está em seu direito quando rechaça a dialética; se rechaça a dialética, rechaça, a
fortiori, o Ser indeterminado, que não é senão o mais precário produto desta mesma dialética.
E aqui o pensamento de Benda parece-me como um irracionalismo torpe que, sem confessá-lo
a si mesmo, veste um não sei que farrapo de razão mais cinzento que pôde encontrar. E
encontramo-nos aqui, penso eu, com o que há de mais secreto e interessante no problema que
apresenta o Discours Cohérent. Com efeito, toda a questão que Benda nos apresenta, e que
estamos obrigados a apresentar, é a de saber como se justifica o primado metafísico que ele
atribui ao Ser indeterminado. Quero insistir ainda sobre este ponto.
Este ponto é, com efeito, tanto mais importante quanto que, contrariamente ao conjunto
dos metafísicos do passado, Benda se nega absolutamente a identificar infinito e perfeição. É
este, ademais, um ponto sobre o qual já se havia explicado em um estudo sobre a ideia de
ordem e a ideia de Deus. “Um atributo essencialmente estranho à natureza de Deus é a
perfeição. A ideia de coisa perfeita, quer dizer, terminada, acabada, sendo essencialmente
incompatível com a ideia de ser infinito, porém necessariamente unida, pelo contrário, à ideia
de ser determinado”. Em o Ensaio sobre a Ideia de Ordem e a ideia de Deus combatia
essencialmente a noção de ser supremo, negando-se absolutamente a colocar Deus no vértice
de uma hierarquia e admitindo, inclusive, que esta hierarquia é estranha a Deus. Faço notar, de
passagem, que não parece haver um acordo absoluto entre os dois textos, posto que Benda,
na ideia de ordem, poderia parecer disposto a atribuir a Deus uma perfeição infinita, enquanto
que ulteriormente lhe negará pura e simplesmente a perfeição; ainda esta segunda posição é
realmente a sua e a que há de examinar.
O Deus infinito de Benda é um Deus não imperfeito, certamente, porém, tampouco
perfeito. Porém, isto acusa ainda manifestamente a dificuldade que eu assinalava há um
instante: tão fácil é compreender que o termo Deus possa ser atribuído a um ser definido como
perfeito, como a situação se inverte se se trata de uma realidade não existente e não perfeita,
por ser infinita. E retomo minha pergunta: de onde procede este primado? Benda intentará,
sem dúvida alguma, descartar o termo mesmo de primado alegando que este restabelece, ipso
facto, essa hierarquia que não quer por nada do mundo; não obstante, lhe responderei
simplesmente o seguinte: o termo Deus não é desses que é legítimo usar arbitrariamente,
encarna certos valores, em torno dele cristalizam certos sentimentos (e aqui é evidente que as
noções de perfeição e supremacia reaparecem imediatamente). Trata-se, agora, de saber se
40
ditos valores são compatíveis com os atributos do ser, tal como Benda o define. Sem dúvida,
eu compreenderia em rigor que se negara a considerar as coisas sob este ângulo e que se
encurralara em uma espécie de recinto reservado, onde ficaria ele com seu Deus próprio;
porém, desgraçadamente, não é isto o que faz, como confirma a página 475. “Sem falar dos
filósofos..., disse, parece-me que as pessoas simples, as que não exigem de sua teologia mais
que as necessidades de seu coração, têm (entre outras, muitas que lhes contradizem)” voltarei sobre este parêntesis - “esta ideia de Deus onde se desaparece a noção de distinção e
de limitação da que sofrem por momentos; isto é o que me parece que mostram nesses
instantes nos que eles esperam que em Deus se aboliram todos os nossos orgulhos”, etc.
Porém, é evidente que são estas outras ideias, estas ideias contraditórias e, em particular, as
da justiça e caridade divinas as que constituem a noção que fazem de Deus esses humildes,
dos quais Benda tem aqui a bondade de recordar. Agora, este Deus justo ou caritativo, este
Deus que não é Deus senão por sua justiça ou sua caridade infinita, não tem, evidentemente,
nenhuma relação com o ser indeterminado de Benda; e isto não se deve esperar encontrar
entre os simples um só aliado. Ser-lhe-á preciso, pois, se quiser assegurar sua posição um
mínimo de coerência, reconhecer que seu Deus não tem nenhum valor no sentido usual e até
técnico da palavra? Porém, dado que, por outra parte, é possível que não exista, resulta
bastante difícil o não perguntar-se o que nos impede de suprimi-lo pura e simplesmente. Assim,
pois, penso que é preciso prever que, apesar de tudo, Benda intentará organizar a resistência
nesta linha do valor. Contudo, aqui retomo minha pergunta: que tipo de valor é possível atribuir
ao ser indeterminado? Esta é a questão sobre a qual, por minha parte, desejaria vivamente
ver-lhe explicar; porém, como dizia ao princípio, duvido que isso lhe seja possível. Com efeito,
parece-me certo que isto não é senão uma máscara – a máscara de que se reveste certo
querer perfeitamente resolvido a não explicitar-se ante si mesmo -; por minha parte, não
duvidaria em ver aí a expressão de uma esterilidade em certo modo mallarmeana, que se
constata a si mesma e, não podendo aceitar ou suportar-se, converte-se em vontade de
esterilidade e em qualidade de tal deifica-se. Esta autodeificação é demasiado evidente no
núcleo dos escritos de Benda e inclusive diria que se acha presente neles duplamente e que,
pelo mesmo, suprime-se; porque a estranha teogonia que se nos apresenta, este duplo
processo pelo qual o mundo se rescinde de Deus para voltar a si mesmo, tudo isso se
desenvolve exclusivamente na consciência do senhor Benda, que, de algum modo, se divide
entre seu Deus e seu universo. E acrescento, para acabar, que o idealismo, que por minha
parte repudio, recobra manifestadamente toda sua força na presença de uma doutrina como
essa, que não é, em última análise, senão sua expressão, acaso a mais pobre e a mais
contraditória, por sua vez.
41
Admitamos, contudo, por um instante, que as objeções que precedem podem ser
descartadas; admitamos, coisa que critico do modo mais explícito, que esta ideia de Deus
pudesse ser considerada como sustentável. Ainda há de se perguntar como se efetua, no
sistema de Benda, a passagem de Deus ao mundo e aqui podemos assistir um espetáculo
singular.
Benda crê haver estabelecido a irredutibilidade de dois modos fundamentais de pensar o
mundo: o primeiro, o modo divino, sob a categoria da contradição; o outro, o modo fenomênico,
sob a categoria da identidade. Que quer dizer isto? Quer dizer que há aqui duas ideias que
não se comunicam, duas ideias tais que pode passar-se de uma a outra, tanto como não se
pode passar da ideia de azul à de triângulo, por exemplo. Porém, o surpreendente é que, da
consideração das ideias, Benda, sem dar-se sequer conta disso, passa à das coisas; pouco
depois lemos que o mundo fenomênico não é concebível por relação a Deus, senão por uma
separação de e com Deus e não por uma processão contínua de Deus até ele. Porém, a
questão não era nada parecida e nego que esta separação, que está dada aqui como um ato
(intemporal, evidentemente), tenha a menor relação com a irredutibilidade relativa às ideias que
Benda crê haver estabelecido anteriormente. O termo excessivamente concreto de separação
não lhe bastará; imediatamente depois nos falará de aversão, especulando, sem dúvida, em
vista a ulteriores desenvolvimentos sobre a significação afetiva deste termo – e, três linhas
mais longe, de impiedade. Porém, creio que a reflexão metafísica mais simples basta para
descobrir o que há em tudo isso de radicalmente ininteligível e até diria de não pensado. Como
pode pretender-se que o ser determinado se separe do ser indeterminado? Isto não seria
concebível senão em uma filosofia de tipo neoplatônica, na qual o princípio absoluto não seria
indeterminado, senão, poderíamos dizer, supra determinado. As determinações aparecem,
então, como índices de um empobrecimento, porém nestas filosofias o indeterminado, quer
dizer, a matéria, corresponde ao grau mais baixo da processão. Benda não pode dar espaço
algum em seu sistema a tal ideia, posto que nem sequer quer ouvir falar de hierarquia. Então
parece-me manifesto que Benda transpõe o que ele crê, um hiato radical entre o ser
determinado e o ser indeterminado, a uma esfera em que este hiato não pode trocar de
natureza. Por isso mesmo proliferam ao redor deste hiato categorias metafísicas das quais
precisamente pretendia desembaraçar-se. E tudo isto obedece ao fato de que, na realidade,
está preocupado por constitui um sistema fundado em uma espécie de cadência
schopenhaueriana. Uma dialética completamente inconsciente que rege seu mais implícito
querer lhe obriga, assim, a introduzir, em suas premissas, de um modo que as transforma e as
arruína, os elementos dinâmicos que sua posição metafísica tenha por característica excluir,
porém dos quais tenha necessidade para justificar sua atitude de letrado consciente de si
mesmo.
42
No ponto em que temos chegado há uma questão que é difícil não apresentar: por que
não desembaraçar-se, simplesmente, deste ser indeterminado ou finito que tão pronto aparece
como um puro não-ser, tão pronto se apresenta como uma espécie de guarda móveis, em que
se encontram em desordem os elementos entre os quais o mundo fenomênico terá a louca
pretensão de instituir uma ordem hierárquica? Por que não reservar, simplesmente, a terceira
parte do Discours Cohérent, que nos apresenta em resumidas contas um quadro spenceriano
do universo, enriquecido (ou enredado) graças a préstimos tomados de Schopenhauer,
Nietzsche e Bergson? Não se pode edificar uma filosofia do imperialismo, que se constituiria
sobre noções quase tradicionais, como as da vontade de viver ou vontade de poder? Porém,
neste caso o que seria da quarta parte, ou seja, do retorno do mundo a Deus? Notemos, de
passagem, que esta quarta parte corresponde, em certo modo, ao quarto livro do O mundo
como vontade e representação. Porém, pouco importa neste momento: há um instante eu fazia
notar que Benda se achava constrangido a organizar a resistência sobre a linha do valor. É
preciso, com efeito, que este mundo do fenômeno, quer dizer, da distinção, da individualização
e do imperialismo se condene ou possa pensar-se como condenado. Por que é “preciso” isto?
Simplesmente porque Benda escreveu La trahison des Clercs. Dir-me-á: “Isto é absurdo. A
verdade é precisamente o contrário. Se Benda escreveu La trahison des Clercs é para devolver
o mundo à razão”. Creio, contudo, poder seguir sustentando minha afirmação. É precisamente
porque há um livro intitulado La trahison des Clercs que o mundo fenomênico deve ser
pensado como condenável; não pode sê-lo senão enquanto é pensado como se separado de
algo que é...que é o quê? Não podemos dizer nem que é o Bem nem que é a Inteligência
absoluta. Diremos, simplesmente, que é Deus. A existência de Deus se acha pendente da
existência de La trahison des Clercs. Voltar-se-á ao ataque: podem dizer-me: “Se Benda
escreveu La trahison des Clercs, o faz em nome da metafísica que se explicita no Discours
Cohérent”. Responderei que de nenhum modo. La trahison des Clercs é um livro que, em meu
parecer, somente tem a ver com a psicologia do temperamento; psicologia, por outra parte,
rigorosamente judaica. O que acontece é que estamos em um terreno em que qualquer
afirmação pretende justificar-se; por isso, La trahison des Clercs fez sair do sótão com bastante
naturalidade um conjunto de aparatos de proteção que hoje temos à vista e que está
naturalmente destinado a funcionar em certo sentido bem determinado. Porém, quer a natureza
humana que o mesmo que os têm inventado seja o último em tomar consciência de sua origem
e de seu destino.
43
11 de março de 1931
A caridade como presença, como disponibilidade absoluta. Nunca me havia aparecido
tão claramente sua relação com a pobreza. Possuir é quase inevitavelmente ser possuído.
Interposição das coisas possuídas. Isto exigiria ser aprofundado consideravelmente.
No âmbito da caridade, a presença como dom absoluto de si e como dom que não
implica nenhum empobrecimento complementário; estamos aqui em um terreno no qual as
categorias válidas no mundo das coisas cessam completamente de serem aplicáveis;
categorias, como veremos, rigorosamente ligadas à mesma noção de objeto. Se de quatro
objetos que possuo, dou dois, é evidente que já não ficam mais que outros dois, que me
empobreci de outro tanto. Porém, isto somente tem sentido se estabeleço certa relação entre
esses objetos e eu; se os considero, por assim dizer, como consubstanciais comigo; se sua
presença ou sua não presença, no sentido mais forte da palavra, afeta-me a mim mesmo.
Aprofundar a noção de indisponibilidade. Parece-me que corresponde ao que constitui
mais radicalmente a criatura como tal. Pergunto-me, desde este ponto de vista, se toda a vida
espiritual não poderia definir-se como o conjunto de atividades pelas quais tendemos a reduzir
em nós a parte da indisponibilidade. Conexão entre o fato de estar indisponível e o sentir-se ou
julgar-se indisponível: mostrar, com efeito, que esta indisponibilidade não é separável de certo
modo de aderir a si mesmo, o qual é algo, todavia, mais primitivo e radical que o amor de si.
A morte como negação absoluta da indisponibilidade.
Isso é, em meu modo de ver, uma mina de reflexões importantes, pois se vê aqui a
necessidade de distinguir entre o amor de si como disponível, quer dizer, o amor daquilo que
Deus pode fazer de mim; este amor legítimo se ilustra pelo seu contrário: o ódio de si, que
pode expressar-se em certo apetite de morte. Problema da indisponibilidade relativa de si para
si. Há aí algo muito interessante para aprofundar.
Análise da noção de indisponibilidade.
Parece-me que implica sempre a de alienação. Ter capitais indisponíveis é tê-los
parcialmente alienados. Isso é perfeitamente claro quando se trata de bens materiais. Deve-se
ver como esta noção é extensível do modo que eu indicava esta manhã. Um caso típico se
apresenta à minha mente: minha simpatia se vê solicitada por um infortuito, que me expõe;
sinto que me é impossível outorgá-la. Teoricamente reconheço o quanto me é singularmente
digno de lástima; porém, não sinto nada. Se tivesse ante meus olhos as misérias de que se me
fala, seria sem dúvida outra coisa; certa experiência imediata libertaria em mim estas fontes,
forçaria estas portas seladas. Coisa estranha, desejaria sentir esta emoção que em parece
“impor-se” (opino que é normal o comover-se em semelhante caso), porém, não sinto nada,
não posso dispor de mim mesmo. Sem dúvida poderia eu, graças a uma espécie de
44
adestramento mental, obter de mim algo que se pareceria com esta emoção; porém, se sou
sincero, não me deixarei enganar, pois saberei que se trata de uma imitação sem valor. Há
dois casos extremos nos quais esta alienação, por outra parte tão difícil de definir com
exatidão, não se produz: a criança e o santo. Acha-se evidentemente ligada ao que se pode
chamar o crescimento normal de uma experiência: e aqui volto a coincidir com o que escrevi
faz alguns anos: não há vida sem risco; a vida não pode separar-se de certo perigo. À medida
que vou me estabelecendo na vida, tende a operar-se certa separação que a si mesma se
apresenta com natural entre o que me concerne e o que se me concerne. Cada um de nós se
converte assim no centro de uma espécie de espaço mental distribuído segundo uma série de
zonas concêntricas de aderência decrescente, de interesse decrescente, e a esta aderência
decrescente corresponde uma indisponibilidade crescente. Há aqui algo que nos parece tão
natural, que descuidamos ao formarmos a menor ideia dele, a menor representação. A alguns
de nós nos pode ter ocorrido ao realizar tal encontro, que desbaratou, em certa maneira, o
marco desta topografia pessoal e egocêntrica; posso compreender por experiência que de um
desconhecido que encontro por causalidade surja uma chamada irresistível até o ponto de
inverter, de repente, todas as perspectivas, o que pareceria imediatamente fechado aparece
infinitamente longe e vice versa. Trata-se de experiências transitórias, de brechas que não
tardam em fechar-se; porém, creio que tais experiências – por decepcionantes que sejam e o
são até o ponto de deixar no fundo do coração uma impressão de amarga tristeza e até de
irrisão – oferecem a inapreciável vantagem de fazermos tomar consciência bruscamente do
caráter contingente do que chamo nosso espaço mental e das cristalizações que fundam sua
possibilidade. Porém, temos o fato da santidade realizada em certos seres para ajudar-nos a
descobrir que o que chamamos ordem normal não é somente, sem dúvida, sob certo ponto de
vista, a subversão de uma ordem precisamente oposta.
Metafisicamente falando, é falso dizer que “eu sou minha vida”; esta afirmação implica
uma confusão que a reflexão põe ao descoberto; contudo, esta confusão não é somente
inevitável se se acha na raiz do drama humano e lhe confere uma parte de seu sentido; este
drama perderia sua grandeza se aquele dá sua vida não se achasse em condições tais que
este sacrifício possa – ou deva, se falta a fé – aparecer-lhe como um sacrifício total.
Deve-se ter presente que seria não somente perigoso, senão perfeitamente culpável
para quem não tenha percebido certo chamado, o pretender romper de modo racional com o
que tenho chamado as condições normais da experiência profana. Tudo o que podemos fazer
é reconhecer, pelo menos com o pensamento, a anomalia que estas condições implicam desde
um ponto de vista transcendente, sob o qual algo em nós parece exigir que nos possamos
situar.
45
Não poderia sustentar-se, por outra parte, que o que chamamos espaço, no sentido da
palavra, não seja na realidade mais que uma espécie de tradução desse sistema de zonas
concêntricas que eu defini há um instante? Porém, a este respeito, cabe perguntar-se se a
supressão de distâncias não tem um duplo significado; acha-se vinculada a uma transformação
da noção física de espaço, porém, ao mesmo tempo, elimina o valor qualitativo da distinção
entre longe e perto. Não parece que suceda algo semelhante no que se refere ao tempo,
porém, isso simplesmente porque o passado, por sua mesma definição, se nos escapa das
mãos, sendo, por essência, aquilo frente ao qual somos impotentes. Por outra parte, isto
valeria também a pena aprofundar porque se a materialidade (!) do passado é imutável, este
toma um valor, uma coloração diferente segundo a perspectiva sob a qual a consideramos e
esta perspectiva varia com nosso presente, quer dizer, em função de nossa ação. (Cito um
exemplo que me vem à mente neste momento: um ser viveu uma vida sem luz, lutou e foi
morto, talvez, desesperado; dos que lhe sucedem dependem, naturalmente, o poder de
manifestar as consequências desta vida suscetível de dar-lhe um significado e um valor a
posteriori; contudo, isso não basta; algo em nós exige que estas consequências sejam
conhecidas daquele que
por sua
vida,
por seu
sacrifício
obscuro,
permitiu seu
desenvolvimento. Perguntemo-nos o que vale esta exigência: que títulos de justificação podese apresentar? E até que ponto podemos admitir que a realidade possa ignorá-la? Questões
difíceis de apresentar em linguagem inteligível).
Vínculo entre a indisponibilidade – e, por conseguinte, da não presença – e a
preocupação por si. Há aqui uma espécie de mistério e aparece também, creio eu, toda a teoria
do tu. Quando estou com um ser indisponível, tenho consciência de estar com alguém para
quem não existo; vejo-me rechaçado e, portanto, me dobro em mim mesmo.
Posso definir a Deus como presença absoluta? Isto coincide com minha ideia do recurso
absoluto.
13 de março de 1931
Estar indisponível: estar ocupado de si. Porém, a reflexão deve exercitar-se neste de si.
Se nos pomos a analisar um pouco, descobriremos que não há diferença, desde o ponto de
vista em que me situo, entre o fato de ocupar-se de sua saúde, de sua fortuna, de sua noiva,
de seu êxito temporal. Não se segue daqui que estar ocupado de si não é ocupar-se de um
objeto determinado, senão de estar ocupado de uma maneira que está por definir-se?
Transição através da ideia de uma opacidade interior, de uma obturação. Se me refiro à minha
mais íntima experiência, creio ver que em todos os casos nos achamos frente à fixação, em
uma zona ou registro determinado de uma inquietude que é indeterminada por natureza.
46
Porém, contrariamente ao que uma análise superficial parece indicar, esta inquietude (e
inclusive esta indeterminação) persiste dentro desta fixação: dá-lhe o caráter de uma
crispação, compatível com uma agitação que se exerce no seio desta zona delimitada; esta
inquietude – aqui coincido com Heidegger e talvez com Kierkegaard: não seria a mesma
angústia da temporalidade, a angústia de sentir-se entregue ao tempo sem que seja
necessário, por outra parte, introduzir aqui o momento da reflexão propriamente dita? Esta
angústia envolve uma inesperança (unhope: a expressão se encontra em um poema de
Thomas Hardy) que com respeito a um objeto determinado se troca inevitavelmente em
desesperação. Por oposição a tudo isso, indagar acerca da indolência.
Se tudo isto está fundado, as raízes metafísicas do pessimismo são as mesmas que as
da indisponibilidade. Isto se deve relacionar com o que disse sobre a alegria e a esperança.
Devo voltar sobre o que disse acerca do fato de que a estrutura de nosso universo
permite a esperança e haverá que examinar seu significado ontológico.
Deve-se se perguntar, igualmente, se o tu, como valor ou como realidade, não é função
do que chamo minha disponibilidade interior. Estudar por outra parte o lugar da esperança na
teoria do tu (o que significa dar crédito; dar crédito ao universo).
O que chamei a inquietude como desgraça fundamental, como dado (ou, pelo menos,
como dado possível) universal. A imagem mais concreta dela me proporcionou a horrível
impressão que tenho experimentado várias vezes na obscuridade – sentir-se desamparado,
sem apoio possível.
Neste momento me pergunto também se não caberia mostrar se as distintas técnicas
são defesas contra este estado de impotência. Por si mesmas não implicam, de nenhuma
maneira, a fixação de que tenho falado. Valor saudável do fazer como tal. Porém, passagem
possível à idolatria da técnica que analisei em outra parte.
O que importa é notar que o temor e o desejo se situam no mesmo plano e são
inseparáveis, porém, que a esperança se situa em outra zona que não é a da sabedoria de
Spinoza e que ao mesmo tempo Spinoza ignorou (Spinoza falou correlativamente de spes e de
metus e é certo que, espontaneamente, tendemos a imitá-lo). A zona da esperança é também
a da oração.
15 de março de 1931
Quando se examina de perto se alguém dá conta da esperança, é muito difícil de definir.
Tomarei dois exemplos: esperar a cura ou a conversão de um ser querido, esperar a libertação
do próprio país oprimido. A esperança neste caso versa sobre algo que, segundo a ordem
natural, não depende de nós (acha-se absolutamente fora da zona em que pode exercer-se o
47
estoicismo). A esperança supõe a consciência de uma situação que nos convida a desesperar
(enfermidade, perdição, etc.) Esperar é dar crédito à realidade, afirmar que há nela algo que
nos fará triunfar do perigo e aqui se vê que o correlativo da esperança não é o temor, senão o
ato que consiste em pôr-se no pior; é uma espécie de fatalismo pessimista que afirma a
impotência da realidade ou nega a esta a aptidão para ter em conta aquilo que, apesar de tudo,
não somente é nosso bem, senão, o que julgamos que é um bem em um sentido absoluto da
palavra.
Esta tarde apreendi muito mais claramente que nunca a natureza da esperança. Esta
versa sempre sobre a restauração de certa ordem viva em sua integridade. Porém, por outra
parte, encerra a afirmação da eternidade, dos bens eternos.
Pertence, por conseguinte, à sua mesma essência ali onde, no âmbito do visível, tem
sido enganada, o refugiar-se no plano em que já não possa ficar defraudada – isto coincide
com minhas velhas reflexões sobre o inverificável, que eram a antecipação vacilante do que
percebo aqui. E inclusive a integridade do organismo – quando espero a cura de um enfermo –
é como a prefiguração, a expressão simbólica de uma integridade suprema.
Neste sentido, digo que toda esperança é esperança de salvação e que é
completamente impossível tratar de uma sem tratar de outra. Porém, em Spinoza esta noção
de salvação carece realmente de toda significação e o mesmo com os estóicos. Não há lugar
para a salvação senão no universo que comporta lesões reais.
Haveria que mostrar agora que o objeto não é nunca a integridade como tal, senão que
é sempre um modo de gozar, do mesmo modo que o objeto do temor é um modo de sofrer.
Porém, a salvação está, sem dúvida, além desta oposição. Isto, contudo, não fica, todavia,
claro para mim.
Esta manhã eu pensava: a esperança não é possível senão em um mundo em que há
lugar para o milagre; e o sentido desta reflexão se precisa esta tarde para mim. Aqui também
coincido, creio eu, com Kierkegaard, ao menos com alguns de seus prolongamentos.
17 de março de 1931
Se minhas ideias são exatas, existe íntima união entre a esperança e certa afirmação da
eternidade ou de uma ordem transcendente.
Por outra parte – e aqui coincido com as Remarques sur l’Irreligion contemporaine16 -,
um mundo em que triunfam as técnicas é um mundo entregue ao desejo e ao temor; porque
não há técnica que não esteja ao serviço de certo desejo ou de certo temor. O próprio da
As observações sobre Irreligião contemporânea foram elaboradas em 1930, um ano antes desta anotação de
Marcel. (NT)
16
48
esperança é, talvez, não poder utilizar diretamente nem alistar nenhuma técnica; a esperança é
própria dos seres desarmados, é a arma dos desarmados ou, mais exatamente, totalmente o
contrário de uma arma e é aqui onde reside, misteriosamente, sua eficácia. O ceticismo de
nosso tempo, no que se refere à esperança, consiste em uma incapacidade essencial para
conceber que possa haver uma eficácia de algo que não é, de maneira alguma, uma potência,
no sentido corrente da palavra.
Aqui está onde nos enfrentamos, creio eu, com o problema metafísico mais difícil, um
problema que quase parece contraditório em seus termos. Não podemos por menos perguntar
como pode ser eficaz a esperança; porém, este mesmo modo de formular a pergunta supõe
que se assemelhe inconscientemente a esperança a uma técnica que trabalharia de modo
misterioso, digamos, mágico. 17
O que se deve ter presente é que esta eficácia real, que é o reverso de uma total
ineficácia no plano da aparência, não pode ser pensada senão onde a impotência seja
efetivamente absoluta, onde não nos achemos em presença de uma ficção, de um rodeio (o de
uma consciência que, por preguiça ou covardia, persuade-se enganosamente de que não pode
fazer nada).
Não poderíamos dizer que certa atividade – por outra parte, o sentido deste termo
deveria precisar-se –, a qual encontra cortado o caminho no terreno empírico, quer dizer, no
terreno do fazer, muda de plano e se transforma em esperança, sem perder, por isso, a
eficácia de que, em certo modo, está carregada desde o princípio? Haveria aí algo análogo ao
que ocorre quando o curso de um rio se vê desviado por um obstáculo. Eu diria que as
desembocaduras da esperança não se situam diretamente no universo visível.
Poder-se-ia compreender por aí porque as orações de um ser desamparado se acham
investidas de uma eficácia superior.
Dou-me perfeitamente conta, contudo, de que estou girando aqui em torno de um
problema e que não posso conseguir o não apresentá-lo, o não perguntar-me confusamente
em que espécie de poder pode pertencer ao não-fazer, à não-técnica. Estamos aqui no centro
dos problemas que apresentam os dados cristãos essenciais e, em particular, a não-resistência
ao mal.
Eis aqui simplesmente o que vislumbro muito confusamente.
Em primeiro lugar, já não estamos na ordem das causas ou das leis, quer dizer, do
universal. Posto que a esperança não é uma causa, nem atua ao modo de um mecanismo, é
perfeitamente evidente que não podemos dizer: “Cada vez que um ser pratique a virtude da
esperança, acontecerá tal coisa”. Isto equivaleria a fazer da esperança uma técnica, ou seja, o
contrário do que é (noto de passagem quão forte é a tentação de considerá-la assim).
17
Resulta apenas necessário dizer que tudo isto guarda relação com o problema metafísico da oração.
49
Em segundo lugar, não é claro em certos casos que a eficácia da esperança reside em
seu valor desarmante? Isto, pelo menos, na ordem da não-resistência é perfeitamente
inteligível. Ao opor-me a uma força, quer dizer, ao colocar-me no mesmo terreno que ela, é
evidente que tendo a mantê-la e pelo mero fato a reforçá-la; neste sentido, é exato dizer que
todo combate implica uma espécie de conivência fundamental entre os adversários, uma
vontade comum de fazer durar o combate; somente deixa de ser assim a partir do momento em
que a guerra cessa radicalmente de assemelhar-se a um jogo e surge a vontade de
aniquilamento e, por outra parte, esta provoca ao adversário, quer dizer, ao seu idêntico. Não
poderíamos dizer que a vontade de aniquilamento não se justifica por si mesma senão na
suposição de que existe idêntica no outro, no adversário, que não pode dar-se senão como
legítima defesa? Por isso, se se enfrenta com a não-resistência, já fica desmentida,
desarmada...
Apresso-me a dizer que duvidaria muito em tirar dessas reflexões a conclusão de que
um desarme unilateral seja justificável em direito e se tivéssemos de examinar esta questão,
deveríamos ver por que a passagem do metafísico ao empírico nesta matéria suscita tantas
dificuldades.
Pareceria, pois, que a esperança tenha este poder espacial de desarmar em certa
maneira às potências sobre as que querem triunfar, não já as combatendo, senão
transcendendo-as e, por outra parte, sua eficácia parece tanto mais segura quanto mais se
ache ligada a uma debilidade mais autêntica e menos fingida; em outros termos: suscetível
seja de ser considerada como a transposição hipócrita de certa covardia.
As objeções espontâneas ante tal maneira de ver as coisas parecem quase irresistíveis.
Como interpretar, com efeito, desta maneira uma cura, por exemplo?
Porém, não se deve duvidar que as desembocaduras da esperança se situam no mundo
invisível. Não se há de comparar a esperança com atalho para peões, que se toma quando um
caminho se acha cortado e que desemboca no mesmo caminho além do obstáculo.
É evidente que todas estas reflexões coincidem com que disse sobre a indisponibilidade.
Quanto mais indisponível se acha um ser, menos lugar há nele para a esperança e aqui
haveria de falar da indisponibilidade do mundo moderno em seu conjunto.
Esta tarde me perguntei se a eficácia da esperança não estaria vinculada à força da
impressão ontológica que ela mesma supõe (isto é função do que escrevi ontem à tarde sobre
a integridade), porém, me parece que esta interpretação sedutora é algo perigoso. Na verdade,
ainda não vejo suficientemente claro. O que complica infinitamente o problema é que a
esperança participa manifestadamente da natureza do dom e do mérito. Isto haverei de
aprofundá-lo metodicamente, porém, ainda não sei como haverei de proceder.
50
O que se deve assinalar imediatamente é até que ponto a esperança excede a
afirmação de um “sollen”; é, na realidade, uma potência profética; não se refere ao que deveria
ser, nem sequer ao que deverá ser; diz simplesmente: será isso. A reflexão sobre a esperança
é talvez o que mais diretamente nos permite compreender o que significa o termo
transcendência, pois a esperança é um impulso, um salto.
Implica uma espécie de negativa radical para calcular as possibilidades e isto é de maior
importância. É como se encerrasse, a título de postulado, a afirmação de que a realidade
excede todo cálculo possível, como se pretendesse alcançar, graças a não sei que afinidade
secreta, um princípio escondido no fundo das coisas ou, melhor, no fundo dos acontecimentos,
que se ri destes cálculos. Aqui poderiam citar-se textos admiráveis de Péguy e talvez de
Claudel, que vão até o fundo mesmo do que eu percebo.
Neste sentido, a esperança é somente um protesto ditado pelo amor; é uma espécie de
chamado, de recurso louco a um aliado que também é amor. E o elemento sobrenatural que há
no fundo da esperança se manifesta aqui tão claramente como seu caráter transcendente, pois
a natureza não iluminada pela esperança não pode aparecer-nos senão como lugar de uma
espécie de contabilidade imensa e inflexível. 18
Por outra parte, pergunto-me se não se discernem aqui alguns limites da metafísica
bergsoniana, pois me parece que esta não pode deixar o menor lugar ao que eu chamo a
integridade. Para um bergsoniano, a salvação está na liberdade pura, enquanto que, segundo
uma metafísica de essência cristã, a liberdade se acha ordenada à salvação. A esperança
arquétipo, não posso deixar de repeti-lo, é a esperança da salvação; porém, parece que a
salvação não pode residir senão na contemplação. Não creio que isto possa ser superado.
O que escrevi esta tarde sobre o não-cálculo dos possíveis me induz a pensar que deve
efetuar-se uma aproximação entre a esperança e a vontade (e não já o desejo, por suposição).
A esperança não seria acaso uma vontade cujo ponto de aplicação se acha no infinito?
Fórmula que tenho de aprofundar.
Do mesmo modo que possa haver uma vontade má, deve também poder conceber-se
uma esperança demoníaca e, talvez, esta esperança é a mesma essência do que chamamos
de Demônio.
Vontade, esperança, visão profética, tudo isto está, tudo isto se acha assegurado no ser,
fora do alcance de uma razão puramente objetiva; teria que aprofundar agora a noção de
desmentido, a ideia de uma capacidade de refutação automática, que pertence à experiência
como tal.
Deve-se perguntar-se que espécie de ciência conduz à desesperação e em que medida esta ciência não se
condena a si mesma. O problema ciência-esperança, mais fundamental ainda que o problema determinismoliberdade. Haverá que voltar à ideia de perda, que toquei em outro tempo. Ver como, por sua mesma essência, a
esperança se submerge no invisível (anotação de 08 de dezembro de 1931).
18
51
A alma não existe senão graças à esperança. A esperança é, talvez, a matéria de que é
feita nossa alma. Devo aprofundar isso também. Desesperar de um ser não é, acaso, deixar de
reconhecê-lo como alma? Desesperar de si não é suicidar-se por adiantamento?
22 de março de 1931 (um domingo triste)
O tempo como abertura à morte – a minha morte – a minha perdição.
O tempo-abismo; vertigem na presença deste tempo no fundo do qual está minha morte
e que me aspira.
25 de março de 1931
Acabar de uma vez com a noção de presciência divina, a qual falseia tudo e faz
absolutamente irresolúvel o problema; desde o momento em que se apresenta a visão divina
como anterior, no sentido em que seja, o ato livre, a predestinação é inevitável. Porém,
tampouco há de se falar de constatação, como fazia ontem o padre A... em casa de Berdaieff.
Deus não constata nada.
O que eu entrevejo muito confusamente é, em primeiro lugar, que esta apreensão de
meu ato por Deus não pode ser apresentada como um dado objetivo (no sentido em que eu
diria, por exemplo: neste momento alguém capta minhas palavras pelo rádio). Dita apreensão
não pode ser concebida por mim senão na medida em que eu mesmo, em certo modo, seja
espiritual. Todavia, não vejo bem as consequências de tudo isto, porém, prevejo que são
importantes.
27 de março de 1931
Substituição da presciência pela co-presença; porém, a co-presença não é menos
suscetível de expressar-se em termos de coexistência. Não duvidar nunca que Deus é alguém
que...
Ontem tive a ocasião de aprofundar a distinção entre pensar e compreender. Contudo,
não há algo falaz na ideia de um pensamento que não fosse compreensão? Pensar, neste
caso, não seria crer que se pensa?
Não se compreende senão em função do que se é. Parece-me que a co-presença não
pode ser compreendida senão por um ser que se ache em certa situação espiritual. Ainda aqui
voltamos a encontrar a metafísica do tu e a noção de indisponibilidade. Quanto mais
52
indisponível estou, tanto mais Deus se me apresenta como alguém que.
19
E isto é a mesma
negação da co-presença. Haveria de ver como intervém aqui, por outra parte, a memória como
fidelidade (em um ato de compreensão rememorado, porém, não renovável à vontade).
Considerar a noção de indisponibilidade em relação com o que escrevia há pouco sobre
“meu corpo”.
Entenderei por corporeidade a propriedade que faz com que não possa representar-me
um corpo como vivente mais que a condição de pensá-lo como o corpo de.
A corporeidade como zona fronteiriça entre o ser e o ter. Todo ter se define, de certo
modo, em função de meu corpo, quer dizer, de algo que, sendo um valor absoluto, cessa pelo
mesmo de ser um ter em qualquer sentido que seja. Ter é poder dispor de, ter poder sobre
algo; parece-me manifesto que esta disposição ou este poder implica sempre a interposição do
organismo, ou seja, de algo do que, por ele mesmo, já não é exato dizer que posso dispor; e o
mistério metafísico da indisponibilidade reside, talvez, essencialmente nesta impossibilidade
em que estou de dispor realmente daquilo que me permite dispor de meu corpo, posto que
tenho a possibilidade física de matar-me. Porém, é evidente que esta disposição de meu corpo
conduz imediatamente à impossibilidade de dispor dele e, em última análise, coincide com ela.
Meu corpo é algo de que não posso dispor, no sentido absoluto da palavra, senão pondo-o em
um estado tal que já não terei possibilidade alguma de dispor dele. Esta disposição absoluta se
reduz, pois, na realidade, a pô-lo fora de uso.
Posso ver-me tentado a objetar que posso dispor de meu corpo na medida, por exemplo,
em que me desloco? Porém, é evidente em outro sentido, pois desta maneira me confio a ele,
dependo dele. Em definitivo, fica claro que tendo, com todas as minhas ânsias, a instaurar
condições tais que possa pensar que disponho de meu corpo. Porém, não é menos manifesto
que há em minha própria estrutura algo que se impõe ao que possa, alguma vez, realizar-se
esta relação unívoca entre meu corpo e eu e isto em razão dessa espécie de usurpação
irresistível de meu corpo sobre mim, que é inerente à minha condição de homem ou de
criatura. 20
Creio que isto põe ao descoberto as próprias raízes do ateísmo. O Deus que nega o ateísmo é essencialmente,
com efeito, alguém que.
20 Estas observações, que não creio haver explorado suficientemente, abrem, ao meu modo de ver, perspectivas
relativamente novas sobre um conjunto de problemas obscuros que gravitam em torno ao que possa chamar-se o
milagre físico ou, mais exatamente, sobre as conexões ocultas que, sem dúvida, existem entre a realização de
certo grau de perfeição interior (santidade) e o que se apresenta como exercício das faculdades supra-normais.
Talvez um ser é tanto menos escravo de seu corpo quanto menos pretensão tem de dispor dele. Não é possível
que esta pretensão, que aparece como um sinal de poder, seja na realidade uma servidão? Isto acarretaria uma
multidão de consequências. O problema das curas milagrosas, em particular, deveria ser considerado desde um
ponto de vista. Caberia perguntar-se se o fato de entregar-se ou de abandonar-se não poderia ter como
consequência (não fatal, claro está) uma transformação a respeito do que chamamos tão confusamente a união
do corpo e da alma. Pode conceber-se que o enfermo rebelde que por definição conserva a pretensão de dispor
de seu corpo como lhe parece, porém que, ao mesmo tempo, se vê forçado a constatar que esta pretensão é
ignorada pela “realidade”, se encontre ipso facto em um estado de indisponibilidade, inclusive física, infinitamente
mais radical que aquele que, pelo contrário, se entrega a um poder superior, qualquer que seja a ideia que se
19
53
30 de março de 1931
Esta manhã refleti sobre o ter. Parece-me evidente que o ter implica sempre a obscura
noção de uma assimilação (não tenho senão algo que foi feito meu, de um modo ou outro) e,
portanto, de uma referência ao passado. Por outra parte, não podemos não relacionar o ter
com a ideia de aspecto; se bem que se deve ter presente que não é o aspecto o que tem. É o
sujeito, enquanto que implica um aspecto e isto é, por outra parte, quase indeterminável. Na
raiz do ter há, pois, um algo imediato que faz participar de “algo” à sua própria imediatez. Em
suma: parece-me que o que ontem chamei a corporalidade se acha envolta no ter – enquanto
que a corporalidade implica o que pode chamar-se a historicidade. Meu corpo é uma história
ou, mais exatamente, o resultado, a fixação de uma história. Não posso, pois, dizer que tenho
um corpo, ao menos propriamente falando, porém, a misteriosa relação que me une ao meu
corpo está na raiz de todas as minhas possibilidades de ter.
Abrigo o sentimento de que haja muito que deduzir daqui no que se refere aos
problemas infinitamente mais concretos sobre os quais refleti estes últimos tempos, por razão
da conexão entre indisponibilidade e ter. O ter como índice de uma indisponibilidade possível.
O morto como aquele que já não tem nada (pelo menos se tomamos o termo ter em suas
acepções especificáveis). Tentação de pensar que não ter já nada signifique, não ser já é
nada; e, de fato, a tendência da vida natural é inclinar-se e identificar-se com o que se tem;
deste modo, a categoria ontológica tende a aniquilar-se. Porém, aqui temos a realidade do
sacrifício para demonstrarmos, em certo modo experimentalmente, a possibilidade que tem o
ser de afirmar-se como transcendente ao ter. Aqui está a significação mais profunda do martírio
como testemunho; é o testemunho.
A reflexão desta tarde me parece capital: permite-me compreender o problema
ontológico de modo mais concreto. Porém, ainda se deve assinalar que esta negação do ter
ou, mais exatamente, da co-relação entre ter e ser, não é separável de uma afirmação da qual
se acha suspensa. Neste caso, já não vejo tão claro.
O que percebi em todo caso é a identidade oculta do caminho que conduz à santidade e
do caminho que conduz ao metafísico e à afirmação do ser; a necessidade, sobretudo, para
uma filosofia concreta, de reconhecer que há aí um só e mesmo caminho. Acrescento que aí
aparece o significado da prova do homem, em particular da enfermidade e da morte e seu
forme deste poder. Quero deixar a estas reflexões um valor de indicação, pois seria insensato querer precisar
mais e desde já não creio que possamos admitir que o ato pelo qual o enfermo se entrega a Deus traga
automaticamente como consequência de uma modificação feliz de seu estado. Se assim fosse, este ato de
abandono perderia seu caráter próprio; mais ainda: ao transformar-se em procedimento, se converteria em seu
contrário. Porém, não percebemos aqui como se efetua a misteriosa união entre a liberdade e a graça? (anotação
de agosto de 1934).
54
alcance ontológico. Porém, é próprio da essência desta prova não poder reconhecê-la; é um
chamado a uma capacidade de interpretação ou de assimilação que coincide com a mesma
liberdade. 21
31 de março de 1931
Sofrer: não seria ver-se afetado no que alguém tem enquanto que o que alguém tem
chegou a ser constitutivo do que alguém é? O sofrimento físico, protótipo ou raiz de todo
sofrimento.
Ao voltar do passeio, perguntava-me o que significa ter uma ideia. Creio que há ai uma
dificuldade. Porém, creio que inclusive aqui se trata de uma espécie de enxerto sobre algo que
cresce (o termo enxerto expressa melhor o que imagino do que o termo integração, algo que
não quero dizer) e este ser em crescimento tende a representar-se a si mesmo como aspecto,
pelo menos a manifestar-se a si mesmo dotado de um aspecto.
Porém, não poderia pensar-se que a corporalidade não se acha necessariamente
implicada na realidade deste “crescente” ou deste “vivente”. O ter absoluto, relativo ao corpo (e
que, entre parênteses, não é de nenhum modo um ter), condiciona efetivamente um ter
espiritual como o que acabo de referir? Não acabo de vê-lo ainda claramente ou, melhor, não
chego a expressar a pergunta em termos que me pareçam plenamente inteligíveis a mim
mesmo. Creio, não obstante, que em definitivo volto a encontrar o problema da atenção
fundamental que tanto me ocupou no passado.
O que eu vejo é o privilégio ou a primazia que atribuo à minha bagagem mental e à qual
a integra se acha concebido – ou imaginado –, por analogia, com o privilégio fundamental e
impensável que distingue ao meu corpo como meu; minhas ideias, enquanto que são minhas,
participam indiretamente deste privilégio.
Seria exato dizer que o ter e o ser são como concentrações essenciais do espaço e do
tempo? Não estou muito seguro.
07 de abril de 1931
Não seguirei por este caminho.
O que vejo claramente é que é a causa do ter sempre pela qual padeço o sofrimento;
porém, não seria por que o ter é, na realidade, a multiplicidade? Um ser totalmente
Creio dever assinalar aqui a concordância fundamental entre estes pontos de vista e dos de Jaspers, que eu
não conhecia em 1931 (anotação de 1934).
21
55
simplificado, ou seja, inteiramente uno, poderia estar sujeito ao padecimento.
22
Porém, deve
realizar-se uma simplicidade absoluta? Parece-me que deve haver aí uma falsa mística e uma
fonte de dificuldades muito graves.
08 de abril de 1931
A metafísica como exorcismo da desesperança.
Há, evidentemente, uma filosofia que pretende exorcizar, ao mesmo tempo, a esperança
e a desesperança: a de Spinoza. Eu lhe aponto, sobretudo, um desconhecimento radical da
estrutura temporal da existência humana. Sob este aspecto a posição bergsoniana parece
inexpugnável.
Dizia-me a mim mesmo esta tarde que haveria de refletir sobre a necessidade de uma
avaliação absoluta, a necessidade de ser julgado (cf. a conclusão de Un homme de Dieu).
10 de abril de 1931
Esta manhã vi a necessidade de substituir a pergunta eu sou meu corpo? por esta outra:
eu sou minha vida? Meu corpo imobilizado não é mais do que um cadáver. Meu cadáver é, por
sua própria essência, o que eu não sou, o que não posso ser (isto é o que se quer expressar
quando se diz, a propósito de um morto, que já não está). Por outra parte, quando afirmo que
tenho um corpo, é óbvio que tendo precisamente a imobilizar, em certa maneira, este corpo,
como se o desvitalizasse; e me pergunto neste momento se o ter, como tal, não implica
sempre, em algum grau, uma desvitalização deste gênero, precisamente na medida em que
corresponde a um avassalamento nascente.
A dificuldade está em compreender como pode ser metafisicamente falso que sou minha
vida sem que seja legítimo concluir daí que tenho minha vida, que tenho uma vida. Voltamos a
encontrar aqui, creio eu, minhas reflexões de 27 de março último. Absolutamente falando, não
É esta uma verdade que não foi ignorada por nenhum dos grandes filósofos do passado, porém, pode encobrir
equívocos perigosos. É óbvio, com efeito, que existe uma zona que está aquém do padecer. Pode alguém
representar-se ou, mais exatamente, conceber um ser demasiado rudimentar, demasiado essencialmente
indiferenciado para poder sofrer. Porém, seria ainda um ser? É evidente, em meu parecer, que o estado ao qual
as sabedorias de todos os tempos e de todos os países nos convidaram a elevar-nos não têm, na realidade, nada
em comum com esta unidade. No fundo, a diferença é a mesma entre o Uno e a matéria segundo Plotino. Porém,
como a linguagem é essencialmente imprópria para por às claras esta diferença, pela simples razão de que
pertence ao terreno do pensamento discursivo, há o perigo de incorrer aqui em uma confusão cujas
consequências são incalculáveis e assim sou realmente sincero e devo reconhecer q eu não posso pelo menos
perguntar-me se não vicia, apesar de tudo, em algum grau certo tipo de ascetismo. Há aí um conjunto de questões
que seria preciso abordar com intrepidez., fazendo caso omisso de todas as fórmulas tradicionais. Não se deve
nunca perder de vista que a salvação não pode achar-se mais que na plenitude, ficando claro, por outra parte, que
certa opulência, sob qualquer forma que se apresente, em vez de encaminharmos a ela nos distancia dela. O
problema está em atravessar a multiplicidade para transcendê-la, de nenhum modo em evitá-la (anotação de
agosto de 1934).
22
56
posso dispor, não ainda, de meu corpo senão tampouco de minha vida a não ser que me situe
em condições tais que me seja impossível dispor deles em sucessivo; é o momento da
irrevogabilidade. E isto, que é de uma evidência surpreendente quando se trata do suicídio ou
do sacrifício da vida, aplica-se na realidade a qualquer outra fato, seja qual for.
Porém, esta noção de irrevogabilidade teria que aprofundá-la e enriquecê-la; senão a
diferença entre o suicídio e o sacrifício da vida resulta ininteligível e até impensável; tal
diferença reside inteiramente na esperança. Não há e nem pode haver sacrifício sem
esperança e um sacrifício que excluísse a esperança, seria um suicídio. Aqui se apresenta o
problema do desinteresse. Porém, trata-se de saber se é legítimo identificar desinteresse e
desesperança. Pretender-se-á, certamente, e não sem razão, que quando espero algo para
mim não posso falar de desinteresse, senão somente quando minha esperança versa sobre
uma ordem ou uma causa em benefício das quais me elimino. Porém, há de se perguntar se a
significação deste para mim é tão clara como parece ou se se admite espontaneamente. E
aqui, com efeito, haveria de proceder um pouco como fiz em minha reflexões de 15 de março.
Teria que indagar qual é a natureza desta esperança para si e, mais profundamente, deste
para si que subsiste no mais íntimo do sacrifício. 23
O revolucionário que consente em morrer pela revolução ou pelo partido, etc., se identifica com aquilo pelo que
dá a vida. A revolução ou o partido são proporcionalmente para ele “mais eu mesmo que eu mesmo”. Esta
adesão, esta identificação, encerradas no íntimo de seu ato, são as que lhe conferem sua significação. Alguém
dirá: “Porém, não tem a pretensão de ver o triunfo de da causa pela qual se sacrifica, de desfrutar dele, nem,
portanto, de aproveitar-se dele; renuncia, pois, a toda recompensa, a toda remuneração. Enquanto que o cristão,
por exemplo, se imagina que será pessoalmente associado à vitória a cuja preparação contribui e que se
beneficiará em certo modo dela. Neste caso, não pode falar-se de desinteresse”.
Tudo está em saber que valor preciso há que atribuir ao ato pelo qual antecipando o que eu chamo minha
própria aniquilação me consagro com tudo a preparar um estado de coisas que virá depois e do qual declaro que
não desfrutarei. Aqui abundam ao parecer das ilusões e os erros. Digo que não desfrutarei dele; contudo, desfruto
já dele por adiantamento; adianto este gozo pelo menos tanto como minha própria destruição; mais ainda: pode
muito bem dar-se que seja este gozo, e ele somente, o que eu antecipo, porque minha destruição como tal é nada
e, portanto, não é antecipável. Mais ainda: a ideia de que já não existirei pode aumentar meu gozo, assinalando
um elemento de grandeza, de vaidade, que confere a este gozo um caráter mais pujante. Agora, o que me
interessa é precisamente meu estado atual, não já a questão de saber se de fato sobreviverei ou não. Desde este
ponto de vista me parece que este desinteresse tão louvável comporta um elemento de orgulho ou de desafio,
mais exatamente, que talvez o vicia. Eu provoco a essa realidade hostil que me aniquilará e, por outra parte,
pretendo contribuir a forjá-la. Contrariamente ao que se crê, não há atitude menos humilde que esta e que
implique pretensão mais altiva.
Objetar-se-á novamente que o revolucionário, por exemplo, que não crê em sua própria imortalidade,
reconhece ipso facto que ele não importa. Porém, na realidade, creio eu, não há aqui senão um deslocamento do
que eu chamarei seu centro de gravidade moral. A causa pela qual se imola não é por sua vez mais que um
elemento de sua própria personalidade que se converte em absoluto.
Dir-se-á ainda: “Na medida em que um sacrifício está inspirado pela esperança de uma recompensa, deixa
de ser um sacrifício”. É evidente. Porém, que psicologia mais rudimentar e falsa a que se representa o sacrifício
do crente como consequência de um cálculo! Acha-se inspirado por um impulso de esperança e de amor. Porém,
isto não diminui nem muito menos seu valor. E somente poderá sustentar-se o contrário se se inspira em um
formalismo moral hiperkantiano, que iria até eliminar os postulados da razão prática. Ademais, tudo nos convida a
pensar que onde não intervém nem o amor de Deus nem o amor do próximo, o que realmente entra em jogo é o
amor próprio, certa pretensão fundamental à qual não se vê razão alguma de atribuir um valor intrínseco.
Reconheço, por outra parte, de bom grado, que certos escritores religiosos tem podido contribuir indiretamente a
obscurecer estas ideias essenciais instaurando ao parecer uma espécie de contabilidade dos méritos, cujo
resultado seria nada menos que arruinar a ideia de sacrifício tomada em sua pureza; quer dizer: como
consagração. Creio que se deverá partir da experiência da alma consagrada para chegar a dissipar estes malentendidos seculares. Percebe-se, então, que a alma consagrada se acha ao mesmo tempo habitada por uma
23
57
12 de abril de 1931
Retomo neste momento minha ideia do desafio ontológico, da vida enquanto que implica
certo desafio, que fica à margem da ordem da vida. É evidente que há certo tipo de experiência
que não poderia de nenhum modo confirmar esta noção. Pertence à mesma essência deste
desafio o poder ser negado; porém, cabe aqui perguntar-se qual é o sentido desta mesma
negação.
A este desafio me posiciono a designá-lo com o nome de alma. Pertence à essência da
alma assim concebida o poder ser salva ou perdida precisamente enquanto que é um desafio.
Isto é de se notar e, evidentemente, acha-se relacionado com o fato de que a alma não é um
objeto e não pode, de nenhuma maneira, ser considerada como tal. Porque se tratando de um
objeto, o fato de perdê-lo ou conservá-lo (salvá-lo não teria aqui sentido algum) não deixa de
ser contingente em relação à sua própria natureza: esta pode considerar-se não afetada pelo
fato de que o objeto se ache perdido ou não (por exemplo, uma joia).
Isto devo relacionar com o que escrevi sobre o ter.
Por uma parte, minha alma se me apresenta como algo ao qual a relação (?) implicada
no ter não lhe convém em absoluto; nada há no mundo que possa assemelhar-se menos a
uma possessão. Porém, poderia parecer que a alma é aquilo que menos pode perder-se.
Esta contradição aparente permite, na realidade, detectar uma ambiguidade que guarda
relação com a mesma noção de perda. Não se poderia dizer que há uma perda no plano do
ser24 (é neste sentido em que a alma pode perder-se) e uma perda no plano do ter, que se
esperança invencível; aspira a entrar em uma intimidade com Deus cada vez maior, cada vez mais completa;
certamente não tem razão alguma, antes, ao contrário, para pensar que possa redundar-se algum mérito por
combater nela esta aspiração. Precisamente porque se reconhece desprovida de valor intrínseco e porque sabe
que tudo o que há nela de positivo vem de Deus; ao desprezar-se, despreza o dom de Deus, fazendo-se, assim,
culpável da pior das ingratidões. Que valor poderia representar para um filho o fato de negar-se a crer-se amado
por seu pai? O erro começa aqui a partir do momento em que a criatura se atribui direitos, em que se trata a si
mesmo como credor. Mais que uma alteração, há aí uma perversão radical. Porém, não duvidemos que o
incrédulo se crê também credor de um Deus insolvente e isto é muito mais grave.
Temos aqui, em meu parecer, os elementos de uma criteriologia que permite reconhecer se a fé na
imortalidade representa ou não um valor religioso: trata-se somente de saber se se apresenta como um ato de
esperança e de amor ou como uma reivindicação que tem sua origem na estima de si (anotações de agosto de
1934).
24 A perda no plano do ser é, propriamente falando, a perdição. Deve-se reconhecer, contudo, que esta distinção
não dá plenamente razão da realidade que aqui aparece estranhamente complexa. Para ver um pouco mais claro
haveria de referir-se, sem dúvida, às indicações que tenho dado sobre a integridade a propósito da esperança.
Esta nunca se repetirá o bastante, somente pode originar-se onde há perda possível e é instrutivo a não poder
mais o notar que não há que fazer distinção a este respeito entre a ordem da vida propriamente dita e da alma.
Tão legítimo é esperar a cura de um enfermo como o regresso do filho pródigo. Em ambos os casos, a esperança
versa sobre a restauração de certa ordem acidentalmente perturbada. Podemos ir mais longe. Em certo sentido,
até a recuperação de uma coisa perdida pode dar lugar à esperança. É fácil ver, contudo, que há aqui como uma
degradação que vai da esperança mais fervente, mais arraigada em Deus, à mais egoísta e supersticiosa e seria
sobremaneira interessante seguir em algum modo o traçado desta degradação. Ver-se-ia claramente por aqui que
quanto mais a perda se refere ao ter, tanto mais a protesta que suscita apresenta o caráter de reivindicação,
coincide com a esperança em sua integridade, tal como a tenho definido. Poderia ser muito bem, em resumo, que
a esperança autêntica consistisse sempre em esperar certa graça de certo poder, cuja natureza não se sabe
precisar a si mesmo, porém, cuja munificência não se crê poder assinalar limite algum. A esperança se acha
58
acha vinculada à mesma natureza dos objetos? Porém, ao mesmo tempo há de se ter
presente, e isto é capital, que toda perda na ordem do ter constitui uma ameaça para o que é
chamado alma e há o perigo de que se converta em uma perda na ordem do ser: encontramos
aqui o problema da desesperação e o que deixei escrito sobre a morte (30 de março).
Minha vida. O fato de que pode se me apresentar literalmente desprovida de sentido,
forma parte integrante de sua estrutura. Então, ela se me apresenta como puro acidente.
Porém, o que é, neste caso, este eu, que se encontra incompreensivelmente dotado desta
existência absurda, dotado de algo que é exatamente o contrário de um dom? Percebe-se
irremissivelmente impulsionado a negar-se; tal vida não pode ser dada por ninguém e não é
realmente vida de ninguém. Não há dúvida de que este niilismo radical não é senão uma
posição extrema, muito difícil de manter, e que implica uma espécie de heroísmo; porém, aqui
nos achamos em plena contradição porque este heroísmo - se é conhecido e experimentado
como tal – restaura, nesse momento, o sujeito e, ao mesmo tempo, restitui à existência a
significação que lhe havia sido negada, pois ostenta, pelo menos, o valor de servir de
trampolim para a consciência que a nega. Para que a posição inicial se mantenha, é preciso,
pois, que esta não se explicite a si mesma, que se reduza a uma autoanestesia que poderia
tomar in concreto as formas mais diversas, porém, que, na realidade, permanece idêntica a si
mesma, pela qual os caracteres essenciais se referem.
Objetar-se-á que o negar-se a arriscar a vida não é precisamente cair neste estado de
anestesia e de passividade voluntária. Porém, é, pelo menos, precisamente por tratá-la como
um absoluto (como algo que exclui relação a qualquer coisa), atribui-se o direito de libertar-se
dela se não se vêem realizadas certas condições. Aqui os dados se complicam
consideravelmente. Na realidade se identifica a vida com a consciência de certa plenitude, de
certa expansão e realização de si mesmo. Quando esta plenitude e esta expansão não podem
realizar-se, a vida perde sua justificação imanente. Vejo-me autorizado a concluir que já não
me sobra mais remédio do que o de suprimir-me. Quem é este eu? É minha própria vida,
minha vida enfrentada consigo mesma e dotada do singular privilégio de negar-se. Segue-se,
daqui, parece, que o pensamento do suicídio se acha instalado no mais íntimo de uma vida que
se pensa e se quer sem risco (exatamente igual ao divórcio, que se pensa e se acha instalado
no seio de uma união que não implica voto algum, nem foi contraída ante testemunhos e creio
que esta comparação poderia levar-se muito longe).25
centrada sobre o sentimento deste poder benéfico, enquanto que o espírito de reivindicação gravita pela definição
em torna à consciência de si e do próprio direito (anotação de agosto de 1934).
25 Persisto em crer que esta comparação pode levar-se muito longe e que pode ilustrar o sentido da noção cristã
da indissolubilidade do matrimônio. Talvez o meditar sobre esta conexão nos permita pôr em evidência o fato de
que para uma metafísica da liberdade e da fidelidade, o vínculo conjugal possui uma realidade propriamente
substancial, como a que chamamos a união do corpo e da alma. Contudo, devo reconhecer que este modo de
pensar me causa certa inquietude e que não chego a conciliar o que me veria tentado de chamar as lições da
experiência com as exigências de ordem metafísico-teológica (anotação de agosto de 1934).
59
09 de dezembro de 1931
Volto ao problema da esperança. Parece-me que as condições de possibilidade da
esperança coincidem rigorosamente com as da desesperança. A morte como trampolim de
uma esperança absoluta. Um mundo em que viesse a faltar a morte seria um mundo em que a
esperança somente existiria em estado latente.
10 de dezembro de 1931
Ontem escrevi a L... depois de ler seu valioso exame do idealismo: a esperança é ao
desejo o que a paciência é à passividade. Isto me parece muito importante. A paciência: esta
manhã pensava eu na do sábio. Porém, não se parece à do caçador? Ideia de uma verdadepresa, de uma verdade que se conquista. No fundo, o problema metafísico da verdade não
consiste em saber se não haveria na verdade algo que se nega a prestar-se a essa espécie de
servidão que queremos reduzi-la?
Conversa com M... infinitamente proveitosa. Aconselhou-me que leia o livro de Jó e
propôs uma interpretação singular do Eclesiastes (sabedoria assinalada por Deus como
possível se...). Citou-me esta frase de Caetano: “Spero Deum non propter me, sed mihi”.
Eu dizia que a esperança, dado puramente cristão, encerra uma noção da eternidade
completamente diferente da que implica a sabedoria do “nec spe nec metu”. M... me aconselha
que veja também a noção de esperança em São João da Cruz, quem não
transcende a
esperança como eu temia. Assinalei minha preocupação por fazer notar como a profecia não é
possível mais que no terreno que não é da ciência, senão o da esperança; raiz comum à
esperança e à profecia: a fé.
Ao regressar para casa, pensava eu nas formas grosseiras da esperança: esperar que
ganhe o prêmio da loteria. Importância da noção de loteria e de seguro no sentido técnico da
palavra, pretensão de proteger-se contra o azar (tratado realmente como um elemento, como o
frio e o calor). Devo analisar também como a esperança toma corpo na oração.
Dizia eu a M...: “Consideradas desde fora, a paciência se reduz à passividade e a
esperança ao desejo”. E também: “A esperança pode ou perverter-se ou esvaziar-se de seu
conteúdo ou desprender-se de suas referências ontológicas”.
Problema que entrevejo neste momento: não se poderia objetar que a esperança é um
dado vital relacionado com a vida como tal? A resposta consistiria em mostrar que, se é assim,
é-o na medida em que a vida seja também tomada ontologicamente. Por outra parte, isto é
60
difícil, é um problema que devo desenvolver. Entre a vida e a esperança é a mesma alma a
que se intercala. 26
05 de outubro de 1932
Li minhas notas sobre o valor da vida e o problema ontológico e sobre o ser como lugar
da fidelidade. Aí está o centro de toda minha elaboração metafísica recente. O dado
fundamental é aqui o fato de que posso tomar posição frente a vida considerada globalmente,
que posso recusá-la, que posso desesperar. E aqui creio que se há de repudiar inteiramente a
interpretação segundo a qual é a própria vida que se nega ou se resiste em mim. Apoiar-me,
ao menos para iniciar, no que se me oferece: avalio a vida. No fundo, é neste terreno, e não no
do conhecimento, onde o sujeito se situa frente ao objeto. Assinalo que, na realidade, não há aí
um ato separado que pudesse injetar-se ou não na vida. Viver, para o homem, é aceitar a vida,
é dizer sim à vida; ou melhor, ao contrário: condenar-se a si mesmo a um estado de guerra
interior quando aparentemente trabalha como se aceitasse algo que no fundo de si mesmo
rechaça ou crê rechaçar. Deveria relacionar isto com o que escrevi em outra parte sobre a
existência.
Possibilidade da desesperação relacionada com a liberdade. Pertence à essência da
liberdade o poder exercer-se traindo-se. Nada exterior a nós mesmos pode fechar a porta à
desesperação. A via está aberta, pode-se, inclusive, dizer que a estrutura do mundo é tal que
parece possível nele a desesperação absoluta. Continuamente se produzem certos
acontecimentos que, pode-se dizer, aconselham-nos precipitarmo-nos nela. Isto é capital.
A fidelidade como reconhecimento de algo permanente. Estamos aqui além da oposição
entre a inteligência e o sentimento. Reconhecimento de Ulisses por Eumeda, de Cristo pelos
peregrinos de Emaús, etc. Ideia de uma permanência ontológica, permanência do que dura e
que implica a história, por oposição à permanência de uma essência ou de um convênio formal.
O testemunho como origem. A Igreja como testemunho perpetuado, como fidelidade.
06 de outubro de 1932
Pertence à essência do ser, ao qual se dirige minha fidelidade, o poder ser não somente
traído, senão afetado, em certa maneira, por minha traição. A fidelidade como testemunho
perpetuado; também é próprio da essência do testemunho o poder ser apagado, obliterado.
Ver o comentário da nota de 12 de abril de 1931. Creio que não podemos por menos de conferir à vida um
índice “anímico” (o termo é muito inadequado, porém, não encontro outro) quando se trata de um ser tratado ou
apreendido como “tu”. Ao dissociar a vida da alma teríamos inevitavelmente a convertê-lo em essência, a qual
seria também uma maneira sutil de traí-lo (cf. a frase de Antonio em Le mort de demain: “Amar a um ser é dizerlhe: tu não morrerás”) (anotação de agosto de 1934).
26
61
Examinar como pode produzir-se esta obliteração. Ideia de que o testemunho perde vigência,
que já não corresponde à realidade.
O ser como atestado. Os sentidos como testemunhos. Isso, capital e novo, segundo me
parece, sistematicamente ignorado pelo idealismo.
07 de outubro de 1932
Intervenção da reflexão: o objeto a que me consagrei, merece que me consagre a ele?
Valor respectivo das causas.
Ideia de uma fidelidade criadora, de uma fidelidade que não salvaguarda senão criando.
Averiguar se o próprio valor criador não está em proporção do próprio valor ontológico.
Não há fidelidade senão a uma pessoa, não a uma ideia ou a um ideal. Uma fidelidade
absoluta implica uma pessoa absoluta. Averiguar se uma fidelidade absoluta a uma criatura
não supõe Àquele ante quem me obrigo (sacramento do matrimônio, por exemplo).
Não basta dizer que vivemos em um mundo no qual a traição é possível em todo
momento e sob todas as formas, traição de todos por todos e de cada um por si mesmo.
Repito: esta traição aparece na própria estrutura de nosso mundo que nos encarece.
Espetáculo da morte como convite perpétuo à negação. A essência de nosso mundo é talvez
traição. Porém, por outra parte, não nos constituímos nós mesmos cúmplices desta traição ao
proclamá-la?
A memória como índice ontológico.27 Vinculada ao testemunho, evidentemente, um dos
mais importantes. A essência do homem não seria de um ser que pode testemunhar?
O problema do fundamento metafísico do testemunho, evidentemente, um dos mais
importantes. Não elucidado. “Eu estava presente, afirmo que eu estava presente”. A historia
inteira depende do testemunho que ele mesma prolonga; neste sentido, enraizada no religioso.
Tenho vislumbrado muitas outras coisas há algum tempo, passeando entre o Panteon e
o bulevar Raspail. Impressão de singular fecundidade. Pensava também no rito como
acompanhamento da fidelidade e na traição que se esconde no próprio seio da prática sob a
forma personalizada. Isto coincide com o que anotei esta manhã sobre a fidelidade criadora.
Não temos aqui, ademais, a definição de santidade?
Vislumbrei igualmente o sentido profundo do culto aos mortos, entendido como um
negar-se a trair aquele que foi, tratando-o como se não fôra. Protesto ativo contra certo jogo de
aparências ao qual alguém se nega a ceder ou a prestar-se totalmente. Dizer “já não existem”
é não somente negá-los, mas negar-se a si mesmo e, talvez, renegar, absolutamente falando.
A telepatia não seria com relação ao espaço o que a memória é com relação ao tempo? Pouco importa o que
não surja nada mais que em forma de relâmpagos.
27
62
Finalmente me pareceu ver a possibilidade de uma reflexão sobre a mesma ideia de
prova da existência de Deus, a propósito das provas tomistas. É um fato que não é
universalmente convincente. Como explicar esta ineficácia parcial? Supõe uma aceitação
prévia de Deus e no fundo consiste em transferir ao nível do pensamento discursivo um ato
completamente diferente. Não são, ao meu modo de ver, caminhos, senão falsos caminhos,
como há também falsas janelas.
Ao pensar em tudo isto me perguntava se meu instrumento para pensar não seria uma
intuição reflexiva cuja natureza deveria precisar.
Talvez vivemos em uma época privilegiada sob o ponto de vista religioso, enquanto que
a traição, da qual o mundo é sede, faz-se agora manifesta. As ilusões centrais do século XIX
se acham agora dissipadas.
08 de outubro de 1932
A expressão intuição reflexiva não é certamente feliz. Porém, eis aqui o que quero dizer.
Creio que estou obrigado a admitir que me acho – em certo nível de mim mesmo – situado
frente ao Ser; em um sentido o vejo, em outro, não posso dizer que o vejo, já que não me
percebo a mim mesmo como se o visse. Esta intuição não é reflexa nem pode reflexionar-se
diretamente. Porém, ilumina, voltando-se até ele todo um mundo de pensamentos que a
mesma intuição transcende. Metafisicamente falando, não creio que possa explicar-se de outro
modo a fé. Ademais, parece-me que isto se acerca bastante à concepção dos alexandrinos,
porém isso devo verificar. Penso que na raiz de toda fidelidade há uma intuição deste gênero –
porém, cuja realidade pode ser sempre discutida. Posso dizer sempre: “Sim, acreditei ver,
porém, me equivoquei...”. Preocupa-me muito o problema do testemunho. A zona do
testemunho não coincide com a da experiência at large? Tendemos hoje a minimizar o
testemunho e não ver nele mais do que o enunciado relativamente correto de uma Erlebniss.
Porém, se o testemunho não é mais que isso, não é nada, é impossível; porque absolutamente
nada pode garantir que a Erlebniss seja suscetível de sobreviver e de confirmar-se. Isso
coincide com o que escrevia eu ontem sobre o mundo como sede da traição (consciente ou
não) e conhecendo-se cada vez mais como tal.
09 de outubro de 1932
Possibilidade para a reflexão pura de enfrentar-se globalmente com o testemunho e de
pretender que um testemunho válido não pode dar-se realmente. Pertence à essência de um
testemunho qualquer o poder ser posto em dúvida. Tentação de estender esta suspeita a
63
qualquer testemunho possível, ao testemunho em si. É justificável tal atitude? Somente o será
se somos capazes de definir a priori as condições que deveria ter um testemunho para poder
ser reconhecido como válido – e mostrar logo que tais condições não se acham realizadas ou
que pelo menos não se pode demonstrar como são. Porém, aqui o mesmo que no caso da
dúvida existencial não pode tratar-se senão de uma desvalorização de princípio e da memória
e de qualquer tradução conceitual que tenha por objeto esta Erlebniss em si indizível.
Não seria próprio da essência do ontológico o poder ser somente atestado?
Porém, a investigação deve pensar-se a si mesma, não pode justificar-se senão no seio
do ter e com relação a ele. Em um mundo em que a Erlebniss é tudo, em mundo de puro
instantes, fica suprimida; porém, então, como será possível a título de aparência?
10 de outubro de 1932
A atestação é pessoal, faz intervir a personalidade, porém, ao mesmo tempo, acha-se
embebida sobre o ser e esta tensão entre o pessoal e o ontológico a caracteriza.
Há, não obstante, em tudo isso, algo que não me satisfaz e que não chego a formularme a mim mesmo. O que vejo claramente é que, contrariamente ao que parece ser a atitude de
um Grisebach, eu vejo na memória um aspecto essencial da afirmação ontológica. Quanto
mais próximo me sinto a este respeito de Bergson – e, por outra parte, de Santo Agostinho!
Que é o testemunho segundo Bergson? Sem dúvida, uma consagração. Porém, a mesma
noção de consagração é ambígua e haveria que guardar-se de interpretá-la em um sentido
pragmático.
Note-se que atestar significa não somente testemunhar, senão invocar o testemunho de
alguém. Há aqui uma relação triádica essencial. Isto se encontra no sentido de Journal
Métaphysique.
22 de outubro de 1932
Aproximação do mistério ontológico; suas aproximações concretas.
Assim é como penso intitular meu texto para a sociedade filosófica de Marsella. A
expressão mistério do ser, mistério ontológico por oposição ao problema do ser, problema
ontológico veio-me bruscamente estes dias. Iluminou-me.
O pensamento metafísico como reflexão concentrada sobre um mistério.
Porém, é próprio do mistério ser reconhecido; a reflexão metafísica supõe este
reconhecimento que não é de sua incumbência.
64
Distinção entre o misterioso e o problemático. O problema é algo que se encontra, que
obstaculiza o caminho. Acha-se inteiramente diante de mim. Ao contrário, o mistério é algo em
que me encontro comprometido, cuja essência consiste, por conseguinte, em não estar
inteiramente diante de mim. É como se nesta zona a distinção entre o em mim e o ante mim
perdesse sua significação.
O natural: a zona do natural coincide com a do problemático. Tentação de converter o
mistério em problema.
Coincidência do misterioso e do ontológico. Há um mistério do conhecimento que é de
ordem ontológica (Maritain o percebeu muito bem), porém, o epistemólogo o ignora, deve
ignorá-lo e o transforma em problema.
Exemplo típico: o “problema do mal”; trato o mal como um acidente sobrevindo a certa
máquina que é o universo mesmo, porém, ante o qual me suponho situado. Por este mesmo
fato, trato-me não somente como incólume deste achaque ou enfermidade, senão como
exterior ao universo que pretendo reconstituir ao menos idealmente em sua integridade.
Porém, que acesso posso ter ao ontológico como tal? A mesma noção de acesso resulta
aqui evidentemente inaplicável. Somente tem sentido no contexto de uma problemática.
Havendo localizado previamente um determinado lugar, como posso ter acesso a ele?
Impossibilidade de tratar ao ser deste modo.
Presença e mistério: tema por aprofundar.
Preordenação a respeito de uma revelação. Enquanto que em um mundo vinculado a
uma problemática a revelação aparece como supererogatoria.
Da definição do pensamento metafísico como reflexão centrada sobre um mistério
resulta que um progresso neste pensamento não é realmente concebível. Somente há
progresso no problemático.
Por outra parte, o próprio dos problemas é o poder detalhar-se. O mistério, em troca, é
aquilo que não se detalha.
29 de outubro de 1932
Uma primeira pergunta, de ordem fenomenológica: a que se deve a desconfiança quase
insuperável que desperta na maioria dos espíritos, inclusive os mais propensos à metafísica,
toda investigação sobre o Ser? Duvido que se deva responder invocando a influência
persistente do kantismo nas inteligências; esta, com efeito, diminuiu consideravelmente. Para
dizer a verdade, o bergsonismo trabalhou nisto no mesmo sentido que o kantismo. Porém,
creio que nos achamos em presença de um sentimento que, ordinariamente, seria incapaz de
formular-se a si mesmo, porém, que eu tratarei de interpretar dizendo que temos cada vez mais
65
a convicção de que em rigor não há tal problema ou problemática do ser, e creio que bastaria
aprofundar a mesma ideia de problema para convencer-se dele. O que importuna aqui
consideravelmente é o fato de que temos adquirido o execrável costume de considerar os
problemas em si mesmos, quer dizer, fazendo abstração da maneira como seu encontro se
situa na mesma trama da vida. A este respeito os sábios se acham em situação privilegiada.
Um problema científico se levanta em um dado momento da investigação, é algo contra o qual
tropeça o espírito, como o pé contra a pedra. Não há problema que não implique a ruptura
provisional de certa continuidade que o espírito há de restabelecer.
31 de outubro de 1932
O ser como princípio de não abrangência. A alegria vinculada ao sentimento do
inesgotável. Nietzsche o viu muito bem. Recordar o que eu mesmo escrevi em outro tempo
sobre o ser como resistência à dissolução crítica. E isto coincide com o que escrevi sobre a
desesperação. Há aqui um nó. O inventariável é o lugar da desesperação (o “contei, não terei o
suficiente”). Porém, o ser transcende todo o inventariado. A desesperação como choque
sofrido pela alma ao contato com um “não há mais nada”. “Tudo o que acaba é demasiado
curto” (Santo Agostinho).
Porém, este princípio de não abrangência não é em si nem um caráter nem uma série
de caracteres; voltamos a encontrar aqui o que escrevi sobre o mistério por oposição ao
problemático.
01 de novembro de 1932
O espaço e o tempo como manifestação da não abrangência. 28
O universo como deiscência do ser? Noção por explorar.
Todo ser individual enquanto fechado (ainda que seja infinito), símbolo ou expressão do
mistério ontológico.
07 de novembro de 1932
Partir do mal-estar experimentado frente ao problema do ser quando é apresentado em
termos teóricos e, ao mesmo tempo, da impossibilidade em que nos achamos de não
apresentá-lo deste modo.
Porém, em outra parte os defino como modos conjugados da ausência. Poder-se-ia tirar daqui toda uma
dialética que se acha no centro tanto da viagem como da história (anotação de 08 de outubro de 1934).
28
66
Correlação do técnico e do problemático; todo problema autêntico é justificável de uma
técnica e toda técnica consiste em resolver problemas de um tipo determinado. Aproximação –
a título de hipótese – de uma zona metaproblemática, metatécnica.
08 de novembro de 1932
Uma reflexão profunda sobre a mesma noção de problema nos leva a perguntar-nos se
não há algo contraditório no fato de apresentar o problema do ser.
A filosofia como metacrítica orientada até uma metaproblemática.
Necessidade de restituir à experiência humana seu peso ontológico.
O metaproblemático: a paz que excede todo entendimento, a eternidade.
09 de novembro de 1932
Aprofundar o sentido do que tenho chamado o peso ontológico da experiência humana;
aqui Jaspers pode ser útil.
Analisar uma fórmula como esta: “Não sou senão o que valho (porém, não valho nada)”,
filosofia que desemboca na desesperação e não se lhe dissimula senão graças a uma ilusão
cuidadosamente cultivada.
O fato de que a desesperação é possível constitui aqui um dado central. O homem,
capaz de desesperação, capaz de abraçar a morte – de abraçar sua morte. Dado central para
a metafísica e que uma definição de homem como a que propõe o tomismo encobre, dissimula.
O mérito essencial do pensamento de Kierkegaard é, em meu modo de ver, o ter posto isto em
plena luz. E a metafísica deve tomar posição frente ao problema da desesperação. O problema
ontológico não é separável do problema da desesperação – porém, isto não são problemas.
Refletir sobre o problema da realidade dos outros “eus”. Creio que há um modo de
apresentar o problema que exclui de antemão toda solução satisfatória ou inclusive inteligível;
é o que consiste em centrar minha realidade sobre a consciência que tenho de mim mesmo, se
se inicia ao modo cartesiano assentando que minha essência consiste em ser consciente de
mim mesmo, já não há saída possível.
11 de novembro de 1932
Não somente temos o direito de afirmar que os outros existem, mas que estaria disposto
a sustentar que a existência não pode ser atribuída mais que aos outros enquanto que outros e
que não posso pensar-me a mim mesmo como existente senão enquanto que me concebo
67
como não sendo os outros; por conseguinte, como outro que eles. Chegarei inclusive a dizer
que pertence à essência do outro o existir; não posso pensá-lo enquanto que outro sem pensálo como existente; a dúvida não surge senão quando esta alteridade se esvai, por dizê-lo
assim, em meu espírito.
Chegaria, inclusive, a perguntar-me se o cogito, cuja irremediável ambiguidade nunca se
ponderará suficientemente, não significa no fundo que “ao pensar tomo certa distância com
relação a mim mesmo; suscito-me a mim mesmo enquanto um outro e apareço, portanto, como
existente”. Tal concepção se opõe radicalmente a um idealismo que define o eu através da
consciência de si. Seria absurdo dizer que o eu como consciência de si não é mais que
subsistente? Não existe senão enquanto se trata a si mesmo como sendo para outro; como
estando em relação com outro; portanto, na medida em que reconhece que se escapa de si
mesmo.
Dir-me-ás: “estas afirmações são tão equívocas em seu conteúdo real como
peremptórias na forma. De que existência fala você? Da existência empírica ou da existência
metafísica? A existência empírica ninguém a nega, porém, apresenta um caráter fenomênico,
pois nada impedirá que os outros sejam meu pensamento dos outros. Por este modo, o
problema somente foi deslocado”. Creio que é precisamente esta posição a que se há de
rechaçar radicalmente. Se admito que os outros não são senão meu pensamento dos outros,
minha ideia dos outros, chega a ser absolutamente impossível romper um círculo que se iniciou
por traçar-se ao redor de si. Se se assenta o primado do sujeito-objeto – da categoria
sujeito/objeto – ou do ato pelo qual o sujeito introduz objetos, por assim dizer, no seio de si
mesmo, a existência dos outros resulta impensável – e, sem dúvida alguma, qualquer outra
existência, seja da ordem que seja.
A self consciousness e o ele; filosofia da self consciousness. Aqui os outros são
verdadeiramente exteriores a certo círculo que formo comigo mesmo. Desde este ponto de
vista é impossível, para mim, comunicar-me com eles; a ideia mesma de uma comunicação é
impossível. Não poderei impedir-me olhar esta realidade intrasubjetiva dos outros como a
emergência de um X, absolutamente misterioso, e por sempre indisponível. De modo geral,
ainda encontramos também em Proust indicações não somente diferentes, senão
contraditórias – indicações que ademais se contaminam cada vez mais na medida em que a
obra progride e que o círculo formado pelo eu e ele mesmo se precisa e se fecha mais. Em
Combray, e em tudo o que se relaciona a Combray, este círculo, todavia, não existe. Há um
lugar efetivo para o tu; porém, à medida que a obra se desenvolve, que a experiência se
encorpa, se precisa, se retorce, o tu se elimina do livro; a este respeito, significação decisiva e
fatal da morte da avó (por outra parte creio que aqui vamos além da consciência que Proust
pôde tomar de si e de sua obra).
68
Dir-me-ás ainda: “porém, esta distinção entre o tu e o ele não versa senão sobre atitudes
mentais; é fenomenológica no sentido mais restritivo. Pretende você fundar metafisicamente
esta distinção, conferir ao tu uma validez metafísica?”. Porém, na realidade, é o sentido da
pergunta o que é extremamente obscuro e difícil de elucidar. Tentemos formulá-la mais
claramente, por exemplo, do seguinte modo:
Quando trato ao outro como um tu e não já como um ele, esta diferença de trato me
qualifica somente a mim mesmo, à minha atitude até este outro, ou posso dizer que, tratandolhe como um tu, penetro mais profundamente nele, que apreendo mais diretamente seu ser ou
sua essência?
Inclusive aqui é preciso ter cuidado; se por “penetrar mais profundamente” ou “captar
mais diretamente sua essência” se quer dizer chegar a um conhecimento mais exato ou, em
um sentido qualquer, mais objetivo há de se responder sem nenhuma dúvida que não. A este
respeito sempre será possível, se se atende a um modo de determinação objetiva, dizer que o
tu é uma ilusão. Porém, observemos que o termo mesmo de essência é extremamente
ambíguo; por essência pode entender-se ou uma natureza ou uma liberdade; é talvez próprio
de minha essência enquanto liberdade o poder conformar-me ou não à minha essência
enquanto natureza. É talvez próprio de minha essência o poder não ser o que sou: mais
simplesmente, o poder de trair-me. Não é a essência enquanto natureza o que eu alcanço no
tu. Com efeito, ao tratá-lo como ele, reduzo o outro a não ser mais do que natureza: um objeto
animado que funciona de tal modo e não de outro. Pelo contrário, ao tratar o outro como tu,
trato-o e compreendo-o como liberdade, compreendo-o como liberdade porque é também
liberdade e não somente natureza. Mais ainda: ajudo-lhe em certa maneira a ser livre, colaboro
com sua liberdade – fórmula que parece excessivamente paradoxal e contraditória, porém, que
o amor não cessa de verificar. Mas, por outra parte, o outro é realmente outro enquanto
liberdade; com efeito, enquanto natureza se me apresenta idêntico ao que eu mesmo sou com
natureza; e é sem dúvida por este caminho, e somente por este, como poderei influir nele por
sugestão (confusão tremenda e frequente entre a eficácia do amor e da sugestão).
Graças a isto se aclaram minhas fórmulas desta manhã. O outro enquanto outro não
existe para mim senão na medida em que eu estou aberto a ele (ele é um tu), porém, eu não
estou aberto a ele senão na medida em que deixo de formar comigo uma espécie de círculo no
interior do qual eu alojaria, em certo modo, o outro ou, melhor, sua ideia; já que em relação a
este círculo o outro provém da ideia de outro – e a ideia do outro já não é outro enquanto outro,
é o outro enquanto que relacionado comigo, desarticulado ou em vias de desarticulação.
69
14 de novembro de 1932
Tudo o que é enunciável, é pensável – ou mais exatamente: não há nada que possa
enunciar-se que alguém não possa, em um momento, crer, pensar. As facilidades da
linguagem são comparáveis sob todo ponto de vista às que oferece uma rede de
comunicações extraordinariamente perfeitas. Porém, em si, circular não é nada – e discorrer
não é nada.
Estas observações me foram sugeridas por não sei qual pseudoapreciação estética;
porém,
desgraçadamente,
encontrariam
também
aplicação
em
tantas
outras
pseudometafísicas.
15 de novembro de 1932
Seria possível apresentar legitimamente a prioridade do ato pelo qual o eu se constitui
como si em relação àquele ato em que se postula a realidade dos outros? E se tal prioridade
deve ser admitida, como entendê-la? Pode ser concebida em sentido empírico ou em sentido
transcendental. Empiricamente eu tenho meu domínio constituído pelo conjunto de meus
estados de consciência; este domínio apresenta o caráter distintivo de ser sentido, de ser meu
domínio enquanto que é sentido. Isso parece claro; porém, na realidade, não o é em nenhum
grau; e a aparência de claridade procede unicamente, em meu modo de ver, de uma espécie
de representação materialista subjacente que sustém estas fórmulas. Em vez de aplicar-nos a
pensar o sentido enquanto sentido, sustentamo-lhe a ideia de certo acontecimento orgânico, de
algo que “ocorre” na esfera, segundo se diz perfeitamente, distinta e delimitada que chamo
meu corpo. Creio, na realidade, que na base de toda noção empirista do primado da
consciência de si se encontra a ideia rudimentar de que tudo o que é para mim deve antes
passar por meu corpo – sem que nos coloquemos de maneira rigorosa a investigar de que
ordem é esta relação que une meu corpo a mim ou, inclusive, o que significa o ato pelo qual eu
afirmo que este corpo é meu corpo. Pode – não o afirmo de modo absoluto – ser que haja aqui
um círculo que fatalmente estejamos obrigados a passar do feeling a certa representação de
meu corpo para explicar logo, em função do feeling, o privilégio em virtude do qual meu corpo é
meu corpo. Estou tencionado a crer que, se queremos nos ater ao ponto de vista empírico, não
se pode ir além da afirmação este corpo e que a menção meu corpo não aparece senão como
uma fonte de ininteligibilidade, de radical irracionalidade.
A coisa muda completamente se nos situamos no que chamo o ponto de vista
transcendental.
70
16 de novembro de 1932
Assinalar o obstáculo que certa filosofia constitui para uma meditação sobre o ser; tal
meditação se arrisca a aparecer que se desenvolva deste lado ou por debaixo desta filosofia –
estas primeiras notas são essenciais e nos proporcionam a chave.
“Ocultamento – escrevi – de meu ser à minha consciência por algo que não me é nem
me pode ser dado”. Minha vida não pode ser-me dada; e, apesar das aparências, meu corpo
tampouco, enquanto que minha vida se encarna nele. Meu corpo não é e nem pode ser objeto
no sentido em que o é um aparato exterior a mim. Tendência a minimizar o mais possível esta
diferença entre meu corpo e tal aparato que me pertence (um relógio); os americanos se fazem
revisar nas clínicas. Isto é revelador. Praticamente se pode ir tão longe como seja possível
nesta direção. Porém, há algo que escapa a toda revisão possível, há algo acidental, etc.
Tentação quase irresistível, tampouco como se faz a distinção entre minha vida e meu
ser, de traçar o problema ao sujeito deste ser, de perguntar-se em que consiste; aqui todo
esforço de representação esboça uma resposta a este problema ou a este pseudoproblema.
A pergunta “que sou?” parece exigir uma resposta conceitualizável; porém, ao mesmo
tempo, toda resposta conceitualizável se apresenta como suscetível de ser rechaçada ou
superada. Porém, é legítima esta pergunta? Apresenta algum significado? Aqui se impõem
algumas especificações: quanto mais adiro ao que faço, ao meu ambiente social, etc., tanto
menos se apresenta realmente para mim esta pergunta; sempre posso formulá-la, porém
produz um som oco para mim; como questão real, quer dizer, que produz o que eu chamo um
som pleno, supõe certo desprendimento, certo distanciamento de mim mesmo com relação ao
que faço, ao meu modo de participar no mundo comum dos homens.
Afirmar-se-á acaso que este desprendimento é uma abstração ilegítima? Contudo, é um
fato indiscutível que minha vida, entendida neste sentido (quer dizer, como participação neste
mundo comum) pode converter-se para mim em objeto de juízo, de apreciação, de
condenação. Minha vida é algo que se pode avaliar. Dado central. Porém, que sou eu, que a
avalio? Impossibilidade de acolher-se a ficção de um eu transcendental. Este eu avaliador é
ele mesmo qualificado. Deve-se assinalar que minha vida, na mesma medida em que a vivo,
está como que sustentada por uma avaliação implícita (adesão ou desmentido: pois pode
acontecer que eu leve uma existência contra a qual algo em mim protesta de modo surdo e
contínuo). Esta situação complexa e, sob certos aspectos, contraditória é a que me aponto
quando me interrogo sobre o que sou. Porém, precisamente porque é esta uma situação real,
posso escapar dela, posso subtrair-me dela.
A estrutura de nosso mundo (haveria de perguntar-se, por outra parte, sobre o sentido
da palavra mundo) é tal que nele é possível de desesperação e é por aí por onde se descobre
71
o significado crucial da morte. Esta se apresenta à primeira vista como um convite permanente
à desesperação e diria à traição sob todas as suas formas. Isso, pelo menos, enquanto seja
considerada sob a perspectiva de minha vida e da afirmação pela qual me declaro igual à
minha vida. Colaboração – no sentido da traição – desta representação obcecada da morte e
do sentimento de que minha vida não é captável fora do instante vivido e que, por conseguinte,
todo laço, todo compromisso, todo voto se apoia sobre uma mentira, sobre a eternização
arbitrária de algo puramente efêmero.
Porém, pelo fato de que toda fidelidade pode ser
rechaçada ou desenraizada, a traição mesma parece mudar de natureza: é ela quem pretende
ser a verdadeira fidelidade e trata, ao que nós designamos com este nome, de traição – traição
ao instante presente, ao eu real experimentado em cada instante. Porém, aqui estamos no
impensável: assentar o princípio da fidelidade ao instante é transcender o instante. Isso não é,
contudo, mais que uma refutação dialética que está, creio eu, desprovida da eficácia real.
Ademais, uma refutação eficaz nisto deve ser impossível: a desesperação é irrefutável. Aqui
somente cabe uma opção radical, por cima de toda dialética.
Faço notar que a fidelidade absoluta não pode ser-nos dada senão em certos
testemunhos, como são, sobretudo, os mártires. Entregue a algo que é pertencente à ordem da
fé. Já a esperança da traição está em todas as partes – em primeiro lugar em nós.
18 de novembro de 1932
Passo do problema do ser ao “que sou?”. Que sou eu que me interrogo sobre o ser?
Que qualificação tenho para proceder a esta interrogação? Passo do problema ao mistério. Há
aqui uma degradação: um problema entranha um mistério enquanto seja suscetível de
repercussão ontológica (problema da sobrevivência).
O problema das relações da alma e do corpo é mais que um problema: e é esta a
conclusão implícita de Existence et Objetivité. 29
Um irrepresentável concreto – um irrepresentável que é mais que uma ideia, que
sobrepassa toda ideia possível, que é uma presença. O objeto como tal não está presente. 30
21 de novembro de 1932
Falei ontem com o padre A... sobre Teresa Neumann. Esta manhã pensava com
exasperação na renúncia que oporiam todos os racionalistas a tais fatos e refletindo sobre
minha própria exasperação, cheguei a pensar que se devia, sem dúvida, ao fato de que
29
30
Apêndice do Journal Métaphysique (1913-1923).
Acesso possível a uma teoria da presença eucarística (anotação de 10 de outubro de 1934).
72
subsiste em mim uma pequena incerteza. Se eu estivesse absolutamente seguro, não
experimentaria para com os que duvidam senão um sentimento de pura caridade e de
compaixão. E creio que isto vai muito longe. Parece-me que a caridade está vinculada à
certeza. Isto teria que aprofundar. 31
28 de novembro de 1932
Uma frase se pôs ante meus lábios do mesmo modo em que vejo a um cão deitado
diante de uma tenda: “Há uma coisa que se chama viver, há outra que se chama existir; eu
escolhi existir”.
05 de dezembro de 1932
Esta manhã, depois das fatigas e emoções destes últimos dias (representação de Mort
de demain), encontrava-me neste estado em que alguém não entende nada de seu próprio
pensar. Estava tentado a dizer: o termo mistério se encontra colado como a etiqueta em que se
lê: “Não toque!”. Para compreender outra vez devo me referir sempre à ordem do problemático.
O mistério é o metaproblemático.
Utilizar, por outra parte, o princípio que apresentei sábado a propósito da realidade dos
outros eus: nossas possibilidades de negação e de rechaço apresentam uma consistência e
como que uma espessura crescente à medida que nos elevamos na hierarquia das realidades.
32
06 de dezembro de 1932
Refletia há um instante que nossa condição – não defino exatamente este termo no
momento – implica ou requer uma espécie de obturação sistemática do mistério em nós e em
nosso arredor. O que intervém é a ideia quase imprecisável – é sequer um ideia? – do
completamente natural. Conexão íntima entre o objetivo e o completamente natural. A
apreensão do ser não é possível senão mediante uma penetração repentina efetuada através
da casca que nos rodeia e que nós mesmos temos segregado. “Se não vos fizerdes
novamente como crianças...”. Possibilidade para nossa “condição” de transcender-se a si
mesma, porém, mediante um esforço heróico e necessariamente intermitente. A essência
Há aqui uma ideia que deve parece paradoxal: consiste, com efeito, em admitir que na raiz do fanatismo não se
acha de modo algum a certeza – uma certeza intemperante -, senão uma desconfiança de si, um temor que não
se declara alguém a si mesmo.
32 É por isso que é muito fácil negar a Deus que negar a matéria (anotação de 10 de outubro de 1934).
31
73
metafísica do objeto como tal é talvez, precisamente, sua capacidade de obturação. Isso é, por
outra parte, não especificável; não podemos perguntar-nos em presença de um objeto qualquer
sobre o mistério que encerra. Isto não seria senão uma pseudoproblemática. 33
11 de dezembro de 1932
Esta manhã me fixei na questão do recolhimento. Há aqui um dado essencial e muito
pouco elaborado, parece-me. Não somente estou em disposição de impor silêncio às vozes
estridentes que invadem ordinariamente minha consciência, senão que este silêncio se
apresenta afetado de um índice positivo. É nele onde posso refazer-me. É em si um princípio
de recuperação.
Atrever-me-ia a dizer que recolhimento e mistério são correlativos.
Propriamente falando, não há recolhimento frente a um problema – ao contrário, o problema
me põe, de certo modo, em um estado de tensão interior. Enquanto que o recolhimento é mais
distensão. Por outra parte, estes termos, tensão e distensão, podem, por alguns aspectos
próprios, extraviar-nos.
Se nos perguntássemos acerca do que pode ser a estrutura metafísica de um ser capaz
de recolhimento, se progrediria muito até uma ontologia concreta.
13 de dezembro de 1932
Será preciso indicar, no começo de minha exposição, que em meu pensamento se
intenta definir certo clima metafísico que me parece o mais favorável – senão o único favorável
– para o desenvolvimento das afirmações relativas à ordem suprassensível.
18 de dezembro de 1932
Depois de algumas horas angustiosas de cegueira intelectual quase total, bruscamente
voltei a compreender de novo e ainda mais claramente ao passar pela montanha de Santa
Genoveva.
Deve-se observar:
1. Que a exigência ontológica, intentando compreender-se a si mesma, descobre que não
é assimilável à busca de uma solução.
Porém, aí está a raiz metafísica da poesia autêntica, pois a essência mesma da poesia não é perguntar-se,
senão afirmar. Vínculo íntimo entre o poético e o profético (anotação de 10 de outubro de 1934).
33
74
2. Que o metaproblemático é uma participação que funda minha realidade de sujeito (NÃO
NOS PERTENCEMOS A NÓS MESMOS) e a reflexão mostra que uma participação
semelhante, se é real, não pode ser uma solução; - pois deixaria de ser uma
participação de uma realidade transcendente para tornar-se (ao degradar-se) inserção
efetiva.
Assim, pois, deve-se proceder aqui a dois exames distintos, um dos quais prepara ao
outro, sem condicioná-lo, e ambos tendem, em certo modo, um até o outro: a) investigação
dirigida à natureza da exigência ontológica; b) investigação dirigida às condições nas quais
poderia ser pensada uma suposta participação real; descobre-se, então, que precisamente
esta participação sobrepassa a ordem do problemático – daquilo que se pode apresentar com
problema. Mostra logo que, de fato, desde o momento em que se apresenta, estamos além do
problemático, porém, que, ao mesmo tempo, o ponto de apoio que põe em ação um
pensamento, que procede por problemas e por soluções, confere a cada decisão um caráter
provisional, de modo que qualquer presença poderá sempre dar lugar a problemas, porém, tão
somente poderá fazê-lo na medida em que perca seu valor de presença.
20 de dezembro de 1932
O conhecimento interior ao ser, envolto por ele: mistério ontológico do conhecimento.
Não poderá ser conseguido senão por uma reflexão à segunda potência que se apoie sobre
uma experiência da presença.
22 de dezembro
Vi claramente a conexão que une o problema do sofrimento (e sem dúvida do mal em
geral) ao problema de meu corpo. O problema da justificação metafísica do sofrimento
comporta uma referência (que pode estar encoberta) ao sofrimento, que faço meu, que
assumo; feita a abstração desta referência, perde todo seu significado. Daqui o som
estranhamente oco que oferecem neste ponto as considerações de um Leibniz (e inclusive, de
certa maneira, de um Spinoza, em razão inclusive de seu heroísmo). Contudo, a dificuldade,
frequentemente assinalada, surge aqui com todo seu vigor: ao aparecer, o problema se
apresenta com uma agudez tanto maior quanto o sofrimento invade meu ser mais totalmente e,
por outra parte, quando mais é assim, tanto menos posso dividi-lo, em certo modo, de mim
mesmo e tomar posição ante ele; faz corpo comigo, ele é eu.
75
23 de dezembro de 1932
Por isso, o problema do sofrimento, visto em profundidade, tende a tomar a forma que
se apresenta no livro de Jó. Porém, isolado de todo contexto teológico, isto significa que quanto
mais se afeta um sofrimento, tanto mais arbitrário é o ato pelo qual eu apresento este
sofrimento como exterior a mim e suportado acidentalmente; ou seja, o ato pelo qual eu admito
uma espécie de integridade prévia de meu ser (isso se constata particularmente no caso de um
duelo ou de uma enfermidade). Tudo isso, contudo, não o vejo por um momento senão através
de um véu; espero que este não tarde em desprender-se.
Alinhamentos da exposição feita ante a Sociedade de Estudos Filosóficos de Marsella
em 21 de fevereiro de 1933 sobre as aproximações concretas ao mistério ontológico.
A. Se se considera a situação atual do pensamento filosófico, de tal modo que se
traduza no sentido de uma consciência que se esforça por aprofundar em suas próprias
exigências, parece que estamos conduzidos a formular as seguintes observações:
1. Os termos tradicionais, nos quais alguns tratam, ainda hoje, de enunciar o problema do
ser, despertam comumente uma suspeita difícil de superar, que tem sua origem menos
na adesão, explícita ou não, às teses kantianas ou simplesmente idealistas, que na
impregnação do espírito pelos resultados da crítica bergsoniana que se constata
inclusive naqueles que não poderiam somar-se ao bergsonismo enquanto que
metafísica.
2. Por outra parte, a abstenção pura e simples em presença do problema do ser, que
caracteriza a um grande número de doutrinas filosóficas contemporâneas, é uma atitude
insustentável em última instância: ou se reduz, com efeito, a uma espécie de suspensão
que nem sequer se deixa justificar legitimamente e que é produto da preguiça ou da
timidez; ou – e assim é geralmente – se reduz, ao menos indiretamente, a uma negação
mais ou menos explícita do ser, que encobre a intenção de opor-se às exigências
fundamentais de um ser cuja essência concreta é estar, de todos os modos,
comprometido e, por conseguinte, de enfrentar-se com um destino que não somente há
de sofrer, senão, também, fazê-lo próprio e, em certa maneira, recriá-lo por dentro. Esta
negação do ser não poderia ser, na realidade, a constatação de uma ausência, de uma
carência; não pode ser senão querida e, por isso, pode ser também rechaçada.
B. Convém, por outra parte, assinalar que eu, que pergunto pelo ser, não sei, em
primeiro lugar, se sou, nem a fortiori o que sou – nem sequer sei claramente o significa esta
76
pergunta que sou?, que ainda assim me obseciona. Vamos, pois, aqui, ao problema do ser
superar seus próprios dados e aprofundar no interior do próprio sujeito que apresenta. Ao
mesmo tempo se nega (ou se transcende) enquanto problema e se transforma em mistério.
C. Parece, com efeito, que entre um problema e um mistério há uma diferença essencial:
a de que um problema é algo com o qual me enfrento, algo que encontro por inteiro ante mim,
que se pode cercar e reduzir, enquanto que um mistério é algo com o qual eu mesmo estou
comprometido e que, em consequência, não é pensável senão como uma esfera na qual a
distinção de em mim e ante mim perde seu significado e seu valor inicial. Enquanto um
problema autêntico pode ser submetido a certa técnica apropriada em função da qual se
define, um mistério transcende, por definição, toda técnica concebível. Sem dúvida, sempre é
possível (lógica e psicologicamente) degradar um mistério para convertê-lo em problema,
porém, tal procedimento é profundamente vicioso e sua origem deveria ser buscada, talvez, em
uma espécie de corrupção da inteligência. O que os filósofos têm chamado o problema do mal
nos proporciona um exemplo particularmente instrutivo desta degradação.
D. Pelo fato mesmo de ser próprio da essência do mistério o ser reconhecido ou poder
sê-lo, pode também ser desconhecido e ativamente negado; reduz-se, então, a algo do qual
“ouvi falar”, porém, que eu rechaço como sendo somente “para outros” e isto em virtude de
uma ilusão de que esses “outros” são vítimas, ilusão que pretendo, no que a mim respeita,
aprofundar de parte a parte.
Toda confusão entre o mistério e o incognoscível deve ser cuidadosamente evitada: o
incognoscível não é, com efeito, mais que um limite do problemático que não pode ser
atualizado sem contradição. Pelo contrário, o reconhecimento do mistério é um ato
essencialmente positivo do espírito, o ato positivo por excelência e em função do qual, talvez,
define-se rigorosamente toda positividade. Tudo parece ocorrer aqui como se eu desfrutasse
de uma intuição que possuo sem saber, imediatamente, que a possuo, uma intuição que não
poderia ser, propriamente falando, para si, porém, que não se apreende a si mesma senão
através dos modos de experiência sobre os quais se reflete e que ela mesma ilumina mediante
dita reflexão. O labor metafísico essencial consistiria, então, em uma reflexão sobre esta
reflexão, em uma reflexão à segunda potência, pela qual o pensamento tende à recuperação
de uma intuição que pelo contrário se perde, em certo modo, na medida em que se exerce.
O recolhimento, cuja possibilidade efetiva pode ser considerada o índice ontológico mais
revelador de que dispomos, constitui o meio real em cujo seio esta recuperação é suscetível de
cumprir-se.
77
E. o “problema do ser” não será, pois, senão a tradução em uma linguagem inadequada
de um mistério que não pode ser dado mais que a um ser capaz de recolhimento, a um ser
cuja característica central consiste, acaso, em não coincidir pura e simplesmente com sua vida.
Nós encontramos a prova ou confirmação desta não coincidência no fato de que avalio minha
vida de modo mais ou menos explícito, de que está em meu poder não somente condená-la
com um veredicto abstrato, senão, também, pôr em termo efetivo esta vida considerada em
suas profundidades últimas e, talvez, escapem às minhas mãos, ao menos à expressão, finita
e material, à qual sou livre de crer que esta vida se reduz. O fato de que o suicídio seja
possível, constitui-se, neste sentido, um ponto de partida essencial para qualquer pensamento
metafísico autêntico. Não somente o suicídio: a desesperação sob todas as suas formas, a
traição sob todos os seus aspectos, enquanto se apresentam como negações efetivas do ser,
que a alma que desespera se fecha a si mesma à segurança misteriosa e central em que
temos crido encontrar o princípio de toda positividade.
F. Não basta dizer que vivemos em um mundo em que traição é possível em qualquer
instante, em qualquer grau, sob todas as formas; dir-se-ia que a mesma estrutura de nosso
mundo no-la recomenda, e mais: no-la impõe. O espetáculo de morte que este mundo nos
propõe pode ser considerado, desde certo ponto de vista, como um convite perpétuo à
negação, à defecção absoluta. Poder-se-ia dizer, ademais, que o espaço e o tempo, como
modos conjugados de ausência, ao abandonarmos a nós mesmos, tendem a precipitar-nos na
indigente instantaneidade do gozar. Porém, ao mesmo tempo e correlativamente, parece
pertencer à essência da desesperação, da traição, da morte, o poder ser rechaçadas, negadas;
se a palavra transcendência tem um sentido, é precisamente esta negação o que a designa;
mais exatamente, esta superação (Uberwindug, melhor que Aufhebung). Pois a essência do
mundo é, talvez, ou, mais exatamente, não há no mundo uma só coisa de que possamos estar
seguros que seu prestígio resistiria aos assaltos de uma reflexão crítica intrépida.
G. Se assim é, as aproximações concretas do mistério ontológico deverão ser buscadas
não já no registro do pensamento lógico, cuja objetivação apresenta um problema prévio,
senão na elucidação de certos dados propriamente espirituais, tais como a fidelidade, a
esperança, o amor, nos quais o homem se nos mostra enfrentado com a tentação da negação,
do dobrar-se sobre si mesmo, do endurecimento interior, sem que o puro metafísico seja capaz
de decidir se o princípio destas tentações reside na natureza mesma, considerada em suas
características intrínsecas e invariáveis, ou em uma corrupção de tal natureza, ocorrendo a
consequência de uma catástrofe que teria dado origem à história antes que inserir-se nela.
78
Talvez no plano ontológico a fidelidade é o que mais importa. Com efeito, esta é o
reconhecimento não teórico ou verbal, senão efetivo de um permanente ontológico, de um
permanente que perdura e com relação ao qual nós também duramos; de um permanente que
implica ou exige uma história, por oposição à permanência de um testemunho que a cada
momento pode ser obliterado ou negado. É uma atestação não somente perpetuada, senão
criadora e tanto mais criadora quanto o valor ontológico do que atesta é mais eminente.
H. Uma ontologia assim orientada está evidentemente aberta em direção de uma
revelação que, por outra parte, dela não saberia, nem exigiria, nem pressuporia, nem integrar
nem sequer, absolutamente falando, compreender, porém, cuja acepção pode, em certo modo,
preparar. Para dizer a verdade, é possível que esta ontologia não possa desenvolver-se de fato
senão sobre um terreno previamente preparado pela revelação. Porém, se se reflete, não há
nada aí que deva surpreender nem, a fortiori, escandalizar; o crescimento de uma metafísica
não pode produzir-se senão no seio de certa situação que a suscita; agora, a existência do
dado cristão constitui um fator essencial desta situação que é a nossa. Sem dúvida, convém
renunciar, de uma vez para sempre, a ideia ingenuamente racionalista de um sistema de
afirmação válido para o pensamento em geral, para a consciência, seja qual for. Tal
pensamento é o tema do conhecimento científico, um tema que é uma ideia e nada mais que
uma ideia. Enquanto que a ordem ontológica somente pode ser reconhecida pessoalmente
pela totalidade de um ser comprometido em um drama que é o seu, ainda transbordando-o
infinitamente em todo sentido – um ser ao qual tem sido dado o singular poder de afirmar-se ou
de negar-se, segundo que afirme o ser e se abra a ele – ou que o negue e, por isso mesmo, se
feche, pois este dilema é onde reside a essência mesma de sua liberdade.
Esclarecimentos
1ª Desde este ponto de vista, o que sucede com a noção de prova da existência de
Deus?
Devemos submetê-la, evidentemente, a uma esmerada revisão. Em meu modo de ver,
toda prova se refere a certo dado, que é aqui a crença em Deus, em mim ou no outro. A prova
não poderá consistir mais que em uma reflexão segunda do tipo que defini; reflexão
reconstrutiva que se enxerta sobre uma reflexão crítica, uma reflexão que é uma recuperação,
porém, isso na medida em que se torna tributária do que chamo uma intuição cega. É evidente
que a apreensão do mistério ontológico como metaproblemático é o meio desta reflexão
recuperadora. Entretanto, notemos bem que se trata aqui de um movimento reflexo do espírito
79
e em absoluto de um processo heurístico. A prova somente pode confirmar-nos o que na
realidade se nos é dado por outra parte.
2ª O que acontece aqui com a noção de atributos de Deus?
Isto, em um plano filosófico, é muito obscuro. Pelo momento somente vislumbro vias de
acesso à solução; por outra parte, não há solução onde há problema e a expressão problema
de Deus é, sem dúvida alguma, contraditória e até sacrílega. O metaproblemático é, antes de
tudo, “a Paz que excede todo entendimento”, porém, esta Paz é uma paz viva e, como
escreveu Mauriac em Noeud de Vipères, uma Paz que é alguém, uma Paz criadora. Pareceme que a Infinitude, a Onipotência de Deus não podem, por sua vez, ser estabelecidas senão
pela via reflexa; é-nos possível compreender que não podemos negar esses atributos sem cair
de nova na esfera do problemático. Isto veria a significar que a teologia a que a filosofia nos
conduz é essencialmente negativa.
3ª Perguntar-se acerca do sentido da união em função da ideia do metaproblemático.
Para mim, de modo geral, há ser enquanto há enraizamento no mistério ontológico e sob este
ponto de vista diria que unicamente o abstrato como tal não existe (toda sua vida se encerra no
problemático puro). Necessidade de referir o ser da união ao ser em si. Este irradia no ser da
união (o ser de Pierre irradia na união Pierre é bom).
Deve-se voltar a examinar de perto o que disse da intuição, porque ainda não fica
perfeitamente claro para mim. No fundo, trata-se de uma intuição que seria, em certo modo,
eficiente e puramente eficiente – da qual em definitiva eu não poderia dispor de modo algum.
Porém, cuja presença se manifestaria na inquietude ontológica que se exerce na reflexão.
Para aclarar isto, haveria de partir de um exemplo, de uma ilustração: talvez a exigência da
pureza ou inclusive da verdade. Esta intuição não está em mim. Há aqui algo para averiguar se
não se quer permanecer nas negações.
No fundo, o que nos leva a admitir esta intuição é o fato de refletir sobre o paradoxo de
que eu mesmo não sei o que creio (paradoxo que atraiu minha atenção desde muito tempo e
que está por aprofundar e precisar). Espontaneamente se admite o contrário: quer dizer, que
posso fazer uma espécie de inventário de meus objetos de crença ou também uma
“separação” entre o que creio e o que não creio, o que implica que me é dado ou me é sensível
uma diferença entre aquilo ao qual me adiro e aquilo ao qual não adiro.
Qualquer especificação (que verse sobre o conteúdo no qual eu afirmo saber que creio)
pressupõe, ao menos, a possibilidade dessa enumeração, desse inventário. Contudo, por outra
parte parece-me que o ser, ao qual se destina a crença, transcende todo inventário possível,
80
ou seja, que não pode ser uma coisa entre outras, um objeto entre outros (e inversamente esse
entre outros não tem sentido senão para o que é coisa ou objeto).
Contudo, isto não fica claro em absoluto nem sequer para mim.
(Naturalmente aqui não há de se ter em conta os artigos de um credo positivo, pois,
neste caso, o inventário não foi feito por mim; temos aí um conjunto que nos está dado como
conjunto indivisível e a heresia consistirá, precisamente, em operar no seio deste conjunto
subtrações arbitrárias.) Dir-me-ás com efeito: de que crença fala você? De que fé?
Também aqui se me convidará a especificar: se recuso fazê-lo, acusar-me-ás de fixarme em uma vacuidade tal que qualquer discussão e, inclusive, qualquer elucidação são
impossíveis. E, contudo, é preciso manter esta fé global, maciça, como anterior a toda
elucidação possível; ela implica uma adesão a uma realidade da qual é próprio o não detalharse nem o despachar-se em absoluto. Esta adesão seria impossível se tal realidade não me
estivesse presente; talvez tenha que dizer: não me investira por completo.
Aprofundar o mais possível o fato de que os mais consagrados são os mais disponíveis.
Um ser consagrado renunciou a si mesmo. Porém, é do mesmo modo para quem se tenha
consagrado a uma causa social?
15 de janeiro de 1933
Aspectos fenomenológicos da morte
Esta pode parecer como expressão limite de nossa corruptibilidade (o é tal em Voyage
au bout de la nuit) ou, pelo contrário, como “libertação pura” (como indisponibilidade limite ou,
ao contrário, como indisponibilidade suprimida). É desde este ponto de vista diferente, mas
superficial, quando podemos tratá-la como traição.
Um ser que se fez a si mesmo cada vez mais disponível não pode não considerar a
morte como uma libertação (penso no que a Senhora F. nos referia no carro a propósito da
morte da Senhora B), e será impossível outorgar a menor validez à opinião segundo a qual isso
seria uma “ilusão” (absurdo do “Verá você como é falso ou, ao menos, você o verá se...”). Em
que medida a fé nesta liberdade a faz efetivamente possível? Problema a apresentar com a
maior nitidez (já que o que, em outro caso completamente distinto, não seria mais do que uma
“hipótese”
34,
torna-se aqui uma segurança invencível, insuperável). Faço notar brevemente
que a ideia cristã de mortificação deve ser compreendida em função desta “morte libertadora”.
É a aprendizagem de uma liberdade mais que humana. Assinalo também que há uma maneira
de aceitar a própria morte – importância suprema dos últimos momentos – pela qual a alma se
34
O “talvez” do agnóstico é radicalmente inaceitável para a alma entregue.
81
consagra (e talvez se faz disponível no sentido que tenho intentado precisar). Erro fundamental
de Spinoza ao negar o valor de qualquer meditação sobre a morte. Platão, ao contrário, o intuiu
quase todo. Considerar o suicídio em função de tudo isto (penso no pequeno N., de cuja
desastrosa morte nos inteiramos ontem). Dispor de si deste modo é o contrário da
disponibilidade como consagração de si.
16 de janeiro de 1933
Isto é muito importante aprofundar. O ser absolutamente disponível para os outros não
se reconhece o direito de dispor livremente de si.
O suicídio ligado à indisponibilidade.
19-20 de janeiro de 1933
Reflexão sobre a questão “que sou?” e sobre suas implicações. Quando reflito sobre o
que implica a pergunta “que sou?”, globalmente apresentada, dou-me conta do que significa:
esta mesma questão, que capacidade tenho eu para resolvê-la? E, em consequência, qualquer
resposta (a esta pergunta), por proceder de mim, deve ser posta em dúvida.
Porém, esta resposta não poderia me proporcioná-la outro? E imediatamente surge uma
objeção: sou eu quem discirno a capacitação deste outro para responder-me e a validez
eventual de seu dizer; porém, que capacidade tenho para responder-me para operar tal
discernimento? Não posso, então, referir-me sem contradição senão a um juízo absoluto,
porém, que, ao mesmo tempo, seja mais interior a mim mesmo que o meu próprio; pois, por
menos que eu trate este juízo como exterior a mim mesmo, a questão de saber o que vale e
como apreciá-lo se apresenta inevitavelmente de novo. Por isso, a questão, como tal,
desaparece e se converte em chamado. Porém, talvez, na medida em que tomo consciência
deste chamado enquanto que chamado, vejo-me necessitado a reconhecer que tal chamado
não é possível senão porque, no fundo de mim, há algo distinto de mim, algo mais interior a
mim que eu mesmo – e, por isso mesmo, o chamadp troca de sinal.
Objetar-se-á: em um primeiro sentido este chamado pode necessitar de objeto real;
pode perder-se em certo modo na noite. Porém, que significa a objeção? Que não recebi
resposta a esta “pergunta”, ou seja, “que nenhum outro respondeu”. Estou aqui no plano da
constatação ou da não constatação; porém, deste modo me encerro no círculo do problemático
(quer dizer, do que está situado ante mim).
82
24 de janeiro de 1933
Ontem, enquanto passeávamos por cima de Menton, refleti de novo sobre o domínio de
nosso próprio domínio, que é manifestamente paralelo à reflexão à segunda potência. Está
claro que este segundo domínio não é de ordem técnica e não pode ser senão o privilégio de
alguns. Na realidade, o pensamento em geral é o se, e o se é o homem da técnica, como
também é o sujeito da epistemologia, quando esta considera o conhecimento como uma
técnica, e este é, creio eu, o caso de Kant. Pelo contrário, o sujeito da metafísica se opõe
essencialmente ao se; essencialmente não é um qualquer (o man in the street). Toda
epistemologia, que pretende fundar-se sobre o pensamento em geral, encaminha-se para a
glorificação da técnica e do homem da rua (democratismo do conhecimento, que, no fundo, o
arruína). Por outra parte, não se deve duvidar que esta técnica esteja ela mesma degradada a
respeito da criação que ela pressupõe e que é também transcendente ao plano em que reina o
um qualquer. O se é também uma degradação, porém, admitindo-se que lhe creia; vivemos em
um mundo em que esta degradação toma cada vez aspectos de realidade.
02 de fevereiro de 1933
Conto em retomar e aprofundar tudo isto. Deve-se dizer que o mistério é um problema
que se intromete em suas próprias condições imanentes de possibilidade (não em seus dados).
A liberdade, exemplo fundamental.
Como pode ser efetivamente pensado o não problematizável? Enquanto trate o ato de
pensar como um modo de observar, esta questão não poderá ter solução. O não
problematizável não pode ser observado ou objetivado e isto por definição. Contudo, esta
representação do pensamento é precisamente inadequada; deve-se alcançar abstração dela.
Ainda deve-se reconhecer que é extremamente difícil. O que eu vejo é que o ato de pensar é
irrepresentável e deve apreender-se como tal. E mais: deve apreender toda representação de
si mesmo como essencialmente inadequada. Porém, a contradição implicada no fato de pensar
o mistério cai por si mesma se cessamos de aderir a uma imagem objetivante e falaz do
pensamento.
06 de fevereiro de 1933
Retomo minhas observações de 16 de janeiro último. Por que o ser absolutamente
disponível para outro não se reconhece o direito de dispor de si? Precisamente porque
dispondo, assim, de si mesmo (suicídio), faz-se indisponível para os outros ou, pelo menos,
83
trabalha como alguém a quem não lhe importa em absoluto o ficar disponível para eles. Há,
pois, aí, uma solidariedade absoluta. Oposição rigorosa entre suicídio e martírio. Tudo isto
gravita em torno da fórmula: a alma mais essencialmente entregue é, ipso facto, a mais
disponível. Ela se quer instrumento, porém, o suicídio é o fato de negar-se como instrumento.
Minhas observações de 24 de janeiro (Menton) seguem parecendo-me importantes; é
evidente que o se é uma ficção, porém, tudo sucede como se esta ficção se transformasse em
realidade; é tratada cada vez mais manifestadamente como realidade (contudo, o técnico não é
puro técnico; a técnica não pode exercer-se mais que ali onde se realiza um mínimo de
condições de equilíbrio psicofisiológico e caberia, por outra parte, perguntar-se se, em última
análise, uma técnica, que versasse sobre estas mesmas condições, seria possível).
Voltar sobre a noção de problematização. Parece-me que todo esforço de
problematização está condicionado pela posição ideal de certa continuidade da experiência
que há de salvaguardar contra as aparências. A este respeito, desde o ponto de vista de uma
problemática, seja qual for, milagre = absurdo, não se reconhecerá nunca explicitamente o
suficiente. Contudo, não poderá ser criticada a ideia mesma deste continuum empírico? Devo
averiguar a relação exata entre esta maneira de apresentar a questão e minha definição do
mistério. Isto deverá ser examinado sem dúvida a partir de um problema concreto (o encontro).
Tenderia a dizer que esta continuidade implicada em toda problematização é a de um
“sistema para mim”. Enquanto que no mistério é, essencialmente, do outro lado, de todo
“sistema para mim”, onde me encontro situado. Estou comprometido, in concreto, em uma
ordem que, por definição, não poderá nunca ser objeto ou sistema para mim, senão somente
para um pensamento que me supera e me compreende e com o qual nem sequer idealmente
posso identificar-me. Aqui o termo além reivindica, verdadeiramente, um sentido pleno.
Toda problematização é relativa ao “meu sistema” e “meu sistema” é prolongação de
“meu corpo”.
Este egocentrismo será discutido, porém, na realidade, em uma teoria científica, seja
qual for, tornando-se, em última análise, tributária do percipio e, de nenhum modo, unicamente
do cogito. O percipio constitui o centro real, se bem que esmeradamente dissimulado, de toda
problematização, qualquer que seja.
Desde este outro ponto de vista, pensava eu há um instante, que o que aqui se trata é
de encontrar uma transposição especulativa desse teocentrismo prático que adota como centro
Tua Vontade e não a minha. Isso me parece essencial. Porém, deve-se ver, por outra parte,
que este mesmo teocentrismo pressupõe afirmações teóricas às quais é extremamente difícil
chegar a dar forma. Tua Vontade não me é absolutamente dada no mesmo sentido em que é
meu desejo de viver, meu apetite. Tua Vontade é para mim algo a reconhecer, a ler, enquanto
que meu apetite exige pura e simplesmente; pura e simplesmente se impõe.
84
07 de fevereiro de 1933
Quanto mais se pensa o passado in concreto, menos sentido tem declará-lo imutável. O
que é independente do ato presente e da interpretação recriadora é certo esquema de
acontecimentos que não é mais do que abstração.
Aprofundamento do passado – leitura do passado.
Interpretação do mundo em função das técnicas, à luz das técnicas. O mundo legível,
decifrável.
Para resumir, diria que a crença num passado imóvel é devida a um erro de ótica
espiritual. Dir-se-á: o passado tomado em si mesmo não muda, o que muda é nosso modo de
considerá-lo. Porém, não é preciso aqui ser idealista e dizer que o passado não é separável da
consideração que recai sobre ele? Dir-se-á também: É um fato imutável que Pierre realizou tal
ato no momento do tempo; a interpretação deste ato somente pode mudar e ela é exterior à
realidade do ato de Pierre e de Pierre mesmo. Porém, precisamente suspeito que esta última
afirmação é falsa, sem poder absolutamente demonstrá-lo. Parece-me que a realidade de
Pierre – infinitamente transcendente do ato de Pierre – fica comprometida nesta interpretação
que renova e recria este ato. Talvez seja isto uma ideia absurda; devemos vê-lo. Porém, diria,
de bom grado, que a realidade de Pierre forma corpo de modo quase inexplicável com a
capacidade de aprofundamento que se exerce posteriormente sobre seus atos, sobre este
dado que se pretende imutável. Isto é infinitamente claro no plano supremo, na ordem
cristológica, porém, cada vez mais obscuro e incerto à medida que se descende ao
insignificante. Porém, o insignificante é somente um limite; a importância da arte novelesca em
sua máxima expressão é o mostrarmos que em rigor não existe e não pode existir.
08 de fevereiro de 1933
Minha história não me é transparente; não é minha história somente porque não me é
transparente. Neste sentido, não pode ser integrada em meu sistema e inclusive o quebra.
11 de fevereiro de 1933
Tudo isto, creio, exigiria ser elaborado. No fundo, “minha história” não é uma noção
clara. Por um lado, interpreto-me a mim mesmo como objeto de uma biografia possível. Por
outro, a partir de uma experiência íntima de mim mesmo, desmascaro a ilusão que está no
coração de toda biografia concebível, percebo toda biografia como uma ficção (isto é o que
indiquei ao final de minha nota sobre o Gogol, de Schloezer).
85
14 de fevereiro de 1933
Refletir sobre a autonomia; creio que não se pode falar legitimamente de autonomia
senão na ordem da administração e do administrável. O conhecimento – o ato ou a obra de
conhecer – pode ser assimilado a uma administração?
15 de fevereiro de 1933
Gestão de um patrimônio, de um bem. A mesma vida, assemelhada a um bem e tratada
como suscetível de ser, por sua vez, administrada. Em tudo isto há lugar para a autonomia;
porém, quanto mais nos acercamos da criação, menos se poderá falar de autonomia ou,
melhor, se poderá fazê-lo em um nível inferior, o da exploração; por exemplo: o artista que
explora sua inspiração.
Ideia de disciplinas autônomas, interpretada também em função da gestão. Ideia de
certo fundo por explorar, que comporta como um instrumento ou capital especialmente
destinado para isso. Esta ideia perde toda significação à medida que nos elevamos à noção de
pensamento filosófico. É isso: a disciplina é tratada como campo ou modo de exploração.
Relacionar isso com a noção mesma de verdade: explicitar o postulado ou o modo de
figuração latente que subentendem aquilo que creem que o espírito deve ser autônomo na
busca da verdade. Isto não me fica perfeitamente claro ainda hoje. Parece-me que se parte
sempre da dupla noção de um campo a pôr em exploração e de um equipamento que fariam tal
exploração possível. É como se se recusasse a admitir que este instrumental pode ser
completado ab extra. Ideia de um truque que, ademais, se declara impossível de realizar
efetivamente.
Inclino-me a pensar que a ideia de autonomia está unida a uma sorte de redução ou
particularização do sujeito. Quanto mais integralmente entro em ação, é menos legítimo dizer
que sou autônomo (neste sentido, o filósofo é menos autônomo que o científico e o sábio
mesmo menos autônomo que o técnico). A autonomia vinculada à existência de uma zona de
atividade rigorosamente circunscrita. Se isso é assim, toda a ética kantiana descansa sobre um
monstruoso contrassentido, uma espécie de aberração especulativa.
Minha vida, considerada na totalidade de suas implicações – supondo que poderia sê-lo
-, não me aparece como administrável (nem por mim nem por nenhum outro). E nesta medida
é como posso captá-la como insondável (cf. anotação de 08 de fevereiro passado). Entre o que
administra e o que é administrado deve existir certa adequação que aqui parece faltar. Na
86
ordem de minha vida, administração implica mutilação (mutilação por outra parte indispensável,
sob certos aspectos, porém, sob outros, sacrílega).
Por isso se está obrigado a transcender a oposição autonomia – heteronomia. Pois a
heteronomia é a administração por outro, porém, ainda assim, administração; segue-se no
mesmo plano. Nos âmbitos do amor ou da inspiração, esta distinção perde todo sentido. A
certa profundidade do eu, e em uma zona onde as especificações práticas se fundem (“fundirse” melhor que “fundar-se”), os termos autonomia e heteronomia resultam inaplicáveis.
16 de fevereiro de 1933
Ignoro, então, em tudo isto, o autêntico sentido do termo autonomia, a ideia de uma
espontaneidade racional que se cumpre com a aproximação mesma da lei? O que ocorre aqui,
em definitivo, com a ideia de uma razão que legislasse universalmente para si? Ou mais
profundamente ainda: que dignidade metafísica convém outorgar ao ato mesmo de legislar?
Na realidade, aí radica todo o problema. Estou convencido de que a legislação não é senão o
aspecto formal da administração e, por conseguinte, não a transcende. Então, tudo o que se
situa além da administração está pelo mesmo além da legislação.
A autonomia como heteronomia. Entendo por isto que, fenomenologicamente falando,
dita autonomia se refere a uma heteronomia pressuposta e rechaçada; é o “eu somente” da
criança que começa a andar e rechaça a mão que se lhe estende. “Quero fazer minhas coisas
eu mesmo”, tal é a fórmula germinal da autonomia; versa essencialmente sobre o fazer e
implica, como assinalava eu, outro dia, a ideia de certo campo de atividade circunscrito no
espaço e no tempo. Tudo o que pertence à ordem dos interesses, sejam quais forem, pode-se
tratar com relativa facilidade como uma circunscrição, como um distrito assim delimitado. Mais
ainda: posso administrar ou tratar como administrável não somente meus bens, minha fortuna,
senão tudo o que, ainda de longe, pode assimilar-se a uma fortuna ou, mais geralmente, a um
ter. Pelo contrário, na medida em que a categoria do ter chegue a ser inaplicável aqui, já não
poderei falar de administração em nenhum sentido, seja por outro seja por mim mesmo,
tampouco, portanto, de autonomia.
21 de fevereiro de 1933
Desde que nos achamos no ser, estamos além da autonomia. Eis aqui porque o
recolhimento, enquanto que é uma nova tomada de contato com o ser, translada-me a um
âmbito em que a autonomia já não é concebível e isto é igualmente certo respeito da
inspiração, de todo ato que compromete globalmente o que sou (O amor a um ser é
87
rigorosamente assimilável à inspiração sob este aspecto). Quanto mais sou, mais me afirmo
como sendo, menos me concebo como autônomo. Quanto mais chego a pensar meu ser,
menos me apresenta como pertencente à sua jurisdição própria.
35
26 de fevereiro de 1933
Supondo que uma entrada absoluta, um dom inteiramente gratuito tenha sido feito ao
homem – seja a alguns, seja a todos – no curso da história, em que sentido o filósofo está
obrigado ou simplesmente tem o direito e, inclusive, a possibilidade de fazer abstração disso?
Invocar aqui a autonomia (ou o princípio de imanência, que no fundo vem a ser o mesmo) seria
dizer: “Esta entrada constitui, no seio do manter-se dialeticamente regulado do pensamento,
um corpo estranho, um escândalo; enquanto que filósofo, ao menos, eu não posso reconhecêlo?”. Este não reconhecimento está incluído na noção mesma de filosofia? Em resumo: recusase que se possa produzir certa intrusão no sistema que se considera fechado. Porém, em
concreto, o que significa isso para mim, um filósofo? Este sistema não é meu pensamento,
transborda-o; meu pensamento está tão somente enxertado em certo desenvolvimento
indefinido, porém, com relação ao qual se considera co-extensivo pelo direito. 36
Sobre o ter
Certa unidade-sujeito ou certo quem, com funções de unidade-sujeito, converte-se em
centro de inerência ou de apreensão por relação a certo quid, que ele se refere a si mesmo ou
que tratamos como se se referisse a si mesmo. Há nisso uma relação que somente é transitiva
no plano gramatical (e ainda assim o verbo ter não se emprega quase nunca na passiva, o que
é bastante significativo) e que, sendo essencialmente afetante para a unidade-sujeito, tende a
passar a esta, a transformar-se em um estado desta unidade-sujeito, sem que esta
transmutação ou reabsorção possa efetuar-se totalmente.
Para ter, efetivamente deve-se ser em algum grau, quer dizer, ser imediatamente para
si, sentir-se como afetado, como modificado. Dependência recíproca do ser e o do ter.
Estas proposições apresentam um caráter axial para uma metafísica que tende a assinalar a certa humildade
ontológica o lugar que a maioria das filosofias tradicionais, desde Spinoza, concedeu à liberdade, ao menos na
medida em que estas implicam a pretensão no sujeito de identificar-se racionalmente a si mesmo como certa.
Pensamento imanente ao Todo. É a possibilidade de semelhante identificação o que nega radicalmente uma
metafísica como a que eu intento definir aqui (anotação de 11 de setembro de 1934).
36 Transborda-o, disse, e não é falso, porém ele é quem mais essencialmente o transcende. Aqui conviria
provavelmente fixar-se na noção “enquanto que” e eu estaria disposto a pensar que o filósofo enquanto que
filósofo, quer dizer, na medida em que opera no seio de sua própria realidade uma discriminação que o mutila,
trai-se precisamente como filósofo; pois a função dos espíritos filosoficamente mais vivos do século passado, um
Schopenhauer, um Nietzsche, consistiu precisamente em tirar à luz esta espécie de dialética em virtude da qual o
filósofo se vê necessitado a negar-se a si mesmo, como “Fachmensch”, como especialista (anotação de setembro
de 1934).
35
88
Observo que há um paralelismo rigoroso entre o fato de ter os desenhos em sua pasta
de X..., que se ensinaram a um visitante e o fato de ter as ideias sobre tal ou qual questão que
se exponham. O que se tem é, no fundo, por definição exibível. É interessante assinalar quão
difícil é substantivar este to on; to on se converte em ecomenon quando é tratado como
ostensivo. Porém, há um sentido no qual o ter consciência significa expor ante si mesmo. A
consciência, como tal, não é um ter, um modo de ter, porém, pode ser um gozo que versa
sobre algo que ela trata como um ter. Todo ato supera o ter, porém, logo pode, por sua vez, ser
tratado como um ter e isso em virtude de uma espécie de degradação. Observo que o segredo,
por oposição ao mistério, é essencialmente um ter enquanto que é expressável.
Deve-se constatar que todo ter espiritual tem sua origem em um inexpressável (minhas
ideias enraizadas no que eu sou), porém, o que caracteriza este inexpressável como tal é que
não me pertence, é essencialmente unbelonging. Há, pois, um sentido em que não me
pertenço; precisamente o sentido em que não sou absolutamente autônomo.
27 de fevereiro de 1933
Expondo o que temos, revelamos o que somos (particularmente).
A criação como libertação da inexpressável. Porém, não há filosofia onde não há criação
filosófica; não pode a filosofia, sem negar-se ou trair-se, cristalizar-se em resultados
suscetíveis de ser simplesmente assimilados ou possuídos depois.
01 de março de 1933
Não poderíamos partir do ter para definir o desejo? Desejar é possuir sem possuir nada,
ou seja, que o elemento psíquico não objetivo do ter existe já por inteiro no desejo; porém, é
precisamente esta separação de seu elemento objetivo o que explica o caráter lancinante do
desejo.
04 de março de 1933
Minha convicção mais íntima e inquebrantável – e se é herética, pior para a ortodoxia –
é que, apesar do que tem dito tantos autores espirituais e doutores, Deus não quer ser amado
por nós em contra do criado, senão glorificado através do criado e a partir dele. Esta é a razão
pela qual tantos livros de devotos se fazem insuportáveis. Este Deus que se erige contra o
criado, ciumento, em certo modo, de suas próprias obras, não é, aos meus olhos, senão um
ídolo. É uma libertação para mim o fato de ter escrito isto e declaro, até nova ordem, que serei
89
insincero cada vez que possa dar impressão de enunciar uma afirmação contrária ao que
acabo de escrever. Embaraço insuportável ontem com X... pelo fato de declarar minha aversão
por tudo o que é “confessional”. Ele não o compreendeu e o atribuiu como orgulho de minha
parte; sendo assim, que o contrário seja o certo. 37
05 de março de 1933
Deveria matizar um pouco, evidentemente, o que escrevi ontem. Corresponde ao meu
estado atual; porém, acho-me em uma fase, todavia, rudimentar.
Voltei a ouvir a Missa Solemnis, dirigida por Weingartner, com a mesma emoção que em
1918. Não há obra que se sintonize melhor com o que eu penso. É um comentário luminoso.
08 de março de 1933
A propósito de uma frase de Brahms que me perseguiu toda tarde (em um dos
Intermezzi, op. 118, senão me engano): compreendi, de repente, que há uma universalidade
que não é de ordem conceitual e nisto está a chave da ideia musical. Porém, quanto custo a
compreendê-la. A ideia não pode ser senão o fruto de certa gestação espiritual. Analogia íntima
com o ser vivo. 38
10 de março de 1933
Voltei a pensar no suicídio: no fundo, a experiência parece mostrar-nos que os homens
podem ser disposed of, got rid of. Considero-me, pois, como capaz, também eu, de ser
disposed of. Porém, aqui deveria determinar exatamente os limites nos quais esta experiência
externa da moralidade dos outros se acha realmente efetuada. Esta é, na realidade, tanto mais
complexa quando se trata de seres que nunca têm contado (existido) para mim. Pelo contrário,
o being disposed of perde cada vez mais sua significação para seres que, apesar de não ter
nunca realmente importado para mim, seguem necessariamente importando (A “noção” (?) que
O que é em todo caso absolutamente certo para mim é que toda tentativa de psicologia divina, toda pretensão
de imaginar a atitude de Deus frente a mim me inspiram uma desconfiança irreprimível. Resulta-me totalmente
impossível admitir que possamos instalar-nos de algum modo idealmente em Deus e entendo com isso o fato de
pormo-nos em seu lugar para voltarmos logo desde aí até nós mesmos. Não me ocultam as graves dificuldades
de ordem metafísica e teológica que se derivam certamente de tal impossibilidade, porém, devo confessar que o
uso que a maior parte dos teólogos fazem da ideia de analogia para sair-se de apuros parece-me prestar-se às
mais graves objeções. Minha posição sobre este ponto parece a mim mesmo exposta, frágil, profundamente
insatisfatória (anotação de 13 de setembro de 1934).
38 Isto também deveria aprofundar e elaborar. É certo que Bergson tem razão quando diz que estamos aqui em
uma ordem em que a duração se incorpora de certo modo aquilo mesmo que ela mesma prepara e conduz ao
termo. Porém, onde talvez Bergson não projetou luz suficiente é o que poderíamos chamar o aspecto estrutural
desta ordem de realidade (anotação de 13 de setembro de 1934).
37
90
traduz a expressão pertencer ao passado não é unívoca; é suscetível de uma degradação
indefinida. Não toma toda a dureza de seu sentido senão quando se trata de um instrumento
inútil que se deixa de lado, um utensílio velho). Dir-me-ás, naturalmente, que se deve
estabelecer uma distinção entre o outro como objeto, que é verdadeiramente got rid of, e todo
um conjunto de superestruturas subjetivas que meu espírito lhe assinala e que sobrevivem a
este objeto na medida em que meu mesmo espírito lhe sobrevive. Porém, como os
neohegelianos têm visto com admirável lucidez esta distinção, é, na realidade, muito precária e
suspeita. Tampouco resulta aplicável senão em extremo; perde progressivamente seu sentido
quando se trata de um ser que tenha, realmente, algo a ver com minha vida. Isto não pode
negar-se senão pretendendo que a expressão tenha a ver resulta, aqui, inaplicável e que
somente o monadismo absoluto é verdadeiro. Se não o é, e para mim é manifesto que, com
efeito, não o é, deve-se reconhecer que esta aproximação é impossível onde exista uma
intimidade efetiva. Uma intimidade: tal é realmente aqui a noção fundamental.
Porém, fica claro que eu não posso considerar-me a mim mesmo como podendo ser
disposed of senão na condição de tratar-me como um mero estranho, ou seja, deixando de
lado toda possibilidade de obsessão (tomo aqui o termo em sua acepção inglesa). Chegaria à
conclusão de que, quanto mais tenha realizado em minha intimidade efetiva e profunda comigo
mesmo tanto mais motivo haverá para ter, por suspeitosa e absurda, a representação que me
formo de mim mesmo como de um objeto com o qual me seria lícito dar definitivamente ao
entretido (Nem dizer que quando emprego obsessão invoco as consequências que pode
acarretar para mim um crime de que sou autor; não me desembaraço realmente de minha
vítima; segue-me estando presente no seio mesmo da obsessão que me infligiu crendo
suprimi-la). Dir-me-ás ainda: todo o problema consiste em saber se a vítima tem consciência
desta obsessão que ela suscita naquele que crê tê-la suprimido de seu universo. Porém, aqui
devo voltar a examinar muito de perto o mesmo problema da consciência e, em primeiro lugar,
renovar a terminologia ressequida que costumamos usar para formulá-la. É evidente que, se
adiro a certo paralelismo psicofísico, ver-me-ei tentado a declarar que onde um corpo como tal
se acha destruído, a mesma consciência fica abolida. Fica por saber que é o que se tem de
pensar de dito paralelismo.
Em meu parecer, a disposição do mundo é tal que, em certo modo, vemo-nos
expressamente convidados a crer neste paralelismo e, por conseguinte, na realidade da morte.
Porém, ao mesmo tempo, uma voz mais secreta, alguns índices mais sutis, fazem-nos
pressentir que poderia muito bem tratar-se aí de um simples decorado, decorado que haveria
de tratar e apreciar como tal. Aqui aparece a liberdade, enfrentada com estas aparências,
liberdade que à medida que se desperta, discerne nas fronteiras da experiência que sei eu que
91
cumplicidades, que promessas – alusões que, tanto uma como outras, se esclarecem e
reforçam – para uma libertação, uma aurora, ainda inimaginável.
A propósito da morte, da mortificação: compreender que, cristãmente falando, a morte
representa, a respeito da vida, um mais ou o passo a um mais, uma exaltação, e não, como se
tem acreditado, devido a um contrassentido funesto, uma mutilação, uma negação. Se fosse
verdade, Nietzsche teria toda a razão; porém, equivocou-se porque se limitou a uma noção
completamente naturalista da vida e, desde este ponto de vista, o problema não tem já sentido
algum. A vida assim entendida exclui o além, a sobrevivência; não pode ser já transcendida.
Sem data
Sobre o problema do ser.
O problema do ser tende a apresentar-se em primeiro lugar como a questão de saber
qual é a matéria última do mundo. Pesquisa que se revela por sua mesma essência
decepcionadora: a reflexão mostrará, sucessivamente, que a mesma noção de matéria é
obscura, ambígua, talvez inaplicável ao mundo em seu conjunto; porém, sobre esta matéria,
ainda supondo que seja identificável, poderia muito bem não ser o essencial. Daqui um
intervalo, uma margem entre a exigência obscura em si mesma, que deu origem ao problema,
fôra ou pudera ser resolvido; inclusive se o problema fôra ou pudera ser resolvido, a exigência
não se veria satisfeita. Esta exigência, por fim, tende a formar consciência de si mais
diretamente. Então se opera o passo à ideia de uma organização ou de uma estrutura
inteligível.
Este é um dos caminhos possíveis. Porém, há outros: reflexão sobre a ideia de
aparência, sobre o mesmo fato de que haja aparências; por outra parte, reflexão sobre o fato
da afirmação.
Há aparências que podem manifestadamente ser descobertas como tais. A miragem sob
todas as suas formas. Porém, nesta ordem não obtemos mais que retificações. A tentação será
grande, contudo, a prolongar aqui todas as linhas tratando a experiência em sua totalidade
como fainomenon.
Porém, apresentar-se-á aqui um problema criteriológico muito difícil; o mesmo que se
apresenta, por exemplo, quando se introduz a distinção entre qualidades primárias e
qualidades secundárias. A reflexão acabará por descobrir que as qualidades primárias não
estão necessariamente investidas de uma prioridade ontológica a respeito das qualidades
secundárias. Inclusive aqui vemos em ação uma exigência que experimenta uma dificuldade
radical para fazer-se transparecer a si mesma.
92
Problema da afirmação. Toda ontologia se concentra em torno ao ato de afirmar,
considerado, para dizer a verdade, não já em si como ato, senão em sua intencionalidade
específica. Por outra parte, é precisamente nesta zona onde se estabelecerá uma espécie de
vizinhança perigosa entre a ontologia e a lógica propriamente dita.
12 de março de 1933
Nunca e nem em nenhum caso pode-se apresentar a afirmação como geradora da
realidade do que afirma. A fórmula, neste caso, é: eu afirmo porque é. Esta fórmula traduz já,
por outra parte, uma primeira reflexão, porém, nesta fase o isso é aparece como situado fora
da afirmação, como anterior a ela; esta se refere a um dado. Não obstante, uma segunda
reflexão tem lugar aqui. A afirmação, ao refletir sobre si mesma, vê-se necessitada a meter-se
no terreno reservado e como que consagrado do isso é. Então me digo: porém este isso é
supõe, por sua vez, uma afirmação. Daqui uma regressão que parece não ter limite, a não ser
que se apresente a mesma afirmação como geradora. Contudo, não esgotemos demasiado
este argumento. Admitamos uma espécie de assédio previsto do eu pelo ser; pelo eu entendo
aqui o sujeito que afirma. Este sujeito não deixa de intervir o problema que propus em minhas
notas de 19 de janeiro, pois, inevitavelmente, sinto-me levado a perguntar-me qual é o estatuto
ontológico deste eu com relação ao ser que o assedia. Acha-se submetido nele ou, pelo
contrário, domina-o de algum modo? Porém, se o domina, o que é que lhe confere o domínio e
que significado tem exatamente?
14 de março de 1933
Diremos que uma reflexão mais profunda nos levará a reconhecer que a afirmação
supõe um poder de aproximação que se avançaria a ela, em certo modo, e lhe entregaria a
substância do que esta afirmação profere? É muito provável que isto seja verdade, porém, esta
verdade como abordá-la?
Cabe fazer notar, em todo caso, que este poder de aproximação é, por sua mesma
essência, transcendente com relação ao metaproblemático (cf. nota de 06 de fevereiro último).
A angústia destes dias sobrepassa toda medida. A Conferência para o desarmamento
está para expirar. Incidente em Kehl, onde reina o terror. Há momentos em que vivo com a
impressão de que a morte se verifica sobre todos, a todos os que amamos. Indo à casa de V...
esta tarde, pela rua La Condamine, tive uma espécie de iluminação, esta simples ideia: “Pensa
que o sonho se está convertendo em pesadelo e quando o pesadelo chegar ao seu paroxismo,
93
despertarás. Isso será o que tu chamas hoje a morte”. Isto me confortou. É um modo de
suportar a ideia da destruição de Paris, que me obceca.
16 de março de 1933
Os mistérios não são verdades que estão acima de nós, senão verdades que nos
abarcam. (R. P. Jouve)
31 de março de 1933
A propósito do suicídio de N., está em meu poder o reduzir-me a uma impotência
absoluta? Posso usar minha vontade para reduzir-me a um estado em que já não estarei em
condições de querer nada nem de poder nada? Presta-se a realidade esta defecção absoluta
ou que se tem por tal? O que menos se pode afirmar é que a realidade parece, em todo caso,
estar expressamente organizada para alimentar em mim esta crença na possibilidade de
semelhante ato em sua eficácia decisiva. Vejo-me estimulado por todas as aparências
concentradas ao redor de mim a crer que posso efetivamente get rid of myself. Assim se
expressa uma fenomenologia do suicídio, que consiste em examinar como o suicídio não pode
por menos aparecer-me como libertação total, porém, na qual o libertador, ao libertar-se a si
mesmo, por esse mesmo fato se suprime. Porém, fica lugar para outra forma de reflexão, que é
hiperfenomenológica: essas aparências concertadas são verídicas? Parecem coligadas para
fazer-me crer que minha liberdade aqui é radical; porém, é possível esta ação absoluta de mim
sobre mim mesmo? Se assim fosse, achar-me-ia autorizado a reivindicar para mim uma
espécie de “asseidade”, posto que eu não seguiria existindo senão graças a uma permissão
contínua que me concederia a mim mesmo. Todo o problema está em saber que espécie de
realidade é a minha em um mundo cuja estrutura é tal que tolera o que chamei uma defecção
absoluta. É evidente, em todo caso, para mim, que tal mundo exclui até a possibilidade de uma
participação no ser que funda minha realidade de sujeito. Já não sou somente algo que se
tenha produzido, something that happened to be, mas que, a este acontecimento, ao qual me
vejo reduzido, atribuo, ao mesmo tempo,
o poder mais radical sobre si. Não há uma
contradição interna? Em outros termos: eu sou minha vida; porém, posso ainda pensá-la?
11 de abril
Dou-me conta uma vez mais disso: para cada um de nós, a cada instante, o pior, o que
consideramos o pior, é possível: nenhuma garantia objetiva. Isso pode conciliar-se com a ideia
94
de um Deus e de um Deus Todo Poderoso. Agora, o fato de que o pior seja possível não prova
a debilidade infinita de Deus? Entre esta debilidade infinita e este poder infinito parece que se
opera uma união misteriosa, uma coincidência além da ordem das causas.
23 de julho
Depois de uma discussão com R.C. sobre a conexão entre o sofrimento e o pecado.
O que eu sustento é que esta conexão é não experimentável, ou seja, que não pode ser
transferida ao plano de uma experiência especificável. Em presença de alguém que sofre não
posso, em absoluto, dizer: teu sofrimento é a retribuição do pecado em particular, do que, por
outra parte, pode muito bem não ser o autor (C. haveria de intervir na herança, o qual, desde o
ponto de vista religioso, é uma aberração) Estamos aqui no insondável e há algo aqui que seria
preciso poder elucidar filosoficamente. Coisa estranha, o sofrimento não é, com efeito,
suscetível de revestir uma significação metafísica ou espiritual, senão na medida em que
implica um mistério insondável. Porém, por outra parte – e aqui está o paradoxo –, todo o
sofrimento, por sua mesma essência, é “este”, de onde pode nascer a tentação quase
irresistível de encontrar-lhe uma explicação ou uma justificação que seja, por sua vez,
determinada, especificada. Porém, isto não é possível. O problema, desde o ponto de vista
religioso, consistirá em transformar o insondável em valor positivo. Há aqui toda uma dialética
possível: dar uma explicação particular no plano da retribuição é considerar a Deus como
alguém; quer dizer, é pô-lo em um mesmo plano que o ser particular que sofre, o qual seria
incitar a este ser particular à discussão, à rebelião (Por que eu e não outro? Por que esta falta
e não aquela outra?, etc.). É óbvio que é precisamente o plano da comparação e da discussão
o que deve ser transcendido. Isto equivale, sem dúvida, a dizer que “este sofrimento” deve ser
apreendido como uma participação efetiva em um mistério universal, compreendido como
fraternidade, como laço metafísico.
Não duvidar nunca, por outra parte, que aquele que desde fora – penso em R.C. – me
faz pensar no laço entre sofrimento e meu pecado deve achar-se qualificado interiormente para
realizar tal ato. Não pode estar se não é inteiramente humilde e não se considera partícipe de
meu pecado. Talvez se requeira, inclusive, que participe em meu sofrimento. Em uma palavra:
que seja outro eu. Enquanto seja pura e simplesmente outro, não posso desempenhar este
papel, se se acha desqualificado. Passo possivelmente à aproximação filosófica de Cristo.
39
Estas observações apresentam, em meu modo de ver, grande importância no que se refere à relação metafísica
implicada ao sacerdócio, fazendo abstração, por outra parte, de toda particularidade confessional. Permitam, creio
eu, discernir o abismo que separa a atitude do sacerdote da do moralista. Tão pronto como o sacerdote tende a
converter-se em moralista, nega-se como sacerdote.
39
95
26 de julho de 1933
Ter e espacialidade. O ter se refere ao tomar, porém, parece que não há possibilidade
senão daquilo que está no espaço ou que esteja assimilado ao espacial. Examinar
detalhadamente estas duas proposições.
30 de julho de 1933
Em Rothau eu queria já fazer notar que a sede do sofrimento parece ser a zona em que
o ter desemboca no ser. Talvez não sejamos vulneráveis mais que em nossas possessões,
porém, isto é certo?
Não há muito, durante um passeio maravilhoso por Zermatt, voltava eu a pensar com
precisão na essencial mutabilidade do passado. No fundo, a ideia de que os acontecimentos se
depositam ao longo da história é uma ideia falsa. Se se olha de perto, não há sedimentação
histórica. O passado fica relacionado com certa leitura, com certo tipo de leitura. E eu sentia
precisar-se em mim a ideia de uma tensão recíproca entre o passado e o modo de atenção que
se concentra sobre ele. A ideia do “realizado de uma vez para sempre”, do “puro e
simplesmente acabado”, encobriria, se assim fosse, um verdadeiro paralogismo. Não posso por
menos pensar que isto é como o adentrar-se em um determinado caminho no qual nunca me
aventurei. Talvez há aí algo que possa esclarecer a morte com novas luzes; porém, ainda não
o vejo claro, é somente uma espécie de pressentimento. Buscar as implicações positivas de
uma crítica da ideia de depósito histórico.
13 de agosto de 1933
O conhecimento como modo de ter. Possessão de um segredo. Guardar, dispor de – e
voltamos a encontrar aqui o que escrevi sobre o ostensivo. Oposição absoluta entre o segredo
e o mistério, que, por sua mesma essência, é o que não possuo, aquilo de que não disponho.
O conhecimento como modo de ter essencialmente comunicável.
14 de agosto de 1933
Dupla permanência implicada no ter (tomo sempre como caso típico o fato de guardar
um segredo). O segredo em si é algo que resiste à duração, algo em que a duração não
entalha ou que se trata como tal; porém, ocorre o mesmo com o sujeito, com o quem, senão o
segredo se destruiria a si mesmo. É evidente que o segredo é diretamente assimilável ao
96
objeto guardado, ao conteúdo guardado em um recipiente. Penso que esta assimilação é
sempre possível desde o momento em que se trata do ter. Porém, o que é digno de notar-se é
que a análise da mesma conservação espacial remete ao espiritual, segundo anotei há tempos
atrás.
Perguntar-se até que ponto se tem um sentimento, sob que condição um sentimento
pode ser tratado como um ter; creio que unicamente sob o ponto de vista social e enquanto sou
interlocutor para comigo mesmo.
A presença: aquilo de que não disponho em nenhum grau, aquilo que não tenho.
Tentação perpétua, já de convertê-la em objeto, já de tratá-la como aspecto de mim mesmo. É
como se não estivéssemos equipados para pensá-la. Isto comporta infinidade de aplicações.
O ter mental: alguns seres estão construídos de tal modo que podem abrir mão de tal
elemento, desde que tenham tal objeto ou papel bem classificado; construíram a si mesmos à
imagem das classificações que estabeleceram em torno de si mesmos. Porém, inversamente
pode também dizer-se que estas classificações não são senão expressões tangíveis da ordem
que se tem instaurado em si mesmos. De todos os modos, a correspondência não pode ser
mais rigorosa entre isto e aquilo. Intervenção do corpo como princípio em si insondável de
perturbação. Esta ordem que instaurei em mim depende de algo de que, em última análise, não
disponho.
Quando me acho situado em condições “normais”, meu ter mental se amolda à sua
natureza do ter, porém, desde o momento em que estas condições se modificam já não sucede
assim. Para dizer a verdade, parece que estas mesmas condições dependem em algum modo
de mim e tendem, portanto, a tomar também elas figuras de ter. Porém, isto é em grande parte
uma ilusão.
15 de agosto de 1933
Volta a preocupar-me a questão de saber o que significa o fato de possuir qualidades.
Creio que o também não tem sentido senão na ordem do ter; talvez o recorrer à categoria do
ter para pensar as qualidades é um expediente, um makeshift necessário para conceber ou
persuadir-se de que se conceba a justaposição das qualidades. Sinto-me muito cansado esta
tarde, porém, creio que há aqui uma boa pista.
16 de agosto de 1933
O que quero dizer é que, desde o momento em que intervém a categoria do também, do
ademais, introduz-se por este fato e, sobretudo, o do ter. Isto seria válido, inclusive, para uma
97
qualidade única, pese o fato de que não podemos por menos figurá-la como assinalá-la... a
nada (no sentido de certo “aspecto” ideal). Sugestão que se poderia tirar daqui consequências
metafísicas importantes, sobretudo a respeito da impossibilidade de conceituar a Deus,
segundo o modo de ter, como tendo. Neste sentido, qualquer doutrina sobre os atributos
tenderia inevitavelmente a extraviar-nos; o ego sum qui sum da Escritura seria, na verdade,
ontologicamente falando, a fórmula mais adequada.
Caberia perguntar-nos aqui qual é a relação entre ter e passividade; creio que somos
passivos, que oferecemos ruptura na mesma medida em que participamos na ordem do ter.
Porém, isto não é, sem dúvida, mais que um aspecto de uma realidade mais profunda.
Não poderia conceber-se o ter como certa maneira de ser o que se é?
É evidente que todas estas reflexões, em aparência, tão abstratas, se apoiam em mim
em uma experiência estranhamente imediata da aderência ao que se possui (que é exterior
sem sê-lo). Deve-se voltar sempre ao caso típico que é a corporeidade, o fato de ter um corpo,
o ter tipo, ter absoluto. E além da corporeidade, captar minha relação com minha vida.
Significação ontológica do sacrifício da vida, do martírio; já o deixei anotado, porém, há de se
voltar a isso incessantemente. O que também entrevejo neste momento é a necessidade de
subtrair, por sua vez, a identidade aparente e a oposição real entre o martírio e o suicídio; um,
a afirmação de si40; outro, a eliminação de si.
Fundamento ontológico do ascetismo cristão. Porém, este desprendimento (pobreza,
castidade) não deve ser abstração. Tudo aquilo de que alguém se desprende tem que voltar a
recobrar-se em um plano superior. Creio que todos os textos evangélicos deveriam reler-se à
luz destas reflexões.
27 de setembro de 1933
Releio estas últimas notas. Analisar a ideia de pertença, do belonging. Meu corpo me
pertence e não me pertence. Aí está a raiz da oposição entre o suicídio e o martírio. Pôr ao
descoberto os fundamentos metafísicos de um estudo sobre os limites dentro dos quais tenho
direito a dispor de meu corpo. Seria absurdo condenar o sacrifício simplesmente pelo pretexto
de que meu corpo ou minha vida não me pertencem. Perguntar-me em que sentido, dentro de
que limites, sou dono de minha vida.
A ideia de pertença parece supor a de organicidade, pelo menos enquanto que esta se
acha implicada no fato de comportar um “dentro”. Porém, esta ideia do “dentro” não fica clara.
Se se aprofundá-la, ver-se-á, com efeito, que não é puramente espacial. O melhor exemplo
É óbvio que esta fórmula é inadequada, o que se afirma no martírio não é o si, é o ser de quem o si mantém
testemunho no ato mesmo pelo qual se renuncia e inversamente poderia dizer-se que no suicídio o si se afirma,
pelo contrário, no modo com que pretende subtrair-se à realidade (anotação de 27 de setembro de 1934).
40
98
disto é o da casa ou de tudo aquilo que pode assemelhar-se a uma casa, por exemplo, uma
gruta.
Refleti sobre isso no Jardim de Luxemburgo, onde recolhi esta fórmula: “O ter é função
de uma ordem que comporta referências ao próximo enquanto tal”. 41 Com efeito, o recôndito, o
secreto, é, ipso facto, o ostensivo. Amanhã gostaria de estudar a contrapartida disto desde o
ponto de vista do ser. Tenho, por certo, com efeito, que o ser não implica nada semelhante.
Talvez, inclusive na ordem do ser, o outro tende a dissolver-se, a negar-se.
28 de setembro de 1933
Averiguar se a distinção entre o dentro e o fora não é negada como tal pelo ser.
Conexão com o problema da aparência. Perguntar-se se quando se faz intervir a noção de
aparência não se translada alguém sem dar-se conta ao plano do ter. Quando alguém se
pergunta qual é o laço entre o ser e as aparências que apresenta, o que se busca é como
podem ser integradas nele; desde o momento em que intervém a ideia de uma integração, já
estamos no ter. O ser, ao aparecer, não pode ser nunca uma soma.
07 de outubro de 1933
Examinar de novo a categoria do ter enquanto que se acha implicada no fato para um
sujeito de ter (de comportar) predicados. Caráter não essencial da oposição entre o fato de
guardar para si e de exibir fora. O ter compreende em si a possibilidade desta alternância,
deste ritmo. Examinar a relação entre isto e o ato de consciência. A consciência não implica
também esta dupla possibilidade? Não há provavelmente diferença essencial entre o fato de ter
consciência e o de manifestar, de fazer tomar consciência aos outros. O outro já está presente
quando tenho consciência para mim mesmo e, em meu modo de ver, a expressão não resulta
possível senão graças a isso. Haveria de passar daqui ao infraconsciente e ao
supraconsciente. Podemos distingui-los? Relacionar isto com o que escrevi sobre as
implicações do que sou? (cf. nota de 12 de março).
Não se poderia dizer que somente existe problema do ter ou do que é tratado como ter?
Isto coincidiria com o que tenho exposto sobre o mistério ontológico. Na esfera do
problemático, a distinção entre o de dentro e o de fora é importante, porém, desaparece
apenas entramos no mistério.
A ligação intermediária é o fato de que a distinção do dentro e do fora implica efeitos de perspectiva que
somente são possíveis onde intervém a distinção entre o mesmo e o outro.
41
99
11 de outubro de 1933
Examinar as relações entre ter e poder. Dizer: “tenho o poder de...” significa: o poder de
constata-se entre meus atributos, meus privilégios. Porém, não é isso tudo; ter é poder porque
é, em certo sentido, dispor de. Aqui chegamos ao mais obscuro e fundamental do ter.
13 de outubro de 1933
Relacionar minhas notas dos últimos dias com o que disse não há muito tempo sobre o
funcionalizado. Uma função é, por essência, algo que se tem, porém, na medida em que minha
função me devora, converte-se em mim, substitui-se ao que sou. Distinguir entre a função e o
ato, pois o ato escapa manifestadamente à categoria do ter. Desde o momento em que há
criação, seja do grau que for, estamos no ser; isso é o que deveria chegar a fazer plenamente
inteligível. Uma das dificuldades vem de que a criação, no sentido limitado da palavra, não é
possível senão dentro de certo ter. À medida que a criação se liberta dele, acerca-se mais à
criação absoluta.
Esquema:
1º. É instrutivo observar que a maioria dos filósofos, ao longo da história, afastou-se
espontaneamente do ter. Isto se deve, sem dúvida, ao fato de que esta noção encerra em si
algo de fundamentalmente obscuro, ambíguo e até inelucidável.
2º. A partir do momento em que a atenção do filósofo se centra no ter, esta atitude não pode,
por
menos,
parecer-lhe
injustificável.
Poderia
inclusive
ocorrer
que
uma
análise
fenomenológica do ter constituísse uma introdução útil a uma análise renovada do ser. Por
análise fenomenológica entendo a análise de um conteúdo implícito de pensamento por
oposição a uma análise psicológica que versaria sobre estados.
3º. Parece:
a) Que não se pode falar de ter senão onde certo quid é atribuído a certo quid tratado
como centro de inerência e de apreensão transcendente em algum grau;
b) Que, mais rigorosamente falando, não poderíamos expressar-nos em termos de ter
senão quando nos movemos na ordem em que, de um modo ou de outro e a um grau
qualquer de transposição, a oposição entre fora e dentro conserve algum sentido;
c) Que esta ordem se revela à reflexão como se implicara essencialmente certas
referências ao outro enquanto tal.
100
4º. A ordem do ter é a mesma ordem da atribuição ou, inclusive, da caracterizável. Porém, o
problema metafísico que se apresentará aqui será o de saber em que medida uma realidade
autêntica, uma realidade enquanto tal, presta-se a ser caracterizada e se o ser não é, por
essência, incaracterizável, ficando claro, por outra parte, que o incaracterizável não é o
indeterminado.
5º Incaracterizável é também o que não pode ser possuído. Passo pela questão da presença.
Encontramos aqui de novo a diferença entre o tu e o ele. É evidente que o tu, considerado
como ele, fica submetido a um juízo característico. Porém, não é menos óbvio que o tu,
considerado como tu, apresente-se em outro plano. Examinar o louvor sob este ponto de vista.
A oposição entre o desejo e o amor constitui uma ilustração muito importante da
oposição entre o ter e o ser. Desejar é, com efeito, ter sem ter. O desejo pode ser considerado,
por sua vez, como autocêntrico e heterocêntrico (polaridade do mesmo e do outro). O amor
transcende a oposição entre o mesmo e o outro na medida em que nos estabelece no ser.
Outra aplicação essencial: diferença entre autonomia e liberdade (cf. nota de 16 de
fevereiro).
23 de outubro de 1933
Observo hoje que no conteúdo se encerra a ideia de uma ação potencial (possibilidade
de verter, de derramar, etc.). Há no conteúdo o que há no possuir, uma potência. O conteúdo
não é puramente espacial.
27 de outubro de 1933
Aprofundar mais o que fez até hoje a natureza da dependência do ser com relação ao
ter; nossas possessões nos devoram. Raízes metafísicas da necessidade de conservar. Talvez
voltemos a encontrar aqui o que escrevi sobre a alienação. O si se incorpora à coisa possuída;
mais ainda: talvez o si não se ache mais que onde há posse. Desaparição do si no interior do
ato, da criação, qualquer que seja; somente reaparece quando há um cessar na criação.
29 de outubro de 1933
Deveria desenvolver o que disse acerca do incaracterizável. Não podemos inventar um
caráter sem referi-lo a um sujeito mediante o vínculo expressado com o verbo pertencer.
Porém, isto supõe uma espécie de figuração, cuja natureza seria preciso poder determinar.
101
Achamo-nos em um plano que comporta essencialmente o uso da forma também; escolhe-se
este caráter entre muitos outros. Porém, por outra parte, não estamos em presença de uma
coleção, como pretende o fenomenismo; há sempre transcendência do quem. Entretanto, esta
transcendência não depende da atitude que eu adote frente a esse quem? Não é uma
projeção? Isto fica, todavia, pouco claro para mim mesmo; devo voltar sobre isso.
Fazer a alguém objeto de meu pensamento é afirmar-me de, certo modo, frente a ele.
Mais exatamente: o outro se acha no extremo de uma ruptura, não comunica comigo. Porém,
somente me dou conta desta ruptura, desta ausência, parando-me, delimitando-me em certo
modo a mim mesmo ou, se se prefere, imaginando-me.
30 de outubro de 1933
Eis aqui tudo o que concebo. O mundo do mesmo e do outro é o do identificável.
Enquanto eu permaneço encerrado nele, me rodeio a mim mesmo de uma zona de ausência. E
unicamente a condição de estabelecer-me nesta zona é como poderei pensar-me a mim
mesmo segundo a categoria do ter. Identificar é, com efeito, reconhecer que algo ou alguém
tem ou não tal caráter e, inversamente, tal caráter é relativo a uma identificação possível.
Tudo isto não tem sentido nem interesse senão enquanto que logramos pensar em um
além deste mundo do mesmo e do outro, um além que seria anexo ao ontológico como tal.
Aqui é onde começam as dificuldades.
O que pode ser em seguida é que a pergunta que sou? não tem um equivalente em um
plano do ter. A esta pergunta, por definição, não posso responder eu mesmo (cf. minhas notas
de março último).
102
II - ESBOÇO DE UMA FENOMENOLOGIA DO TER 42
Gostaria, em primeiro lugar, de assinalar o caráter nuclear que representa para mim a
comunicação que farei a vós. Esta encerra o gérmen de uma filosofia que, em grande parte,
limito-me a pressentir e que, sem resulta viável, outros se encarregam provavelmente de
desenvolver em suas diversas partes, sob aspectos que não posso agora prever em detalhe.
Pode ser também que alguns dos caminhos, cujo traçado quisera esboçar, terminem em uma
“rua sem saída”.
Creio que se deve indicar imediatamente como cheguei a perguntar-me acerca do ter.
Esta reflexão geral se tem elevado sobre investigações mais particulares, mais concretas e,
creio, indispensável referir-me a elas para iniciar. Devo desculpar-me por citar-me a mim
mesmo, porém, é o meio mais sensível para que possais fazer uma ideia das preocupações
que têm dado lugar às investigações, tão abstratas em aparência, cujo sentido geral os indico
em um sumário que enviarei.
No Journal Métaphysique apresentei já o problema seguinte, que à primeira vista parece
ser de ordem psicológica: Como é possível – perguntava-me – identificar um sentimento que se
experimenta pela primeira vez? A experiência mostra que esta identificação não resulta fácil (o
amor pode revestir formas desconcertantes, que impedem aquele que o experimenta de
suspeitar sua verdadeira natureza). Eu constatava que esta identificação é tanto mais
realizável quanto mais assimilável seja o sentimento a algo que tenho, como quando digo que
tenho um resfriado ou sarampo; deixa-se, então, cercar, definir, intelectualizar. Deste modo
posso formar dele uma espécie de ideia e confrontá-la com a noção prévia que eu poderia ter
deste sentimento em geral (naturalmente estou esquematizando este momento, porém, não
importa). Pelo contrário, dizia eu, quanto menos localizável seja este sentimento e, portanto,
menos discernível seja, tanto menos poderei reconhecê-lo. Porém, não existe, precisamente,
por oposição a estes sentimentos que tenho, uma espécie de trama afetiva que é de tal
maneira consubstancial com o que sou que não posso opor-me realmente (e por conseguinte
pensá-la)? Desse modo é como cheguei a entrever, senão uma distinção clara, pelo menos
uma espécie de gama de matizes, uma degradação insensível entre um sentimento que tenho
e um sentimento que sou. Daqui a nota tomada de 16 de março de 1923: “No fundo, tudo se
reduz à distinção entre o que se tem e o que se é. Porém, é extraordinariamente difícil
expressá-lo em forma conceitual e, contudo, tem que poder fazer-se. O que alguém tem
apresenta evidentemente certa exterioridade a respeito de si mesmo. Esta exterioridade não é,
contudo, absoluta. Em principio, o que se tem são coisas (ou algo que pode assimilar às coisas
e precisamente na medida em que esta assimilação seja possível). Não posso ter, no sentido
42
Comunicação feita em novembro de 1933 à Sociedade Filosófica de Lyon.
103
estrito da palavra, mais que algo que possua uma existência até certo ponto independente de
mim. Em outros termos: o que tenho se acrescenta a mim; mais ainda: o fato de ser possuída
por mim se acrescenta a outras propriedades, qualidades, etc., pertencentes à coisa que tenho.
Não tenho senão aquilo de que posso, em certo modo e sob certos limites, dispor; ou seja, dito
de outro modo, enquanto que posso ser considerado como uma potência, como um ser dotado
de poderes. Não há transmissão possível senão daquilo que se possui”. E daqui passava à
questão tão obscura de saber se há efetivamente algo intransmissível na realidade e de que
maneira pode ser concebido.
Há aqui, pois, uma rota de investigação, porém, não a única. Não posso, por exemplo,
concentrar minha atenção sobre o que é meu corpo, propriamente falando – por oposição ao
corpo objeto de que se ocupa o fisiólogo -, sem encontrar esta noção quase impenetrável do
ter. E, contudo, posso dizer, com rigor, que meu corpo é algo que possuo? E, em primeiro
lugar, meu corpo, como tal, é, acaso, uma coisa? Se o trato como uma coisa, que sou eu que
assim o trato? “Afinal – escrevia eu no Journal Métaphysique (p. 252) –, chega-se à fórmula
seguinte: meu corpo é (um objeto), eu não sou nada. O idealismo poderia recorrer à declaração
de que eu sou o ato que afirma a realidade objetiva de meu corpo. não é isto um malabarismo?
– acrescentava eu. Temo que sim. Entre este idealismo e o materialismo puro não há mais
uma diferença em certo modo evanescente”. Porém, poderíamos penetrar muito mais longe e
mostrar em particular as consequências deste modo de representação ou de figuração a
respeito da atitude frente à morte, ao suicídio.
Matar-se não é dispor de seu corpo (ou de sua vida) como de algo que se tem, como de
uma coisa? Não é isto admitir implicitamente que alguém se pertence a si mesmo? Porém, que
enigmas quase impenetráveis surgem! O que é este si mesmo? O que é esta misteriosa
relação entre si e alguém mesmo? Não é óbvio que no ser que se nega a matar-se, porque não
se reconhece este direito, visto que não se pertence, a relação é completamente distinta? Não
percebemos, sob uma diferença de fórmulas em aparências depreciáveis, uma espécie de
abismo impossível de atravessar e que somente se pode explorar passo a passo? Limitar-meei a assinalar esses dois pontos de referência – haveria outros muitos; passemos a encontrálos, ao menos alguns deles.
Impõe-se, pois, uma análise. Porém, devo adiantar que esta análise não será uma
redução. Mostrar-nos-á, pelo contrário, que nos achamos em presença de um dado opaco, que
talvez não podemos sequer cercar totalmente. Porém, o reconhecimento de um irredutível
constitui já, no plano filosófico, um passo extremamente importante e que pode, inclusive,
transformar, de algum modo, a consciência que o efetua.
104
Não podemos de fato pensar este irredutível sem pensar em um além, no qual não
desaparece, e opino que a dupla existência deste irredutível e deste além tendem,
precisamente, a definir a condição metafísica do homem.
Deve-se iniciar por assinalar essa espécie de desconfiança implícita que os filósofos
parecem ter manifestado sempre até a noção de ter (digo noção, porém, deve-se perguntar se
o termo convém, pois, na verdade, eu estou persuadido do contrário). Dir-se-ia que os filósofos
se têm afastado em geral do ter como de uma ideia impura e, por essência, imprecisável.
Certamente deve-se assinalar a ambiguidade essencial do ter, porém, não creio que
possa alguém agora dispensar-me de proceder à investigação que hoje lanço. Esta se achava
já a caminho quanto tive conhecimento do livro de Gunter Stern Über das Haben (publicado em
Bonn por Fr. Cohen, em 1928). Limitar-me-ei a citar as linhas seguintes: “Temos um corpo.
Temos... Na linguagem corrente sabemos perfeitamente o que isto significa; contudo, ninguém
intentou fixar sua atenção sobre o que na vida corrente se entende por ter como algo complexo
e perguntar-se o que é que constitui especificamente o ter como tal”. Stern observa
atinadamente que quando digo tenho um corpo não quero somente dizer tenho consciência de
meu corpo; porém, há algo que se pode chamar meu corpo. Parece que há um termo médio,
um terceiro reino. A continuação empreende uma análise totalmente colorida pela terminologia
husserliana, a qual seguirei menos, visto que os resultados de sua investigação, segundo
declarou ele mesmo, já não lhe satisfazia. Deve-se proceder aqui, opino eu, a uma elucidação
mais direta possível e guardar-se de recorrer à terminologia, tão intransferível, dos
fenomenólogos alemães. Talvez me perguntem por que em tais condições usei eu mesmo o
termo da fenomenologia. Responderei que se deve assinalar o mais realmente possível o que
tal investigação encerra de não psicológico; versa, com efeito, sobre conteúdos de pensamento
que tenho que fazer emergir, aflorar à luz da reflexão.
Quisera arrancar de exemplos mais claros possíveis, nos quais o ter se acha tomado
manifestadamente em um sentido preciso e forte; há outros casos nos quais este sentido,
digamos mais exatamente, este acento, atenua-se quase até desvanecer-se. Estes casos
extremos podem e devem deixar-se de lado (ter dor de cabeça, ter necessidade, etc.; a
supressão do artigo constitui aqui um índice revelador). Porém, entre os casos do primeiro tipo,
quer dizer, os casos significativos, parece que podem distinguir-se duas formas, ainda que
precisemos perguntar-nos logo sobre suas relações. É obvio que o ter-possessão pode
apresentar modalidades muito diferentes e como que hierarquizadas. Contudo, o índice
possessivo se acha tão marcado quando digo tenho uma bicicleta como quando afirmo tenho
minhas ideias sobre isso ou inclusive – o que, contudo, nos leva por um caminho diferente –
tenho tempo para fazer tal ou qual coisa. Deixemos de lado, no momento, o ter-implicação. Em
todo ter-possessão parece que há certo conteúdo; o termo é, inclusive, demasiado preciso; eu
105
diria um quid referido a um qui, tratado como centro de inerência ou de apreensão. Abstenhome expressamente de empregar o termo de sujeito à causa da significação, já lógica, já
epistemológica, que está ligada a este termo. Aqui, ao contrário, e isso é a principal dificuldade,
devemos procurar abrir caminhos em um terreno que não é nem o da lógica nem o da teoria do
conhecimento.
Notemos que este qui se vê apresentado, de repente, como transcendente em algum
grau com relação ao quid; entendo por transcendente o simples fato de que haja entre um e
outro uma diferença de plano ou de nível, sem pronunciar-me de alguma maneira sobre a
natureza desta diferença. Esta é tão aparente quando digo tenho uma bicicleta ou Paulo tem
uma bicicleta como quando digo Jacques tem sobre isso ideias originais.
Tudo isto é muito simples; porém, a situação se complica se se pensa que toda
afirmação que versa sobre um ter parece achar-se construída, de certo modo, segundo o
modelo de uma espécie de posição protótipo na qual o qui sou eu mesmo. Parece como se o
ter não se sentisse em todo seu vigor e não tomasse todo seu valor senão no interior do tenho.
O tu tens e o ele tem somente parecem possíveis em virtude de uma espécie de transferência
que, por outra parte, não pode nunca efetuar-se sem certa perda.
Isso se ilustra de algum modo se se pensa na relação que une manifestadamente o ter
ao poder, pelo menos nos casos em que a possessão é efetiva e literal. O poder é algo que eu
experimento exercendo-o ou resistindo-o, o que, no fim, vem a ser o mesmo.
Aqui se me objetará talvez que o ter tende a reduzir-se ao fato de conter. Porém, ainda
admitindo que assim fosse, conviria fazer notar, e isto é capital, que o mesmo conteúdo não
pode definir-se em termos de pura espacialidade. Parece-me que implica sempre a ideia de
uma potencialidade; conter é encerrar; porém, encerrar é impedir, é resistir, é opor-se a algo
que se derrame, que se escape, etc. Creio, pois, que a objeção, se o é de verdade, volve-se na
realidade contra o que tenho formulado.
Vemos, então, transparecer-se no interior do ter uma espécie de dinamismo inibido e é
indubitavelmente esta inibição a que mais importa. Deste modo se explica o que chamei a
transcendência do qui. É significativo o fato de que a relação incorporada no ter se revela
gramaticalmente intransitiva; o verbo de possessão não se emprega na forma passiva, senão
de modo muito excepcional; tudo ocorre como se estivéssemos em presença de uma espécie
de processo irreversível que vai do qui ao quid. E acrescento que não se trata simplesmente de
um passo próprio do sujeito que reflete sobre o ter; não, este processo aparece como efetuado
pelo mesmo qui, como interior ao qui. Aqui convém pararmos um momento, pois chegamos ao
ponto central.
106
Não podemos expressar-nos em termos de ter senão ali onde nos movemos em
presença de uma ordem, na qual, de qualquer modo e em qualquer grau de transposição que
seja, a oposição entre o interior e o exterior conserva seu sentido.
Isto se aplica totalmente ao ter-implicação, do que temos que dizer algo agora. É obvio
que quando digo tal corpo tem propriedade se me apresenta como interior ou como radicado
no interior do corpo que caracteriza. Faço notar, por outra parte, que não podemos pensar aqui
a implicação sem a potência, por mais obscura que seja esta noção; não creio que possamos
evitar o representar-nos a propriedade ou o caráter como especificadores de certa eficácia, de
certa energia essencial. Porém, ainda não temos chegado ao término de nossa investigação.
A reflexão, com efeito, põe aqui manifestadamente a existência de uma espécie de
dialética da interioridade. Ter pode certamente significar, e em princípio significa, ter como
próprio, guardar para si, dissimular. Aqui o exemplo mais interessante, mais típico, é ter um
segredo. Porém, encontramo-nos em seguida com o que indiquei acerca do conteúdo. Este
segredo não é um segredo senão porque eu o guardo, porém, também, e ao mesmo tempo,
porque poderia comunicá-lo. Esta possibilidade de traição ou de descobrimento lhe é inerente e
contribui a defini-lo como secreto. Isto não ocorre somente com o segredo, mas também que
se verifica sempre que estamos em presença do ter em sua acepção mais forte.
A característica do ter é ostensiva. Há um paralelismo rigoroso entre o fato de possuir
tratando-se dos desenhos de X que se mostram a um visitante e o fato de possuir quando se
trata das opiniões sobre tal ou qual tema.
Esta exposição pode, ademais, produzir-se ou desenvolver-se ante outros ou ante si
mesmo e, coisa curiosa, esta diferença se revela à análise desprovida de toda significação. Ao
expor-me a mim mesmo as minhas ideias, eu mesmo me transformo no outro, sou uma
espécie de outro. E suponho que aí se encontra o fundamento metafísico da possibilidade da
expressão. Não posso expressar senão na medida em que posso transformar-me em outro
ante mim mesmo.
Aqui percebemos que se verifica o passo da primeira fórmula à segunda: somente
podemos expressar-nos nos termos do ter em uma ordem que comporte referências a outro
enquanto outro. Não há contradição alguma entre esta fórmula e o que disse antes sobre o
tenho. Porque o tenho não pode apresentar-se como tal senão em sua tensão com outro,
sentido como outro.
Ao considerar-me a mim mesmo como possuindo em mim ou, mais exatamente,
possuindo para mim certos caracteres, certos privilégios, considero-me desde o ponto de vista
do outro, a quem não me oponho senão à condição de fazer-me identificado primeiro a ele
implicitamente. Quando digo, por exemplo, tenho minhas ideias sobre tal coisa, subentendo:
minhas ideias, que não são as de todo o mundo; estas ideias de todo o mundo não posso
107
descartá-las, rechaçá-las senão na condição de tê-las, antes, por um instante e ficticiamente,
assimilado e feito minhas.
O ter se situa, pois, não já no registro de pura interioridade, o qual não teria sentido
algum, mas em um registro em que a exterioridade e a interioridade não se deixam separar
realmente mais do que o fariam, por exemplo, o grave e o agudo, tratando-se de sons. E aqui
creio que o que importa é precisamente a tensão entre uma e outra.
Temos que retomar agora o ter-possessão propriamente dito. Tomemos o caso mais
simples: a posse de um objeto qualquer, por exemplo, uma casa ou um quadro. Desde certo
ponto de vista, diremos que este objeto é exterior com relação a quem o possui; é distinto dele
no espaço e seus destinos são também distintos. Contudo, tal modo de ver é superficial.
Quanto mais se carregue o acento do ter sobre a posse, menos legítimo será insistir (quisera
encontrar um termo que corresponda ao betonen alemão) nesta exterioridade. É
absolutamente certo que há um vínculo entre o qui o quid e que este vínculo não é uma
simples conjunção externa. Por outra parte, por ser este quid uma coisa, submetida
consequentemente às vicissitudes das coisas, pode perder-se, destruir-se. Transforma-se,
portanto, ou pode transformar-se, em uma espécie de redemoinho de temores, de ansiedade e
aí se manifesta precisamente a tensão, que é essencial à ordem do ter.
Dir-se-me-ás que o fato pode muito bem ficar indiferente frente as vicissitudes de tal ou
qual objeto que possuo; porém, direi que esta posse somente é tal nominalmente ou inclusive
residualmente.
Pelo contrário, é muito importante notar que o ter existe, no sentido mais profundo, no
desejo ou na condição. Desejar é, de certo modo, ter sem ter e, assim, se expressa esta
espécie de sofrimento, de pungente, que é própria do desejo e que, no fundo, é a expressão de
uma sorte de contradição, de fricção, no interior de uma situação insustentável. A simetria é,
pois, absoluta entre a condição e a angústia que experimento ante a ideia de que perderei o
que possuo, o que crio possuir, o que já não possuo. Porém, se é assim, dir-se-me-ás, coisa
que já havíamos decifrado antes, que o ter depende, em certo modo, do tempo. Também aqui
vamos encontrar com uma espécie de polaridade misteriosa.
Há, sem dúvida, no ter uma dupla permanência: permanência do qui e permanência do
quid; porém, esta se acha, por essência, ameaçada; quer subsistir, ou pelo menos o quisera, e
se escapa a si mesma. E esta ameaça é tomada do outro enquanto outro, o outro que pode ser
o mundo em si e frente ao qual me sinto tão dolorosamente eu: fixo fortemente esta coisa que
talvez me vá a ser arrebatada, tendo desesperadamente por incorporá-la, por formar com ela
um complexo único, indecomponível. Desesperadamente em vão...
108
E assim nos vemos insinuados até a questão do corpo, até a corporeidade. O primeiro
objeto, o objeto-tipo com o qual me identifico e ainda assim se me escapa, é meu corpo; este
parece ser como o reduto mais secreto, mais profundo, do ter. O corpo é o ter-tipo. E contudo...
Porém, antes de seguir adiante, voltemo-nos uma vez mais até o ter-implicação. Aqui
parece que todos os caracteres que acabo de ilustrar desaparecem. Transportemo-nos a um
dos extremos dessa espécie de escala que vai do abstrato ao concreto: tal figura geométrica
tem tal propriedade. Confesso que me é impossível descobrir aqui, a não ser que abramos mão
de verdadeiros sofismas, nada que se pareça a esta tensão do exterior ao interior e a essa
polaridade do mesmo e do outro. Caberia, pois, perguntar-se se, ao transladar o ter ao seio
mesmo das essências – o que acabo de dizer da figura geométrica me parece também
aplicável ao corpo ou à espécie vivente que apresenta, que possui tais caracteres –, não
efetuamos uma espécie de transferência inconsciente e, em última análise, injustificável. Há
aqui, por outra parte, um ponto no qual não insistirei no momento e que me parece de interesse
secundário. Penso, pelo contrário, que a posição de meu corpo como ter-tipo assinala um
momento essencial da reflexão metafísica.
O ter como tal influi essencialmente no qui; nunca, a não ser de um modo puramente
abstrato e ideal, reduz-se a algo do qual o qui pode dispor. Há sempre como reação uma
espécie de choque e, em nenhum caso, é isto tão claro como quando se trata de meu corpo ou
de algum instrumento que o prolonga ou multiplica suas capacidades. Há, talvez, aí algo
análogo à dialética do senhor e do escravo, tal como definiu Hegel na Fenomenologia do
Espírito e esta dialética tem seu princípio na tensão, sem a qual não existe nem pode existir um
ter-real.
Achamo-nos aqui no mesmíssimo centro do mundo cotidiano, do mundo da experiência
corrente, com seus perigos, suas angústias, suas técnicas. Achamo-nos no coração da
experiência, porém, também no coração do ininteligível. Contudo, deve-se reconhecer que esta
tensão, esta espécie de reciprocidade fatal, pode, em qualquer momento, transformar nossa
vida em uma espécie de escravidão incompreensível e intolerável.
Antes de seguir adiante, resumamos uma vez mais esta situação:
Normalmente ou, se se quer, usualmente acho-me situado frente a coisas, algumas das
quais guardam comigo relações de uma natureza especial e misteriosa. Estas coisas não me
são simplesmente exteriores; é como se entre elas e eu houvesse uma comunicação por
dentro. Alcançam-me, por assim dizer, subterraneamente e, na medida exata em que me
apego a elas, é evidente que exerçam sobre mim um poder que este mesmo apego lhes
confere e acrescenta. Entre estas coisas há uma em particular, a primeira de todas, que goza a
este respeito de uma prioridade absoluta sobre as demais: meu corpo. A tirania que exerce
sobre mim depende não completamente, porém, em proporção considerável, do apego que lhe
109
tenho. Porém, por mais paradoxal que esta situação seja, finalmente aparece como se eu
mesmo me aniquilasse; aparece como se literalmente meu corpo me devorasse e o mesmo
ocorre com todas as possessões que, de alguma maneira, acham-se como suspensas ou
coligadas a ele. De modo que – e isto constitui uma visão nova para nós – finalmente o ter
como tal parece tender àquele mesmo que acredita, em princípio, dispor dela. Parece ser
próprio da essência de meu corpo ou de meus instrumentos, tratados como posse, o tender a
suprimir-me a mim que os possuo.
A reflexão me mostra, contudo, que esta espécie de dialética não é possível senão a
partir de um ato de defecção que a condiciona. Esta observação nos deixa entrever o acesso a
um campo novo.
Porém, quantas dificuldades, quantas objeções possíveis! Não poderia dizer-me isso em
particular: “Enquanto tu tratas ao instrumento como instrumento, não terá sobre ti poder algum,
és tu quem dispõe dele, sem reciprocidade alguma”? Isto é a pura verdade, porém,
precisamente entre possuir uma coisa e dispor dela, ou usar dela, há uma margem, um
intervalo, que ao pensamento lhe custa avaliar; nesta margem, neste intervalo, é precisamente
onde reside o perigo que nos ocupa. Splenger, no valioso livro que acaba de publicar sobre os
Annés Décisives e sobre a situação do mundo presente, assinala a distinção ao qual aludo
aqui. A propósito dos pacotes de ações ou de cotas da sociedade, assinala a separação entre
o puro ter (das blosse Haben) e o trabalho de direção responsável que incumbe ao chefe da
empresa. Insiste também na oposição que existe entre o dinheiro enquanto abstrato, enquanto
massa (Wertmenge) e a posse real (Besitz), a uma terra, por exemplo. Há aqui algo que ilustra
literalmente a ideia difícil que quisera ilustrar neste momento. Disse, há um instante, que
nossas posses nos devoram; isso é tanto mais exato, coisa estranha, quanto mais inertes nos
fixamos frente a objetos em si inertes e tanto mais falso quanto mais vitalmente e mais
ativamente ligados estejamos a algo que seria como a matéria mesma, a matéria
perpetuamente renovada de uma criação pessoal (seja o jardim que se cultiva, a granja que se
explora, o piano ou o violino do músico, o laboratório do sábio). Em todos estes casos, o ter
tende, poderíamos dizer, não a aniquilar-se, senão a sublimar-se, a transformar-se em ser.
Ali onde há criação pura, o ter, como tal, vê-se transcendido ou até volatilizado no seio
desta mesma criação; a dualidade do possuidor e do possuído fica abolida em uma realidade
viva. Isto deveria ilustrar o mais concretamente possível e não somente com exemplos
tomados da categoria das posses materiais. Penso em particular nas pseudoposses, que são
minhas ideias, minhas opiniões. Aqui também o termo ter reveste um valor positivo e
ameaçador. Quanto mais trate minhas próprias ideias ou, inclusive, minhas próprias convicções
como algo que me pertence – e do qual, por este mero fato, orgulho-me, inconscientemente
talvez, como se orgulha alguém de um invento -, tanto mais estas opiniões e estas ideias
110
tenderiam, por sua mesma inércia (ou, o que é igual, por minha inércia frente a elas) a exerce
sobre mim um ascendente tirânico; aí está o princípio do fanatismo em todas suas formas. O
que aqui se verifica, como também em outros casos, é, o que parece, uma espécie de
alienação injustificável do sujeito (vejo-me constrangido a empregar aqui este termo) frente à
coisa, seja qual for. Aí está, em meu modo de ver, a diferença entre o ideólogo, por um lado, e
o pensador e o artista, por outro. O ideólogo é um dos tipos humanos mais temíveis, porque se
converte a si mesmo, inconscientemente, em escravo de uma parte modificado de si mesmo e
esta escravidão tende, inevitavelmente, a converter-se em tirania no exterior. Há aí, ademais,
uma conexão que, por si somente, mereceria um detido exame. O pensador, ao contrário, está
perpetuamente em guarda contra esta alienação, esta petrificação possível de seu
pensamento; permanece em um perpétuo estado de criatividade, todo seu pensar se acha
sempre e em todo momento submetido a exame.
Isso ilustrará, creio eu, o que me resta por dizer: quem se estabelece no plano do ter (ou
do desejo) se centra sobre si mesmo, sobre o outro como outro - o que vem a ser o mesmo – e
sobre a causa da tensão, da polaridade, sobre as quais insisti a um momento. Isso deveria
aprofundar muito mais do que posso fazê-lo neste momento, deveria apressar a noção de si,
de si mesmo e reconhecer que sempre, contrariamente ao que têm acreditado muitos idealistas
e em particular os filósofos da consciência, o si é um espaçamento, uma esclerose e, até quem
sabe, uma espécie de expressão aparentemente espiritualizada, expressão à segunda
potência, não do corpo, em sentido objetivo, senão de meu corpo enquanto meu, enquanto que
é algo que possuo. O desejo é, por sua vez, autocêntrico e heterocêntrico; digamos que se
apresenta a si mesmo como heterocêntrico enquanto que é autocêntrico, porém esta aparência
é também uma realidade. Mas sabemos muito bem que este plano do si e do outro pode ser
transcendido: e é no amor e na caridade. O amor gravita em torno a certa posição que não é
nem do si nem do outro enquanto outro; é o que eu tenho chamado de tu. Confesso que seria
preferível, se fosse possível, encontrar uma designação mais filosófica, porém, ao mesmo
tempo, creio que a linguagem abstrata poderia aqui trair-me e fazer-nos recair na ordem do
outro, quer dizer, do ele.
O amor, enquanto distinto do desejo, oposto ao desejo, subordinação de si a uma
realidade superior – esta realidade que no fundo de mim mesmo é eu mesmo mais que eu
mesmo -, enquanto ruptura da tensão que enlaça o mesmo ao outro, é, em meu modo de ver, o
que poderíamos chamar de dado ontológico central; e creio, diga-se de passagem, que a
ontologia não nos livrará dos estigmas escolásticos senão na condição de tomar plenamente
consciência desta prioridade absoluta.
Por aí, creio eu, é por onde se pode entrever o que há de se entender por
incaracterizável; disse que na base de figurarmos as coisas como sujeitos dotados de
111
predicados ou de caracteres haveria, sem dúvida, uma transferência. Parece-me evidente que
a distinção entre a coisa e suas características não pode ter nenhum alcance metafísico;
digamos, se se prefere, que é puramente fenomênica. Observemos, por outra parte, que os
caracteres não podem ser afirmados senão em uma ordem que comporte o uso da forma
também; o caráter é escolhido entre muitos outros, e ao mesmo tempo, não se pode dizer que
a coisa seja uma coleção de caracteres. Esses não são justaposicionáveis; os justapomos na
medida em que fazemos abstração de sua superficialidade e os tratamos como unidades,
como entidades homogêneas; porém, aqui há uma ficção que não resiste ao exame. Posso,
com rigor, tratar uma maçã, uma bola, uma chave, uma corda, como objetos da mesma
natureza, ou seja, como unidades adicionais. Porém, não ocorre, de nenhum modo, o mesmo
com o odor de uma flor e sua cor, com a consistência de um manjar e seu sabor, sua
digestibilidade, etc. Enquanto a caracterização consista em uma enumeração de propriedades
que se colocam umas ao lado das outras, não deixa de ser uma operação absolutamente
exterior, enganosa e que, em todo caso, não nos permite, de modo algum, penetrar no interior
da realidade que pretendemos caracterizar. Contudo, filosoficamente falando, o que importa é
reconhecer que a caracterização implica certa posição de mim mesmo frente ao outro e, eu
diria, uma espécie de ausência radical ou de ruptura entre os dois. Esta ausência a crio eu
mesmo pelo fato de parar-me eu também implicitamente, de cercar-me, de tratar-me, sem darme conta certamente como uma coisa presa em seus contornos. Somente em relação a esta
coisa implicitamente definida é que se pode apresentar-se o que pretendo caracterizar.
Certamente, a vontade de caracterização implica, naquele que a leva a cabo, uma
crença, por sua vez sincera e ilusória, na possibilidade de fazer abstração de si enquanto si. A
ideia leibniziana da característica universal mostra até onde pode chegar esta pretensão.
Contudo, inclino-me a crer que se duvida do insustentável, metafisicamente falando, da posse
de um pensamento, que crê poder colocar-se frente às coisas para captá-las; um sistema de
localização é certamente possível, sistema de uma complexidade crescente e até infinita,
porém, condenado a deixar escapar o essencial.
Dizer que a realidade é, talvez, incaracterizável é, certamente, enunciar uma fórmula
ambígua, contraditória em aparência e que devemos guardar-nos bem de interpretar segundo
os princípios do agnosticismo corrente. Isto quer dizer: se adoto frente à realidade a atitude que
leva consigo qualquer esforço para caracterizá-la, cesso, por este mesmo fato, de apreendê-la
como realidade, ela se subtrai à minha intenção; já não me acho senão frente a um fantasma.
Fantasma cuja coerência inevitável me engana, preenche-me de satisfação e de orgulho;
sendo assim, deveria melhor inspirar-me sobre a mesma validez de minha empresa.
Caracterizar é certo modo de possuir, de pretender possuir o impossuível; é constituir
uma pequena efígie abstrata, um modelo, no sentido dos físicos ingleses, de uma realidade
112
que não se presta a estes jogos, a estas simulações falazes, senão do modo mais superficial; e
se presta a eles na medida em que nos subtraímos a esta realidade, ou seja, na medida em
que nos traímos a nós mesmos.
Creio, pois, que quanto mais nos elevamos à realidade, quanto mais acedemos a ela,
tanto mais cessa esta de ser assimilável a um objeto colocado ante nós, o qual pesquiso e, ao
mesmo tempo, tanto mais nos transformamos efetivamente a nós mesmos. Se, como creio eu,
há uma dialética ascendente, em um sentido que não é tão essencialmente diferente como
poderia crer-se da acepção platônica, esta dialética é dupla, versa, por sua vez, sobre a
realidade e sobre o ser que a apreende. Não podemos aprofundar aqui a natureza desta
dialética. Limitar-me-ei a indicar a orientação completamente nova que daria uma filosofia
semelhante à doutrina dos atributos divinos, por exemplo. Confesso que, para mim, pelo
menos, os atributos de Deus são exatamente os que alguns pós kantianos têm chamado
Grenzbegriff. Se o Ser é tanto mais incaracterizável (quer dizer, tanto mais impossuível, tanto
mais transcendente de todas as maneiras), quanto mais o Ser é, os atributos não fariam mais
que expressar, que traduzir em uma linguagem, precisamente muito inadequada, o fato de que
o Ser absoluto é integralmente refratário a determinações que somente versam sobre um
Menos-ser, sobre um objeto ante o qual nos situamos, reduzindo-nos, em certo modo, à sua
medida e reduzindo-lhe à nossa. Deus não pode dar-se-me como Presença absoluta mais que
na adoração; qualquer ideia que me forme Dele não será mais que uma expressão abstrata,
uma intelectualização desta presença e isso não devo duvidar nunca quando intento manipular
estas ideias, pois, senão estas acabariam por desnaturalizar-se entre minhas mãos sacrílegas.
Chegamos, finalmente, à distinção, para mim essencial, em torno da qual gravita o
ensaio sobre o Mistério Ontológico, que publicarei dentro de alguns dias: a distinção entre
problema e mistério, que se acha, ademais, insinuada nas reflexões que acabo de expor.
Permitir-me-ei ler aqui umas linhas da conferência que pronunciei o ano passado ante a
Sociedade Filosófica de Marsella e que será publicado dentro de alguns dias como
complemento de um estudo: Le monde casse:
Refletindo sobre o que comumente se considera como problemas ontológicos (Existe o
ser? Que é o ser?, etc.) cheguei a observar que não posso me pôr a refletir sobre esses
problemas sem perceber que se abre aos meus pés um novo abismo: eu, que me ponho a
perscrutar o ser, posso estar seguro de que eu sou? Que títulos tenho eu para fazer tais
investigações? Se eu não sou, como posso esperar vê-las concluir? Ainda admitindo que eu
seja, como posso estar seguro de que sou? Contrariamente à ideia, que se apresenta em
seguida ao nosso espírito, não creio que o cogito possa ser-nos aqui de utilidade alguma. O
cogito, escrevi em outra parte, situa-se no umbral do válido e isso é tudo; o sujeito do cogito é o
sujeito epistemológico. O cartesianismo implica uma dissociação, talvez ruidosa, em si mesma,
113
do intelectual e do vital, da qual resulta uma depreciação de um e exaltação de outro,
igualmente arbitrárias; há aqui um ritmo fatal que conhecemos muito bem e cuja explicação
estamos obrigados a buscar. E certamente não há porque negar que seja legítimo operar
distinções de nível no seio da unidade de um ser vivo que pensa e se esforça por pensar-se;
porém, o problema ontológico não se apresenta senão além dessas distinções e para este ser
tomado em sua unidade, em seu impulso.
Por aí nos vemos induzidos a interrogar-nos sobre as condições encerradas na ideia de
problema, a qual se deve resolver. Onde há problema, trabalho sobre dados que se acham
ante mim, porém, ao mesmo tempo, tudo ocorre, tudo me autoriza a proceder como se não
tivesse que preocupar-me deste eu em ação; este é aqui um simples pressuposto. Porém, não
sucede o mesmo, como acabamos de ver, quando a interrogação versa sobre o ser. Aqui a
condição ontológica do que apresenta a pergunta vem em primeiro lugar. Dir-se-me-ás que,
então, embarco-me em uma regressão sem fim? Responderei que, pelo mero fato de conceber
assim esta regressão, elevo-me acima dela, reconheço que todo este processo reflexivo fica
dentro de certa afirmação, segundo a qual sou, em vez de proferi-la, uma afirmação da qual
sou sede, mais que sujeito. Por aí penetramos no metaproblemático; quer dizer: no mistério.
Um mistério é um problema que se intromete em seus próprios dados, que os invade e, por
isso mesmo, se eleva por cima de sua condição de problema.
Não podemos entrar aqui nas explicações, que seriam, não obstante, indispensáveis.
Limitar-me-ei a dar um exemplo para fixar as ideias: o mistério do mal. Estou naturalmente
inclinado a considerar o mal como uma desordem que contemplo e cujas causas ou sua razão
de ser ou, inclusive, sua finalidade oculta intento decifrar. Como é possível que esta máquina
funcione deste modo tão defeituoso? Ou será que esta disfunção aparente se deve a uma
disfunção real, esta vez, de minha visão, uma espécie de presbiopia ou de astigmatismo do
espírito? Neste caso, a desordem afetiva residiria em mim, porém, este não seria menos
objetivo com relação a um pensamento retificador que o descobriria. Porém, o mal puramente
constatado, o mal contemplado, deixa de ser mal sofrido, simplesmente deixa de ser o mal. Na
realidade, não o percebo como tal senão na medida em que me diz respeito, ou seja, quando
estou implicado nele, no sentido em que alguém se acha implicado no assunto; esta implicação
é aqui fundamental; não posso fazer abstração dela senão mediante uma operação, legítima
sob certos aspectos, porém, fictícia e pela qual não me tenho que deixar enganar.
Este mistério do mal a filosofia tradicional tendeu a degradá-lo em problema e, por isso,
ao abordar as realidades deste gênero - o mal, o amor, a morte - nos produz a impressão de
um jogo, de uma forma de prestidigitação intelectual. Este sentimento o inspira tanto mais
quanto mais idealista se é, ou seja, quanto mais o sujeito pensante se embriaga em uma
espécie de emancipação, na realidade totalmente falaz.
114
Deveria voltar-me agora, porém não nos sobra tempo para isso, sobre toda a primeira
parte de minha exposição e tratar de mostrar como se aclara à luz destas distinções. Pareceme evidente que a ordem do ter se confunde com a do problemático e também, por isso
mesmo, com aquela com a qual as técnicas são possíveis. O metaproblemático é, com efeito,
metatécnico. Toda técnica supõe um conjunto de abstrações prévias que a condicionam,
porém, se revela impotente ali onde se trata do ser em sua totalidade. Isto poderia se prolongar
em muitas direções. Na raiz do ter, como do problema ou da técnica, há certa especialização
ou especificação ou especificação de si, unida, por outra parte, à alienação parcial de que
falávamos há pouco tempo. E isso nos conduziria ao exame de uma distinção que me parece
capital e com a qual terminarei esta exposição, já um tanto quanto carregada; quero referir-me
à distinção entre autonomia e liberdade.
É essencial notar que a autonomia é, antes de tudo, uma não heteronomia pressuposta
e rechaçada. “Quero tratar meus assuntos eu mesmo”... tal é a fórmula germinal da autonomia.
Aqui vemos aparecer esta tensão do mesmo e do outro, que é próprio do ritmo do mundo e do
ter. Deve-se reconhecer, por outra parte, creio eu, que a autonomia versa sobre toda ordem na
qual a gestão é possível, sob qualquer forma que se conceba. Na realidade, implica a ideia de
certo campo de atividade e se precisa tanto mais quanto é possível circunscrever mais
estritamente este campo no espaço e no tempo. Tudo aquilo que pertence à ordem dos
interesses, quaisquer que sejam, pode tratar-se com relativa facilidade como uma
circunscrição, como um distrito delimitado. Mais ainda: posso, em grande parte, tratar minha
vida como suscetível de ser gestionada por outro ou por mim mesmo (entendendo por mim
mesmo o não outro). Posso admitir tudo aquilo que se pode assemelhar-se, ainda que seja do
modo mais indireto, a uma fortuna, a um ter. Pelo contrário, na medida em que a categoria do
ter resulta inaplicável, já não poderei falar de gestão em nenhum sentido e, portanto, tampouco
de autonomia. Tomemos por exemplo a ordem dos dons (literários e artísticos). Até certo ponto
um dom pode ser administrado quando quem o possui, examinou-o; ou seja, fez dele um ter; a
ideia de semelhante gestão é absolutamente contrária para o gênio propriamente dito, que se
escapa essencialmente a si mesmo, transborda-se em todo sentido. Um homem é um gênio,
tem talento (a expressão ter um gênio é literalmente um contrassentido). Creio, na realidade,
que a ideia de autonomia, apesar do que se possa crer, acha-se ligada a uma espécie de
redução ou de particularização do sujeito. Quando mais integralmente entre eu em atividade,
menos legítimo resulta dizer que eu sou autônomo; neste sentido, o filósofo é menos autônomo
que o sábio e este menos autônomo que o técnico. O ser mais autônomo é, em certo sentido, o
mais compreendido. Porém, esta não autonomia do filósofo ou do artista não é uma
heteronomia, do mesmo modo que o amor não é um heterocentrismo. Radica no ser; quer
dizer, aquém do si (ou além do si), em uma zona que transcende todo ter possível, a própria
115
zona a que tenho acesso na contemplação ou na adoração. Isso quer dizer, em meu modo de
ver, que esta não autonomia é a mesma liberdade.
Não se trata aqui de esboçar uma teoria da liberdade, precisamente porque haveria de
iniciar por perguntar-se se a ideia de uma teoria da liberdade não implica uma contradição.
Limitar-me-ei a assinalar aqui, quer seja na ordem da santidade, quer seja na da criação
artística, onde resplandece a liberdade aparece com toda evidência que a liberdade não é uma
autonomia. Em ambos os casos, o si, o autocentrismo, acha-se inteiramente desaparecido no
amor. A raiz disto se poderia demonstrar, creio eu, que a maior parte das insuficiências do
kantismo se deve essencialmente ao fato de não haver suspeitado anda de tudo isso, de não
ter visto que o si pode e deve ser transcendido, sem que, por isso, a autonomia ceda à
heteronomia.
Deveria concluir, e isto não é fácil. Quisera simplesmente voltar à minha fórmula
preliminar. Anunciei que chegaríamos ao reconhecimento de um irredutível, porém, também de
um além deste irredutível e que esta dualidade se me parecia como essencial à condição
metafisica do homem. Que é este irredutível? Não creio que possamos dar dele uma definição
propriamente dita, porém, podemos localizá-lo em certo modo. Esta deficiência, que é
essencialmente uma inércia, porém, que tende a transformar-se em uma espécie de atividade
negativa, não podemos eliminá-la; graças a ela é possível certo número de disciplinas
autônomas e subordinadas, cada uma das quais representa certamente um perigo para a
unidade do ser, na medida em que tende a fazê-lo desaparecer, porém, cada uma das quais
tem seu valor, sua justificação parcial. É preciso, contudo, que estas atividades, estas funções
autônomas, encontrem sua compensação nas atividades centrais, pelas quais o homem se
situa frente ao mistério que o funda e fora do qual não é senão puro nada: a religião, a arte, a
metafísica.
116
SEGUNDA PARTE: FÉ E REALIDADE
I – OBSERVAÇÕES SOBRE A IRRELIGIÃO CONTEMPORÂNEA 43
A atitude de espírito que me proponho definir, tão exatamente como seja possível, é
aquela que consiste em observar a questão religiosa como algo, propriamente falando, caduco.
São, aqui, imprescindíveis algumas precisões. Dizer que a questão religiosa está caduca não
supõe, necessariamente, negar a persistência de certo dado religioso, enquanto este dado
pertença à ordem do sentimento. Pois, por definição, tal dado não poderia caducar. O que se
pode considerar passado de moda é o uso, ou melhor, uma ideia, uma crença, na medida em
que esta crença está assimilada a uma ideia. E não se trata tampouco – o que seria totalmente
absurdo – de pôr em dúvida que a religião, enquanto fato, enquanto conjunto de instituições, de
ritos, etc., requer explicações; é preciso assinalar inclusive que, quanto mais estranho seja um
espírito de certo tipo a toda vida religiosa, tanto mais curiosidade sentirá por saber como um
conjunto de fenômenos tão estranhos, tão aberrantes, tem podido surgir e ocupar um posto,
evidentemente muito importante, na história do ser humano. Dizer “a questão religiosa está
superada” é dizer que já não há lugar para perguntar-se se as afirmações religiosas
correspondem a algo; na realidade, se existe um ser que possua os atributos tradicionalmente
vinculados ao termo Deus ou, inclusive, se isso que os crentes chamam de salvação é distinta
de certa experiência subjetiva grosseiramente interpretada em função de certas noções
míticas. A questão, dir-se-á, é conhecida. Citarei aqui um texto de Bertrand Russell que me
parece significativo: “Que o Homem seja produto de causas cegas, que sua origem, seu
crescimento, suas esperanças e seus amores, que seus amores e suas crenças não sejam
mais que o resultado de agrupamentos acidentais de átomos; que nenhuma paixão, nenhum
heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento e de sentimento possam prolongar uma vida
individual além do túmulo; que toda obra de séculos, o sacrifício, a abnegação, a inspiração, as
brilhantes do gênero humano em seu zênite estejam condenados à extinção na morte global do
sistema solar e que o templo inteiro das realizações humanas deva ser inevitavelmente
sepultado sob os escombros de um universo em ruínas; todas estas coisas ainda não estão
fora de toda discussão se confinam tão de perto com a escravidão que nenhuma filosofia que
as negue pode esperar manter-se”.
44
Bem entendido, pouco importa aqui a posição pessoal
doutrinal de Russell; temos aí o credo negativo que envolve a atitude que intento analisar. E
inclusive, sem dúvida alguma, alguns pretenderão que se possa edificar uma religião ainda
43
44
Conferência pronunciada em 04 de dezembro de 1930 na Federação de Associações de Estudantes Cristãos.
Philosophical Essays, p. 53.
117
sobre esta desesperança cósmica. Por minha parte, creio que isto não se pode sustentar sem
cometer o mais grave abuso de linguagem. Em outra ocasião me explicarei sobre este ponto.
Para aclarar com antecedência o caminho, um tanto sinuoso, no qual vamos nos
introduzir, assinalarei, em seguida, que pretendo adotar, sucessivamente, três centros de
perspectivas, distintos ou hierarquizados: o primeiro será o do racionalismo puro enquanto
filosofia das luzes; o segundo, é o da técnica ou mais exatamente o da filosofia da técnica;
finalmente, o terceiro é o de uma filosofia que apresente o primado da Vida ou do vital.
O que primeiramente deve-se assinalar é a noção muito particular da atualidade que
envolve uma posição como a racionalista que nós temos que definir. “Não é possível, na
atualidade, dir-se-á comumente, crer no milagre da encarnação. Um homem de 1930 não
poderia admitir o dogma da ressurreição da carne”. Tomo estes exemplos ao acaso, pois o
que me interessa é o acento posto sobre a data, que no fundo pressupõe um ponto de vista,
quase uma posição privilegiada no espaço, digamos, se se preferir, um observatório. O tempo
ou a história aparecem aqui como um espaço qualificado e a quem corresponde o emprego de
epítetos como “avançado” ou “retrógrado”, com sua correspondente carga qualitativa e cujo
papel é tão considerável na psicologia política de nosso país. Admitir-se-á, sem dificuldades,
que, de fato, uma etapa cronologicamente ulterior pode significar um retrocesso com relação à
etapa precedente. Isto é tanto mais compreensível quanto em um mesmo momento do tempo
aparecem mesclados os espíritos esclarecidos com os espíritos ultrapassados. Entre uns e
outros se apresenta um problema de poder: os espíritos retrógrados podem ter
momentaneamente a supremacia. Daqui o aparente retrocesso. Porém, tarde ou cedo,
assegura-se, o espírito humano empreenderá novamente sua marcha vitoriosa até a luz. A luz.
Uma palavra, um conceito, no sentido mais vago do termo, cuja importância, sem dúvida, não
se pode exagerar. Seria necessário poder meditar sobre isso; descobrir-se-ia, creio eu, a
expressão laicizada e empobrecida, até ao limite, de certa noção metafísica elaborada pelos
gregos e especialmente pelos Padres da Igreja. Contudo, não é oportuno insistir aqui sobre
este ponto. A ideia do progresso das luzes se apresenta de fato sob duas facetas: uma, éticapolítica (quão instrutivo resulta sob este aspecto o termo obscurantismo!) e outra, técnicacientífica. Ademais, estes dois aspectos são intimamente solidários. Duas coisas devem-se
notar aqui: a primeira é que, quase inevitavelmente, uma filosofia das luzes assumirá o
paralelismo existente entre a humanidade, considerada no conjunto de sua história, e um
indivíduo, que passa da infância à adolescência, da adolescência à idade adulta, etc. O espírito
ilustrado se considerará a si mesmo como um homem já feito, para o qual não é apropriado
crer ainda nos contos que ouvia em sua infância. Porém, esta representação simplista
apresenta, evidentemente, muitas graves objeções, até ao ponto que sempre estará permitindo
perguntar-se se não existem valores ligados à infância – certa confiança ditosa, certa
118
ingenuidade, por exemplo – ,os quais o homem deve salvar a todo custo se não quer
desembocar em uma sorte de dogmatismo da experiência, cujo inevitável resultado é um seco
cinismo. Há nisto um conjunto de verdades profundas que Péguy colocou às claras
maravilhosamente.
O segundo ponto é ainda mais importante: admite-se comumente, e sem crítica prévia,
que o progresso das luzes está ligado a uma eliminação progressiva do antropocentrismo e
aqui se faz largamente inventário das conquistas da astronomia moderna. “Era natural, dir-seá, antes de Copérnico ou Galileu, o fato de admitir que a terra fosse o centro do mundo e que o
homem ocupava uma posição privilegiada no que até então se chamava criação. Porém, a
astronomia permitiu voltar a colocar à terra e ao homem seu verdadeiro lugar, reconhecer que
estes não ocupam mais que uma classificação praticamente depreciável dentro da imensidade
do universo visível”. Deseja-se com isso flagelar o orgulho ingênuo, infantil, risível, de uma
humanidade que se tinha a si mesma pela expressão suprema e talvez o fim mesmo do
cosmos.
Porém, façamos notar imediatamente que somente é em aparência, como esta filosofia
solidamente estabelecida sobre uma cosmologia positiva, que se chega a ridicularizar o
orgulho humano; na realidade, exalta-o. Produz-se, com efeito, uma espécie de deslocamento
infinitamente curioso. Sem dúvida, o homem, enquanto objeto da ciência, entra, se posso dizêlo assim, no aspecto desta; não é senão um objeto entre uma infinidade de objetos. Porém,
existe, por oposição ao homem, algo que, pelo contrário, afirma-se por cima deste mundo
material, no qual o homem desaparece, e isto é, precisamente, a ciência. Não dizemos a
ciência humana, pois estes filósofos fizeram todo o possível por desumanizar a ciência, por
cortar suas raízes, por considerá-la em si mesma em seu progresso interno. Poderia falar-nos,
então, do Espírito ou do Pensamento, porém, com maiúsculas e nos equivocaríamos ao rirmos
de tais maiúsculas, pois são elas que traduzem precisamente o esforço por despersonalizar o
Espírito e o Pensamento, que não seriam já o espírito ou o pensamento de alguém, que já não
seriam presenças, senão uma espécie de organização ideal que se aplicará, por outra parte, a
pôr em evidência a flexibilidade, a livre mobilidade. Um filósofo como Brunschvicg, que
contribuiu mais do que ninguém para edificar este racionalismo, ao qual chama, erroneamente,
segundo minha opinião, espiritualismo, não pensa de nenhum modo que este desenvolvimento
do Espírito ou da Ciência seja o desenvolvimento no Tempo de um princípio absoluto que
existiria para si desde toda a eternidade, à maneira do
Absoluto de Hegel. Para Bru
ficções metafísicas. Enquanto ao Espírito, que o mesmo elogia, chama, todavia, Deus, ainda
que lhe destituindo de todos os caracteres que dão a esta palavra sua significação. “Sem
dúvida – concede ao final de seu livro sobre o Progrés de la conscience – um Deus que não
119
tem nenhum ponto de contato com nenhuma determinação privilegiada do espaço ou da
duração, um Deus que não tomou iniciativa nem assumiu responsabilidade no aspecto físico do
universo, que não quis o gelo dos pólos nem o calor dos trópicos, que não é sensível nem à
magnitude do elefante nem à pequenez da formiga, nem à ação nociva de um micróbio nem à
saudável ação de um glóbulo, um Deus que não pensa em castigar nossos pecados e os de
nossos antepassados, que não conhece mais homens infiéis que anjos rebeldes, que não faz
triunfar nem a pregação do profeta nem o milagre do mago, um Deus que não tem morada nem
no céu e nem na terra, que não se manifesta em nenhum momento particular da história, que
não fala nenhuma língua nem se traduz a nenhuma linguagem, este Deus é, desde o ponto de
vista da mentalidade primitiva, para o grosseiro supranaturalismo de que W. James fez
claramente profissão, o que ele chama um ideal abstrato. Aos olhos de um pensamento mais
longe das origens, melhor exercitado e afinado, é um Deus que não se abstrai de nada e para
quem nada é abstrato, posto que a realidade concreta não é tal mais que por seu valor
intrínseco de verdade”. Texto capital sobre o que nunca se refletirá suficientemente. Aprecia-se
nele esse orgulho infinitamente mais temível do homem que, graças a Deus, julga-se liberado
da mentalidade primitiva e goza sem reservas intelectuais de ser um adulto. Recordo as
fórmulas habituais: não é possível ainda, na atualidade..., um homem de 1930 não poderia
admitir..., etc.
Contudo, tomemos isso em conta: se para um filósofo cristão, por exemplo, São
Boaventura, o homem aparecia como centro do cosmos, era unicamente enquanto que
imagem de Deus e, inclusive “Esse imaginem Dei, escreve, non est homine accidens, sed
potius substanciale, sicut esse vetigium nulli accidit creaturae” (Ser imagem de Deus não é um
acidente para o homem, mas que lhe é além do essencial, do mesmo modo que um ser um
vestígio não pode ser um acidente em nenhuma criatura). De sorte que este antropocentrismo,
do qual se gaba, não é, na realidade, senão um teocentrismo aplicado. Para Santo Agostinho,
Santo Tomás, São Boaventura, é Deus, e somente Deus, quem é o centro. Porém, é este
espírito humano desumanizado, destituído de todo poder, de toda presença e de toda
existência, quem toma o lugar de Deus e lhe substitui.
Evidentemente, uma filosofia assim é muito difícil de pensar, tem poucos adeptos. Está
claro que a maioria dos que julgam a questão religiosa como superada se negariam a
subscrevê-la e atribuiria, preferentemente, a um agnosticismo, como o de Spencer ou a um
materialismo como o de Le Dantec. Seguramente isso é muito pior desde o ponto de vista
especulativo, porém, as perspectivas são mais numerosas e mais firmes. De que perspectivas
dispõem uma doutrina como o idealismo de Brunschvicg? Em primeiro lugar, do orgulho - não
vacilo em declará-lo. Interromper-me-ás, então, fazendo-me observar que este orgulho não tem
um caráter pessoal, pois o Espírito que nos ocupa não é o Espírito de ninguém. Responderei,
120
em primeiro lugar, que é, ou pretende ser, o Espírito de todo o mundo, e sabemos, desde
Platão, que parte concede à adulação da democracia, da qual este idealismo não é, finalmente,
senão uma transposição. Porém, isto não é tudo: de fato, o idealista se põe inevitavelmente no
lugar do Espírito – e neste caso tratamos com alguém concreto. Enfrentemos o escândalo que
constitui, aos seus olhos, esta anomalia: um astrônomo cristão. Como pode um astrônomo crer
na Encarnação ou assistir à Missa? Não haverá outro recurso que opôr-nos uma distinção:
enquanto astrônomo, este monstro, este anfíbio do século XX, ao qual o idealista saúda como
seu contemporâneo; enquanto ao fato de crer na Encarnação e ir à Missa, comporta-se como
um homem do século XII – como a uma criança. É lógico entristecer-se. Se perguntardes ao
filósofo com que direito pratica esta estranha cisão, por mais que se esforce em invocar a
Razão ou ao Espírito, ficaremos desconcertados. Pois enquanto que ele não se inibe em
absoluto de recorrer a considerações psicológicas e, inclusive, sociológicas sobre estas
supervivências no astrônomo, proibir-nos-á formalmente de proceder à análise ou reduções de
mesma ordem na qual ele respeita. Ele é, dos pés à cabeça, um homem de 1930 e, ao mesmo
tempo, invoca a um Espírito eterno que, contudo, nasceu e sofre transformações que não
poderia prever. Digamo-lo claramente: tudo isto é uma singular incoerência. É evidente que se
este idealista se encontrasse frente a um marxista, por exemplo, que lhe declarasse
abertamente que seu Espírito é um produto puramente burguês, filho do alívio econômico, o
primeiro teria que refugiar-se na esfera das abstrações mais exangues. Por minha parte, penso
que um idealismo deste tipo está inevitavelmente preso entre uma filosofia religiosa concreta,
por uma parte, e o materialismo histórico, por outra. Na realidade, está completamente
desarmado frente à história – uma história real qualquer – simplesmente como se tivesse um
destino independente. Falta-lhe todo sentimento do trágico e, também, assinalaria eu, todo
sentido do carnal, o que é mais importante. Creio que a substituição da noção confusa e rica de
carne, implicada em toda filosofia cristã, pelo conceito cartesiano de matéria não constitui, de
modo algum, um progresso desde o ponto de vista metafísico. Há nisto um problema quase
inexplorado em que, segundo minha opinião, se deveria centrar a atenção dos metafísicos
puros: é a evolução e obscurecimento progressivo das noções de carne e encarnação na
história das doutrinas filosóficas.
No fundo, este idealismo é uma doutrina puramente universitária que cai diretamente
sob as críticas que dirigia Schopenhauer, não sem injustiça, aos filósofos acadêmicos de seu
tempo. Não sem injustiça porque há em Schelling e em Hegel um sentimento intenso do
concreto e do drama humano.
Porém, na realidade, o idealismo filosófico estaria verdadeiramente superado e sem
influência apreciável sobre o desenvolvimento do pensamento humano se não houvesse
encontrado um formidável aliado na técnica, em todas suas formas. É realmente no espírito
121
mesmo da técnica onde reside, creio eu, as dificuldades mais graves com as quais se tropeça
hoje em dia, em muitas consciências perfeitamente honestas, a ideia mesma de vida religiosa
ou, mais exatamente, de verdade religiosa.
Abordo aqui uma ordem de considerações bastante delicadas e me escuso por ter que
proceder a uma análise de noções que, talvez, pareça um pouco sutil. Creio que nos
encontraremos no coração mesmo do problema.
Por técnica entenderia, de modo geral, toda disciplina que tende a assegurar ao homem
o domínio de um objeto determinado. É evidente que toda técnica pode ser considerada como
uma manipulação, como um meio de fabricar ou trabalhar uma matéria que, por outra parte,
pode ser puramente ideal (técnica histórica ou técnica psicológica).
Há aqui vários pontos em consideração: em primeiro lugar, uma técnica se define por
relação a certas perspectivas que o objeto lhe oferece; porém, inversamente, este objeto não é
tal senão pelas perspectivas que podemos ter dele e isso é verdade já no plano mais
elementar, que é o da percepção externa. Por isso, há um paralelismo entre o progresso das
técnicas e o progresso da objetividade. Um objeto é tanto mais objeto, está tanto mais exposto,
se se pode dizer assim, quanto mais serve de matéria a técnicas mais numerosas e
melhoradas.
Em segundo lugar, uma técnica é essencialmente perfectível. É algo suscetível de uma
colocação ao dia, cada vez mais precisa, cada vez mais ajustada. Porém, eu diria o contrário,
que sem dúvida não se pode falar de perfectibilidade ou de progresso, em sentido estrito,
senão na ordem da técnica. Com efeito, aqui há uma medida possível e que corresponde ao
rendimento em si mesmo.
Por último, e talvez este seja um ponto capital, cada vez nos damos conta melhor de que
toda potência, no sentido humano do termo, implica a colocação em prática de uma técnica. O
otimismo ingênuo das massas repousa hoje em dia sobre este conjunto de constatações: é
absolutamente certo que a existência da aviação ou da telegrafia sem fios se apresenta ante a
maioria de nós contemporâneos como uma prova, como uma comprovação tangível do
progresso. É importante assinalar a contrapartida ou o tributo destas conquistas. O mundo
mesmo tende, desde este ponto de vista, a aparecer algumas vezes como uma simples
pedreira em exploração, outras como um escravo domesticado. Não se pode ler um artigo de
periódico com ocasião de uma catástrofe qualquer sem comprovar que esta é tratada como
uma espécie de vingança da besta que se acreditava vencida. E é nisso que vemos a
confluência com o idealismo. O homem, não ainda como espírito senão como potência técnica,
aparece aqui outra vez com único foco de ordem ou de organização em um mundo que não lhe
valoriza, que não lhe mereceu e que, segundo todas as aparências, produziram-se por azar –
ou melhor, um mundo do qual o humano se tem separado por um violento ato de emancipação.
122
O mito de Prometeu retoma aqui plenitude de sentido. E, sem dúvida, muitos técnicos
encolhem os ombros se veem que se lhes atribui esta estranha mitologia; porém, qual será,
então, seu recurso, se são técnicas e nenhuma outra coisa? Encerrar-se em sua
especificidade, negar-se, de fato senão de direito, a apresentar-se o problema da unidade do
mundo ou da realidade. E ver-se-á, sem dúvida, surgirem tentativas de sínteses porque a
necessidade de unidade é incoerente e, talvez, constitui o fundo mesmo da inteligência. Se
bem que estas sínteses apareceram sempre como algo relativamente gratuito em comparação
com as técnicas, dir-se-á que estão “no ar”. E esta expressão trivial põe de relevo,
magnificamente, a ausência de perspectiva que caracteriza a síntese pura por oposição à
técnica particular. Desde este momento é como se uma sombra cada vez mais espessa se
estendesse sobre a realidade, onde já não é possível mais que recortar zonas que, ainda
iluminadas, ficam sem comunicação umas com as outras. Porém, isto não é tudo. Não
devemos deixar-nos enganar pelas palavras. Esta potência técnica não pertence a alguém?
Não há alguém que a exerça? Quem é este “sujeito”? Inclusive aqui nos chocamos com as
mesmas constatações: este mesmo sujeito se nos apresentará como objeto de possíveis
técnicas. Técnicas distintas, múltiplas, entre as quais somente existem conexões dificilmente
definíveis. Porém, nem precisamos afirmar – e a experiência o demonstra amplamente – que
estas técnicas, enquanto tais, revelaram-se tanto menos eficazes quanto mais recaiam sobre
um âmbito no qual estes seccionamentos, estas especializações, resultam manifestadamente
impraticáveis. Daqui que uma técnica psicológica ou psiquiátrica apresente ainda hoje um
aspecto decepcionante.
Contudo, apresenta-nos agora um problema angustiante e que não permite ser
elucidado. Estando o sujeito, por sua vez entregue, se posso assim dizê-lo, às técnicas, longe
de ser uma fonte de claridade, um princípio de iluminação, ainda não poderá ser estabelecido
mais do que por reflexão. Não poderá beneficiar-se mais do que de uma luz tomada dos
objetos, pois, inevitavelmente, as técnicas que intencionaram aplicar-se estariam construídas
sobre o modelo das técnicas orientadas até o mundo exterior. Seriam as mesmas, porém
trasladadas e como que devolvidas. Não tenho mais que remeter-me à admirável crítica
bergsoniana, à parte verdadeiramente imperecível de sua doutrina, sem que seja necessário
entrar em detalhes. Não obstante, deve-se assinalar que ali onde as técnicas prevalecem em
todos os sentidos somente o sentimento imediato do prazer e da pena permanecem
inexpugnáveis no sujeito – por isso entendo a realidade concreta. E é completamente natural
que com este extraordinário perfeccionismo das técnicas coincida uma espécie de
exasperação do que pode haver de mais imediato e eu diria que, ao mesmo tempo, de mais
elementar na afetividade; se se prefere, o “having a good time” dos anglo-saxões. Não quero
dizer que há nada nisto de absolutamente fatal e que esta conexão se verifique em todos os
123
casos, porém, na prática, há nisso uma solidariedade que podemos comprovar facilmente e
que se justifica sem problemas para a reflexão. Com efeito, vemos bem como o extraordinário
perfeccionismo das técnicas está unido a um empobrecimento máxima da vida interior. A
desproporção entre o instrumental posto à disposição do ser humano e os fins que este está
chamado a realizar parece cada vez mais flagrante. Sem dúvida, objetar-se-á a isto o fato de
que o indivíduo, em um regime desta ordem, tende a subordinar-se a fins sociais que lhe
sobrepassam infinitamente. Porém, não há nisso uma ilusão? Conhecemos desde há bastante
tempo o sofisma dos sociólogos segundo o qual é mais o todo que a soma das partes. A
verdade é que há, sem dúvida, outra coisa; segundo parece, a diferença se salda por algo
necessário, traduz-se pelo signo menos (-). É incompreensível por que razão uma sociedade
de ignorantes, cujo ideal individual consistiria em trepidar nas salas de festa e em vibrar com os
filmes sentimentais ou policiais, não há de ser também uma sociedade ignorante.
Evidentemente, é pelo que têm de inferior e de rudimentar que estes indivíduos se aglomeram
e aí baseia, incidentalmente, a diferença entre uma sociedade e uma comunidade, como, por
exemplo, uma Igreja. Nesta, sem aglomerar-se mecanicamente, os seres formam, pelo
contrário, um todo que lhes sobrepassa. Agora, esta comunidade somente é possível porque
estes indivíduos lograram preservar em si mesmos essa espécie de palladium, contra o qual se
dirige toda técnica como tal e ao qual se chama alma. Em meu modo de ver, este é o tipo de
objeção mais grave a que pode dar lugar uma doutrina como o marxismo. Esta doutrina não se
defende mais que quando luta pelo seu próprio triunfo e se aniquilará neste próprio triunfo para
não dar lugar mais que a um hedonismo bastante vulgar. Eis aqui a razão, sem dúvida, pela
qual hoje se vê entre nós tantos jovens que se declaram comunistas, porém, que se colocariam
imediatamente na oposição se o comunismo chegasse a triunfar.
Assim, indiretamente, vemos definir-se uma ordem que contrasta por completo com o
mundo no qual reinam as técnicas. A religião em sua pureza, quer dizer, enquanto que se
distingue da magia e se opõe a ela, é, exatamente, o contrário de uma técnica. Funda, com
efeito, uma ordem em que o sujeito se encontra situado em presença de algo sobre o qual toda
perspectiva lhe é precisamente negada. Se a palavra transcendência tem alguma significação
é seguramente esta; designa exatamente essa espécie de intervalo absoluto, intransitável, que
se abre entre a alma e o ser, enquanto que este se oculta às suas apreensões. Nada mais
característico que o próprio gesto do crente, que junta as mãos e testemunha por este mesmo
gesto que não há nada que fazer, nada que mudar, senão, simplesmente, que vem a entregarse. Gesto de dedicação ou de adoração. Podemos adicionar ainda neste sentimento a questão
do sagrado – sentimento em que entram de vez o respeito, o temor e o amor. Sublinhemos que
não se trata em absoluto de um estado passivo; pretendê-lo, assim, significaria subentender
124
que toda atividade, digna deste nome, é uma atividade técnica, que consiste em colher, em
modificar, em elaborar.
Por outra parte, é preciso reconhecer que, a respeito deste ponto, como de muitos
outros, estamos hoje em plena confusão. Não é quase impossível não forjarmos da atividade
uma imagem que não seja em certo modo física, não nos representá-la como o funcionamento
de uma espécie de máquina, da qual nosso corpo seria, no fundo, ponto de apoio ou, inclusive,
modelo. A antiga ideia, recolhida e aprofundada pelos Padres da Igreja, segundo a qual a
contemplação é a atividade mais elevada, é uma ideia completamente perdida. E valeria a
pena perguntar-se o porquê. Penso que nisto o moralismo, sob todas as suas formas, com sua
crença no valor quase exclusivo das obras, certamente contribuiu em grande medida a
desacreditar as virtudes contemplativas. Ademais, ao introduzir a ideia de uma atividade
construtiva como princípio formal do conhecimento, o kantismo tendeu, sem dúvida alguma –
exatamente no mesmo sentido –, a negar-lhes toda realidade positiva, ainda que não seja mais
que pela separação radical que instaurara entre razão teórica e razão prática. Efetivamente,
não há contemplação possível senão no seio de uma metafísica realista – disto isso sem
especificar a natureza do realismo de que se trata e que, sem dúvida, não é necessariamente o
de Santo Tomás.
Assim, pois, não tem sentido discutir que a adoração possa ser um ato; se bem que este
ato não consiste em uma apreensão. No fundo, é extremamente difícil de definir –
precisamente porque não é uma apreensão. Poder-se-ia dizer que consiste, por sua vez, em
abrir-se e em oferecer-se. Indubitavelmente, desde o ponto de vista psicológico se estará de
acordo com isso. Porém, perguntemo-nos: abrir-se e oferecer-se a quem? E aqui é todo o
subjetivismo moderno ao qual se opõe. Voltemos a encontrar o enunciado inicial. Creio
absolutamente que se o subjetivismo puro deveria ser considerado como uma aquisição
definitiva do espírito moderno, a questão religiosa deveria ser considerada como superada. Um
exemplo contemporâneo resulta especialmente instrutivo: é completamente evidente que em
um universo como o de Proust nenhuma religião é possível e se aqui ou lá se introduz algo que
pertença à ordem religiosa, é na medida em que este universo apresenta fissuras.
Contudo, não creio que seja possível considerar este subjetivismo como definitivamente
aceito nem um segundo e, sobre isso, naturalmente somente posso indicar um caminho pelo
qual me é impossível adentrar-me nesta noite. Minha posição pessoal a respeito deste ponto
coincidiria quase por completo com a de Jacques Maritain e, por outra parte, se aproximaria
dos teóricos alemães da intencionalidade, quer dizer, dos fenomenólogos atuais. Parece-me
que o realismo somente foi combatido por Descartes e seus sucessores porque se formaram
dele uma noção de certo modo materialista. “Pretendendo tratar do sentido e da inteligência –
disse Jacques Maritain – Descartes e Kant ficaram nas portas, pois falaram de ambos como se
125
se tratasse de qualquer outra coisa, sem chegar a conhecer a ordem do espírito...”. Em um
sentido muito análogo diria, por minha parte, que não se subtraiu o bastante o papel
desempenhado nisto por certa transposição viciosa da ótica do problema. Uma vez mais, o
haver partido da técnica conduziu a obliterar a realidade espiritual.
Portanto, creio que somente na condição de apoiar-se em postulados gratuitos se pode
estar inclinado a considerar a adoração, por exemplo, como uma pura atitude, sem aderência a
uma realidade qualquer. E, em minha opinião, se se avança em tal direção, quer dizer, com a
condição de remontar resolutamente a pendente ao longo da qual desliza o pensamento
moderno desde há mais de dois séculos, então, é possível recobrar a ideia fundamental de um
conhecimento sagrado, que é o único que permite restituir um conteúdo à contemplação.
Sinto certa confusão ao esboçar assim, de maneira tão rápida e tão superficial, ideias
cuja importância e dificuldade são muito grandes. Contudo, não posso ter a pretensão de fazer
agora outra coisa que não seja levar a cabo um reconhecimento em um âmbito tão vasto.
“Quando se considera – escreve o metafísico alemão Peter Wust – a evolução da teoria do
conhecimento sobre Platão e Santo Agostinho, passando pela Idade Média, até o presente,
experimenta-se o sentimento de que se está em presença de uma secularização cada vez mais
vitoriosa dessa zona sagrada da alma humana à qual se pode chamar o intimum mentis”. E
acrescenta que não é preciso a nós, os modernos, reconquistar, lenta e penosamente sob a
forma de uma metafísica do conhecimento, aquilo que estava dado na Idade Média sob a
forma de uma mística rodeada de mistério e de respeito. Explicarei isto mais simplesmente
dizendo que talvez temos perdido o contato com esta verdade fundamental: que o
conhecimento implica uma ascese prévia – quer dizer, uma purificação – e, para dizê-lo mais,
que tal conhecimento não se entrega em sua plenitude mais que ao previamente se tem feito
digno dele. E a este respeito penso também que os progressos da técnica, o costume de
considerar o conhecimento como uma técnica que não afeta em nada o que ela exerce, têm
contribuído poderosamente a cegar-nos. Esta ascese, esta purificação, deve consistir, antes de
tudo e sem nenhuma dúvida, em liberar-se progressivamente da reflexão entendida como pura
crítica e, assim pode dizer-se, como faculdade de objeção. “A verdade é triste”, dizia Renan, e
Claudel se indignava diante desta frase. E ela – a frase - resume, com uma espécie de
concisão clínica, o que eu chamaria de bom grado a filosofia do porém. Quando Barres fala em
seus Cahiers da “sombria tristeza da verdade”, situa-se precisamente no coração desta
filosofia. Filosofia que está na raiz mesma do pessimismo sob todas as suas formas e da qual
eu designava como conhecimento sagrado que é precisamente a negação. Negação não
necessariamente prévia, porém, talvez, a mais habitual e, no próprio Claudel, heroicamente
obtida.
126
Parece-me que aqui também tocamos em um dos pontos mais sensíveis e como que um
dos centros nervosos de nosso tema. Dizer que problema religioso caducou é, para a maioria
das pessoas, declarar que a incurável imperfeição do mundo está ainda estabelecida. E nunca
será suficientemente enfatizado a importância prática dessa espécie de apologética negativa,
da qual se vale o ateísmo, explorando todas as ocasiões possíveis para demonstrar que o
universo está por debaixo de nossas exigências, que é incapaz de satisfazê-las e que essa
espécie de espera metafísica que permanece em nós a título de herança ou sobrevivência não
pode ser satisfeita pelo real.
Coisa estranha: esta insistência sobre as imperfeições do mundo está vinculada à
incapacidade radical de apreender o mal enquanto mal, o pecado enquanto pecado. E aqui
aparece de novo a inteligência técnica. O mundo é tratado como uma máquina cuja disposição
deixa especialmente a desejar; felizmente o homem está aqui para retificar certos erros, porém,
por desgraça, o conjunto escapa, no momento, ao seu controle. Deve-se acrescentar que estes
defeitos de disposição, estes erros, não são imputáveis a ninguém, pois do outro lado não há
ninguém. O homem é somente alguém que está frente a uma maquinária impessoal. Por outra
parte, estará preparado por causa desta inversão ou esta interiorização, da qual já falei, a
tratar-se a si mesmo desta maneira, a desaparecer neste cosmos despersonalizado; quer
dizer, a reconhecer em si mesmo certos vícios de funcionamentos, os quais se devem poder
remediar por dispositivos de ordens variadas, por uma terapêutica individual ou social.
Encontramo-nos ainda aqui em presença de uma conexão reveladora: refiro-me àquela
que une a adoração, por uma parte, e, por outra, a consciência do pecado, enquanto que este
não se justifica por nenhuma técnica, ainda que por uma ação sobrenatural: a graça. E chamo
vossa atenção sobre o fato de que a relação implicada na técnica se encontra, aqui, invertida.
Se a realidade envolta na adoração exclui toda captação possível do sujeito, inversamente este
nos aparece, de fato, captado por uma eleição incompreensível que emana precisamente do
fundo misterioso do ser.
É por relação a este conjunto, e somente a ele, como a noção de salvação pode adquirir
algum sentido, ao próprio tempo que se encontra inteiramente privada dele no mundo espiritual
onde reine a ideia de uma ordem natural, que pertence à técnica restaurar, onde quer que haja
sido acidentalmente perturbado.
Mediante esta ideia de uma ordem ou de um curso natural da vida, que se intenta
restabelecer por meios apropriados, acedemos ao terceiro plano, o mais central, talvez, no qual
se desenvolva a discussão. A noção fundamental não será ainda a do progresso das luzes,
nem da técnica: será na realidade, o da vida, porém, não diria eu como valor, senão como
fonte de valores ou como base de valoração.
127
Recordava, faz algum tempo, estas palavras tão características de uma das
personalidades mais intensamente comprometidas na ação social internacional: “Em princípio,
não tenho nenhuma objeção – dizia esta pessoa – contra os mistérios. Admito que possa haver
mistérios; porém, para mim o dogma da Trindade, por exemplo, não tem interesse, não vejo a
quê pode corresponder para mim, de que me pode servir”. Creio que há nisto uma disposição
muito significativa. Este excelente homem haveria sido muito capaz de apaixonar-se em uma
discussão sobre a justiça fiscal ou sobre o princípio dos seguros sociais; reconheceria seu
caráter vital. Contudo, a Trindade lhe pareceria um objeto de vãs especulações. É sobre este
termo do vital, tomado ao pé da letra, sobre o qual devemos deter-nos agora. Assinalemos que
a relação entre a ideia de vida ou do primado do vital e o que acabamos de dizer sobre o
espírito de tecnicidade é evidente. Porque, depois de tudo, o domínio do objeto continua sendo
relativo à vida, considerada como algo com valor em si mesmo e que em si tem sua
justificação. Não insistirei sobre as origens desta noção e me limitarei a recordar que é em
Nietzsche onde encontrei sua expressão mais rigorosa. Contudo, esta noção de vida se desliza
até a vontade de poder, que, à primeira vista, pode parecer mais precisa. Em outros, esta
noção conservará sua rica indeterminação e, por isso mesmo, acrescentaria eu, sua profunda
ambiguidade. Somente quero manter o fato de que para muitos, alguns dos quais – e isto é
para se meditar – se consideram crentes, é a vida o que aparece como único critério ou
referência de valores. Tomemos, por exemplo, a distinção entre o bem e o mal: aos seus olhos
uma ação será boa se contribui para favorecer a vida e má se a contraria.
Desde este ponto de vista, assinalemos de imediato, a vida mesma aparece como algo
que não é necessário, nem sequer possível julgar. Não tem sentido o interrogar-se sobre o
valor da vida, pois é precisamente a própria vida a que é o princípio de todo valor. Porém, aqui
vemos surgir imediatamente um equívoco de inextricáveis dificuldades: de que vida se está
falando? É da minha ou da vida em geral?
Em primeiro lugar, está claro que esta afirmação – que racionalmente parece gratuita –,
da primazia da vida, somente pode justificar-se mediante uma evidência imediata. Agora, a que
se refere esta evidência imediata se não ao sentimento que tenho eu de minha própria vida, à
espécie de calor que emana dela? Não está ligada a este dado irredutível que é o amor que eu
tenho a mim mesmo?
Desgraçadamente, não é menos manifesto que aqueles que pretendem utilizar a vida
como critério de valores, em particular ali onde surgem conflitos, referem-se não ainda à minha
vida enquanto minha, senão, ao contrário, à vida em geral. Certo preceptor suíço, amigo meu,
que defende a primazia da vida, porém, sem interpretá-la em absoluto à maneira nietzschiana,
se esforçará, por exemplo, por demonstrar a seus alunos que a prática da castidade ou, em
uma ordem totalmente distinta, a da solidariedade, estão ligadas à mesma vida e que ao
128
infringir estes altos deveres se trai à vida, etc. Duas coisas saltam à vista: a primeira é que meu
amigo começa por dar da vida uma definição seguramente tendenciosa e colorida por certas
exigências espirituais que subjazem nele, porém, das quais não é diretamente consciente. A
segunda é que quanto mais seja tomado o fato da vida em sua generalidade, por sua vez
maciça e vaga, tanto menos será possível fazer participar à doutrina que se pretende elaborar
desta evidência imediata, ainda restringida, que se refere exclusivamente à minha vida
enquanto que eu a experimento diretamente.
Assim, pois, por sua própria essência, uma filosofia da vida está condenada à
ambiguidade. Ou pretenderá simplesmente traduzir e generalizar certas verificações biológicas
e, então, ao ser imenso o campo das verificações, poderá ser empregada para a justificação
das teses mais contraditórias (a este respeito, talvez, seja supérfluo recordar as singulares
práticas que alguns dos escritores mais notórios deste tempo pretende justificar mediante a
consideração do que ocorre no reino animal). Ou, por uma espécie de deslocamento atrevido,
porém, também, gratuito, deixará de considerar a vida como fenômeno ou como conjunto de
fenômenos biológicos observáveis para ver nela uma sorte de ímpeto ou de corrente espiritual.
Porém, imediatamente perde sua base experimental; e, por minha parte, penso que existe
certa desonestidade em uma doutrina que se serve dos esquemas diferentes para tratar a vida
e apresenta como dados empíricos o que não é, na realidade, mais que uma livre eleição do
espírito. Se penetrarmos mais ainda no concreto, poderemos ver encorpar ainda mais esta
obscuridade.
Parece que, se existe um axioma implicado nesta espécie de filosofia informulada e
difusa, que colore e penetra a maior parte de nossa literatura contemporânea, é este: “Eu
coincido com minha vida; eu sou minha vida; dizer que minha vida um dia se consumirá quer
dizer que esse dia eu mesmo me consumirei totalmente” e se admite unicamente um conjunto
de ficções, no qual não há mais que simples sobrevivências, que se interpõe entre mim e esta
identidade fundamental. Não nos perguntemos como este erro ou aberração é metafisicamente
possível; é esse um objeto de reflexões que nos levaria demasiado longe. Simplesmente se
afirma que a vida segrega uma espécie de veneno espiritual que, a cada momento, ameaça
bloqueá-la de alguma maneira e que o papel da consciência é dissolver tal veneno, de maneira
que coincida de um modo tão contínuo, como seja possível, com esse fluxo assim liberado.
Seguramente são metáforas e cuja origem reside, não duvido, nessa espécie de filosofia
da técnica de qual falei antes. Porém, pouco importa aqui. O que é necessário ver é aonde
conduz esta maneira de entender a relação entre eu e minha vida, ou, mais exatamente, de
entender a sinceridade. Tocamos aqui o problema mais grave que apresenta a literatura destes
últimos tempos e, em particular, na obra de Gide. Somente posso abordá-la por uma de suas
facetas.
129
Assinalemos que este desejo de sinceridade responde, incontestavelmente, e de um
modo por demais explícito, a um desejo de libertação. Remeto aqui a um livro como Les
norritures terrestres, que constitui um testemunho extraordinariamente significativo. A que
preço se obtém tal libertação? Supõe, advirta-se bem, que eu abdique radicalmente de toda
pretensão de dominar minha vida. Dominar minha vida significa, de fato, subordiná-la a certo
princípio; supondo, inclusive, que tal princípio não seja uma herança passivamente recolhida,
este traduz, ainda sob uma forma fossilizada, uma fase de meu passado. Esta fase de meu
passado não tem nenhuma capacidade para governar meu presente. Sacudir este jugo do
passado somente é entregar-se, de fato, ao instante, proibir-se sob qualquer forma todo
compromisso, todo voto, seja qual for. Porém, não veem que esta liberdade, em nome da qual
me reservo assim perpetuamente, está vazia de todo conteúdo? Que ela é a negação de
qualquer conteúdo? E sei muito bem que Gide – não o atual, que é racionalista e talvez
voltaireano, senão o de Les norritures terrestres – me oporá a plenitude do instante puro
saboreado em sua novidade. Somente que aqui a dialética tem evidentemente a última palavra,
porque ela nos ensina que esta novidade não é precisamente saboreada senão em função de
um passado que não se explicita por oposição a ele; e que, ainda, coisa estranha, uma
saciedade que está ligada à novidade, à sucessão do novo enquanto tal.
E entre isto vislumbramos um fato que é indispensável sublinhar, ainda que seja difícil
insistir sobre ele sem causar uma impressão de velhos sermões escutados e arquivados.
Porém, desgraçadamente, experiências recentes dão a esta antiga verdade um terrível relevo.
E nada está mais perto da desesperação, quer dizer, da negação do ser e do suicídio, que
certa maneira de exaltar a vida como instante puro. E de nenhum modo se trata de declarar
junto a um jovem e fogoso polemista católico, Jean Maxence, que “Kant chama a Gide, Gide
chama a André Breton e este inspira a Jacques Vaché no suicídio”. É esta uma maneira
excessivamente sumária de representarem-se as filiações espirituais e, particularmente no que
concerne à relação Kant-Gide, Maxence defende verdadeiramente o indefinível. Eu não creio
que a desesperação seja necessariamente a consequência do instanteísmo gideano e isto
porque a alma, apesar de tudo, possui recursos, porque conta com meios de defesa que ela
mesma ignora. A história de Gide e de sua obra bastam para prová-lo. O que opino é que este
instanteísmo é não somente uma posição limite senão uma posição literária e literalmente
vantajosa; o que a maioria das vezes é reconhecido, ao menos implicitamente. Porém, aquele
que realmente a tomasse por uma posição vital estaria, está e estará exposto às piores
catástrofes espirituais. Desse conjunto de considerações eu extrairia simplesmente esta
conclusão: que não há salvação para a inteligência nem para a alma mais que a condição de
distinguir entre meu ser e minha vida; e mesmo que esta distinção pode resultar misteriosa em
alguns aspectos, este mistério pode converter-se em uma fonte de claridade. Dizer meu ser
130
não se confunde com minha vida supõe dizer essencialmente duas coisas. A primeira é que,
posto que eu não sou minha vida, então minha vida me foi dada e eu sou, em certo sentido,
humanamente impenetrável, anterior a ela, sou antes de viver. A segunda é que meu ser é algo
que está ameaçado desde o momento em que inicio viver e que devo salvá-lo, que meu ser
está em jogo e o sentido da vida talvez resida nisso; e desde este segundo ponto de vista me
encontro não no lado de cá senão além de minha vida. Não há outro modo de interpretar a
prova humana e não entendo o que possa ser nossa existência senão uma prova. Não quisera
que o significado destas palavras despertasse em nós a recordação de frases estereotipadas e
fossem escutadas com a sonolência que demasiado suscitam os sermões dominicais. Quando
um Keats - ao qual não se pode considerar na acepção estrita do termo um cristão - vê o
mundo como o vale onde se forjam as almas (vale of soul-making), quando declara na mesma
carta de 28 de abril de 1819 (p. 256 da edição Colvin) que “tão variadas como são as vidas, tão
variadas devem ser suas almas e é assim como Deus faz os seres individuais. Almas. Almas
dotadas de identidade, de faíscas de sua própria essência”, temos em vista a mesma ideia que
eu intento expressar; ideia que em sua linguagem toma um brilho e uma frescura
incomparáveis. E abordo agora um último ponto.
Compreendo perfeitamente que, entre alguns de vós, todas estas noções de graça ou de
salvação se associem quase mecanicamente, pelo fato de já terem visto, terem ouvido; a
sensação de uma atmosfera demasiado respirada e pelo mesmo irrespirável. E aqui está a
explicação destas aventuras que em nossos dias seduziram aos surrealistas. Necessidade de
evasão, desejo do inaudito. Não creio que nisso haja nada que não se possa justificar de
alguma maneira, a condição de que se desvie do olhar dessa espécie de ódio de si, diria eu, de
perversão demoníaca que tal desejo esconde muito frequentemente.
Somente duas observações a fazer. Sem dúvida, a graça e a salvação são, se se quer,
tópicos, como o são o nascimento, o amor e a morte - e o são no mesmo plano. Nenhum deles
se pode recuperar, porque tudo isso é único. O homem que ama pela primeira vez, o homem
que sabe que será pai ou que morrerá não pode ter a impressão de repetição. Parecer-lhe-á
que é a primeira vez que alguém ama, que alguém nascerá ou que alguém morrerá.
Igualmente ocorre com respeito à autêntica vida religiosa. O pecado, a graça, a salvação são
antiguidades unicamente enquanto palavras, porém, não enquanto coisas, pois são o coração
mesmo de nosso destino. Porém, esta não é minha única resposta. Existe outra. Creio
profundamente que, inclusive, neste âmbito a necessidade de renovação é, até certo ponto,
legítima – exatamente no que concerne aos modos de expressão. E é com isto que concluirei.
Quanto mais penso em certo prestígio das ideias modernas e um respeito humano ligado a
este prestígio – do que somente é sua contrapartida –, que se revelam como nefastos para o
desenvolvimento espiritual, tanto mais creio perigoso admitir que as fórmulas filosófico131
teológicas (não falo do dogma, completamente diferente), por exemplo, as que encontramos
em um Santo Tomás de Aquino, podem ser universalmente utilizadas tal qual em nossos dias.
Sinto-me inclinado a crer que isso é verdade para certos espíritos, porém, não para todos e
que as verdadeiras instituições fundamentais que estas fórmulas traduzem ganhariam em força
comunicativa, em capacidade de impulso, ao serem apresentadas com outra linguagem mais
nova, mais direta, mais pujante, adaptada com mais exatidão à nossa experiência e,
acrescentaria, à nossa própria prova. Por isso, supõe uma recriação, que deveria ser precedida
por um imenso trabalho, por sua vez crítico e reconstrutivo. Atualmente nos encontramos
quase enterrados sob escombros e enquanto esses escombros não são afastados, esperamos
em vão poder construir. Este trabalho é ingrato, terrivelmente ingrato. Porém, eu creio que é
indispensável e o é para a vida religiosa mesma, para seu progresso. Este trabalho está
dirigido àqueles que creem ainda e que, do contrário, correm o risco de amortecer-se em um
dogmatismo desvitalizado. Porém, sobretudo àqueles que não creem, todavia buscam e
querem crer sem dúvida e não se decidem a confessá-lo, debatendo-se, dolorosamente, e que
têm medo de ceder a uma tentação, abandonando-se a esta fé, a esta esperança, que,
obscuramente, sentem elevar-se neles. Seria loucura crer que este trabalho especulativo é um
luxo; repetirei: é uma necessidade. E não somente desde o ponto de vista da inteligência, eu
diria que desde o ponto de vista da caridade. Creio que aqueles que candidamente estimam
que o cristianismo deva ser, em primeiro lugar e antes de tudo, social, que é antes de tudo uma
doutrina de ajuda mútua, uma espécie de filantropia sublimada, cometem um grave e perigoso
erro. E também aqui a palavra vida se revela completamente carregada de ambiguidade. Dizer:
“Pouco importa o que penseis, desde o momento em que vivais cristãmente” supõe fazer-se
culpável da pior ofensa ao que foi dito: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”. A verdade. É
sobre o terreno da verdade sobre o qual, em primeiro lugar, deve ser prosseguido o combate
religioso e somente em tal terreno será ganho o perdido. Refiro-me com isto ao fato de que o
homem veria traído seu destino, sua missão e se a fidelidade deve seguir sendo o patrimônio
de um pequeno número de eleitos, de santos, chamados, sem dúvida, ao martírio e que rogam
sem desfalecer por todos aqueles que escolheram as trevas.
II – REFLEXÕES SOBRE A FÉ 45
45
Conferência pronunciada em 28 de fevereiro de 1934 na Federação da Associação dos Estudantes Cristãos.
132
Quero iniciar precisando não exatamente o ponto de vista em que penso situar-me, pois
não me parece necessário, mas a atitude interior que me proponho adotar e a natureza da
adesão que gostaria de conseguir de meus ouvintes. Na realidade, não quisera expressar-me
pura e simplesmente como católico, senão mais como filósofo cristão. Precisemos mais ainda:
acontece que eu me aproximei tardiamente da fé cristã e sob uma espécie de viagem sinuosa
e complicada. Não lamento esta viagem por muitas razões e isso porque guardo dela uma
recordação suficientemente viva como para professar uma particular simpatia por aqueles que
a estão realizando neste momento e avançam, às vezes penosamente, sobre pistas análogas
às quais eu segui.
Acrescento que há aqui uma metáfora inevitável, ainda que também grosseira e, em
certos aspectos, escandalosa. Em nenhum sentido posso considerar-me como chegado
(pronto). Tenho a convicção de que vejo mais claramente e esta palavra, convicção, resulta
demasiado débil, demasiado espiritual. Isso é tudo. Mais exatamente diria que certas zonas de
mim mesmo, as menos comprometidas, as mais liberadas, desembocam na luz, porém, há
outras que não foram, todavia, iluminadas por este sol quase horizontal do amanhecer ou, para
empregar a expressão de Claudel, que não foram ainda evangelizadas. Estas zonas são as
que podem confraternizar-se com as almas viajantes ou titubeantes. Porém, é preciso ir mais
longe: eu creio que, na realidade, nenhum homem, nem mesmo que fosse o mais iluminado, o
mais santificado, chegará, jamais, antes do que os demais, todos os demais, se ele acha que
os demais devem estar postos em marcha atrás dele. É esta uma verdade fundamental, que
não é da ordem religiosa somente, senão também filosófica, apesar de que, em geral, os
filósofos a tenham ignorado, por razões que não vou deter-me a examinar.
Tudo isto me permite precisar a orientação do que quero intentar formular. Trato de
refletir na presença dos que me seguem. Assim, talvez, possa estender uma mão a alguns na
espécie de ascensão noturna que representava para todos nós nosso destino e na qual, apesar
das aparências, jamais estamos sós. A crença na solidão é a primeira ilusão a dissipar, o
primeiro obstáculo a vencer, em alguns casos a primeira tentação a superar. Está claro que
desejo dirigir-me em especial aos menos favorecidos, àqueles que desesperam de alcançar
jamais nenhum topo, ainda mais, que acabaram de persuadir-se de que não existe este acima,
esta ascensão e que esta aventura se reduz a uma espécie de tutoramento entre o nevoeiro
que não acabará senão com a morte, em uma extinção total em que se consuma ou consagre
a ininteligível inanidade. Portanto, quisera colocar-me, em princípio, no ponto de vista destes
transeuntes extraviados, que perderam até a crença em um fim – não falo de um fim social,
mas metafísico -, na possibilidade de conferir um sentido à palavra destino.
133
Tais extraviados são inumeráveis e não devemos fazer ilusões sobre a possibilidade de
voltar a captá-los mediante explicações ou exortações. Não obstante, confio na virtude
parenética de certa reflexão. Creio que na situação trágica, na qual o mundo se debate hoje,
mais do que a arte ou a poesia, é uma metafísica concreta e ajustada ao mais íntimo da
experiência pessoal que pode desempenhar para muitas almas um papel decisivo. E quisera,
durante o breve tempo que me concedem, esforçar-me em traçar vários caminhos pelos quais
alguns não se negarão a introduzir-se logo.
A ideia que o não crente forma da fé
Quisera delimitar a ideia mais ou menos implícita que se forma da fé aquele que
sinceramente crê estar seguro de não a ter. Por necessidades de análises, parece-me
indispensável distinguir vários casos, os quais, em minha opinião, podem reduzir-se mais ou
menos diretamente a incredulidade, tal como se nos apresenta. Ignorarei voluntariamente os
casos, muito raros, por outra parte, daqueles que, se lhes interrogássemos, responder-nos-iam:
“A palavra ‘fé’ está para mim vazia de sentido. Nem sequer compreendo o que pode significar”.
Se insistirmos, nosso interlocutor se verá forçado a adotar uma das seguintes posições: ou
aderirá aos que consideram a fé como uma simples debilidade, como uma forma de
credulidade e que se felicitam de verem-se livres dela, ou, longe de desprezar a fé,
reconhecerá que supõe uma verdadeira sorte para aquele que a possui, porém, que esta é
uma sorte que lhe foi negada.
Este segundo caso é, por sua vez, ambíguo. Devem-se distinguir nele três
possibilidades:
a) Pode-se querer dizer: “Certo, é muito cômodo deixar-se enganar; desgraçadamente isto
não está em meu alcance”. Em tal caso, no fundo, faz-se alarde certa superioridade em
troca de reconhecer sua dolorosa contrapartida. Contudo, na realidade se despreza o
que parece ou faz parecer que inveja. Em consequência, seu caso se confunde com o
do crente que observa a fé como uma simples debilidade.
b) Pode-se também considerar a fé como uma particularidade agradável que poderia
comparar-se, por exemplo, com o fato de ser sensível à música. Porém, esta segunda
alternativa é, assim mesmo, ambígua: com efeito, o que tem a fé expressa certas
afirmações que recaem sobre a realidade; este não é de nenhum modo o caso do
aficionado pela música. Estas afirmações são válidas ou não? No caso que nos ocupa,
se nos responderá sem dúvida: “sim, são válidas para ele que as enuncia”. Agora, isto
134
vem a significar que são falsas porque aquele que as enuncia não pretende fazê-lo
somente para si, senão para todos.
c) Por último, e mais frequentemente do que se crê em geral, está o caso do crente que
admite que verdadeiramente a fé é para aquele que possui uma comunicação com uma
realidade superior, porém, reconhece que, por miséria, esta realidade não lhe foi
revelada. Este não crente fala da fé quase como poderia fazê-lo um cego.
Este último caso me resulta mais fácil de definir, pois foi o meu durante anos. Cheguei,
então, a escrever que acreditava na fé dos demais, sem tê-la eu mesmo. Porém, desde então
compreendo que havia nisso uma atitude contraditória que, em qualquer caso, suporia uma
profunda ilusão o imaginar-se que se poderia crer na fé dos demais sem tê-la alguém mesmo.
Na realidade, quando se está em situação semelhante, alguém se encontra ainda em um
estado de abertura ou de espera, que implica ou que ainda é incluso: a fé. Ademais, nesta
mesma época escrevi: “A verdade é que não sei se tenho ou não a fé; não sei o que creio”.
Agora, na atualidade, inclino-me a pensar que o estado que se expressa por esta
confissão de incertezas é o mesmo que se encontra, sem nenhum gênero de dúvidas, o que
crê poder declarar expressamente que não tem fé.
A fé, modo da credulidade
Voltemos, com efeito, às primeiras formas que defini, em particular a ideia da fé como
modo da credulidade. Corresponde ou pode corresponder à ideia que o crente se forma da fé
ou à experiência que tem dela?
Imediatamente enfrentamos a uma dificuldade, um paradoxo. A fé é uma virtude. É isto
compatível com a interpretação da fé como credulidade? À primeira vista, certamente não
parece; uma virtude é uma força; a credulidade é uma debilidade, um relaxamento do
entendimento. Parece, então, que o não crente e o crente designam com o mesmo termo duas
coisas que não têm nenhuma relação entre si. Prevejo que o crente nos dirá mais ou menos
isso: “O crente considera a fé como uma virtude porque implica uma forma de humildade;
porém, é precisamente essa humildade o que nos parece insignificante, já que recai sobre uma
parte de nós mesmos a que não nos reconhecemos com o direito de humilhar o entendimento?
A uma profunda covardia. A vida, o mundo, nos oferece um espetáculo horrível; o verdadeiro
sábio, aquele em quem a sabedoria é, ao mesmo tempo, heroísmo, olha o mundo de frente;
sabe que não pode esperar encontrar fora de si mesmo, de sua razão, nenhum recurso contra
a desordem da qual este mundo é o teatro. Pelo contrário, o crente imagina mais além deste
mundo um recurso último em que põe sua confiança, ao qual dirige suas orações. Imagina que
135
Deus, ao qual invoca, lhe está agradecido pela sua adoração e, assim, chega a considerar
como uma virtude o que nós, os não crentes, sabemos bem que não é senão uma evasão,
uma cegueira voluntária”.
A fé evasão
Encontramo-nos aqui no coração do problema; acabamos, creio, de esboçar a ideia que
o não crente forja da fé quando sua incredulidade é verdadeiramente radical, quando toma a
forma do repúdio, quase da aversão. Somente nos falta perguntar a que situações se refere um
juízo semelhante. Observarei, em primeiro lugar, que a interpretação da fé como evasão é uma
pura construção que, em um grande número de casos, não responde aos fatos. No que
pessoalmente me concerne, posso afirmar, por exemplo, que a fé nasceu em mim em um
momento em que me encontrava em um estado de equilíbrio moral excepcional, em que,
inclusive, me sentia também excepcionalmente feliz. Se tivesse ocorrido de outro modo, talvez,
a mim mesmo me houvesse percebido suspeitosa. A que responde, pois, esta construção do
não crente?
Seria conveniente pôr em relevo as concepções tão profundas que Scheler expôs em
sua obra Homem do Ressentimento. O não crente observa, admite, a título de postulado, que
os verdadeiros valores têm de ser universais, que hão de poder ser reconhecidos como tais por
qualquer um; declara que o que não é demonstrável ou comunicável, o que não é suscetível de
impor-se a qualquer ser racional, não apresenta mais que uma significação puramente
subjetiva e, em consequência, pode ser legitimamente depreciado. A que se deve esta
preocupação de universalidade extensiva, este recurso à arbitragem de uma pessoa qualquer,
não importa quem? Scheler se inclina a pensar que se explica por um rancor profundo para
tomar consciência de si mesmo, um rancor que aquele que não tem, tende a experimentar
sempre que se acha em presença do que tem. Falem o que quiser, seja qual for a interpretação
que se esforce por dar de uma carência que se empenha em tomar por uma emancipação, é
preciso reconhecer que há momentos em que o não crente se apresenta a si mesmo, por
contraste ao crente, como aquele que não tem frente ao que tem ou crê ter.
A incredulidade é basicamente passional
Existe, pois, um elemento passional dissimulado no fundo da afirmação ou da pretensão
em aparência absolutamente racional do não crente; e, se se reflete profundamente sobre isso,
ver-se-á que não pode ser de outro modo.
136
Voltamos sobre a afirmação do não crente militante a fim de aprofundar mais nela. Esta
vem a dizer: “Eu sei que não há nada. Se pretendeis persuadir-nos a vós mesmos do contrário,
é porque não sois o suficientemente valentes para olhar de frente essa terrível verdade”. “Eu
sei que não há nada”. Intentamos tomar consciência do alcance desta afirmação que se
apresenta - ao menos deveria apresentar-se normalmente - como a consequência de uma
indagação exaustiva. De fato, esta investigação é impossível. Nossa situação no universo nem
sequer nos permite abordá-la. Nem sequer estamos em situação de apreciar a vida de algum
de nossos semelhantes, de julgar se esta vida vale a pena ser vivida, de maneira que a
aparência do pessimismo de consignar o resultado de uma investigação objetiva é enganosa.
Achamo-nos em presença de uma impostura inconsciente. “O pessimismo – escrevi não faz
muito, na época em que não sabia se tinha fé – somente pode ser uma filosofia da decepção. É
uma doutrina puramente polêmica, na qual o pessimista entra em guerra consigo mesmo ou
com um contraditor exterior a ele. É a filosofia do ‘pois bem, não!’”. Não tem sentido, portanto,
que o não crente, que no limite se confunde com o pessimista absoluto, se erija no defensor da
verdade objetiva, porque não existe, na realidade, atitude mais subjetiva, mais insidiosamente
subjetiva que a sua.
O ceticismo
Porém, não iremos desembocar, então, numa espécie de ceticismo desesperante? Não
venhamos a dizer simplesmente que alguns seres possuem a faculdade de crer, como um
corpo possui uma determinada propriedade, enquanto que outros não a possuem? Que esta
faculdade pode ser, com efeito, invejável, mas que, depois de tudo, não nos conduz a nada,
não nos permite nenhuma conclusão e não podemos saber se a ilusão está do lado dos que
creem ou do que não creem. Parece-me impossível manter-se nesta posição e intentarei
explicar claramente porquê.
Que implica, na realidade, este ceticismo?
De modo definitivo, vem a dizer ao crente: “pode ser que tu vejas algo que a mim
escapa, porém, também pode ser que te equivoques. Entre nós não é concebível nenhuma
arbitragem. Contudo, é possível que creias ver a alguém que realmente não existe”.
As contradições do ceticismo
Toda a questão reside em saber se, ao emitir esta dúvida, não se substitui, sem advertilo, a realidade da fé por uma ideia inteiramente fictícia, que em nada coincide com a
experiência íntima e irrecusável do crente.
137
Quando digo ao meu interlocutor: “Tens acreditado ver alguém, porém, eu creio que te
equivocas e que não há ninguém”, tanto ele como eu encontramo-nos no plano da experiência
objetiva que, por definição, comporta precisões, verificações, um controle impessoal ou, mais
exatamente, despersonalizado. Minha afirmação somente tem sentido na condição de que
existam meios para assegurar que esta crença do outro não corresponde à realidade. Em
outros termos: a condição de que um observador X, supostamente normal, dotado de um
equipamento sensorial normal e de um juízo são, possa substituir-nos e arbitrar-nos. Porém, é
fácil dar-se conta de que esta substituição é inteiramente inconcebível, nem sequer podemos
imaginá-la. Com efeito, a reflexão mostra que tal substituição não é pensável mais que um
plano,
a
um
nível
espiritual,
onde
a
individualidade
se
especializa,
se
reduz
momentaneamente, para certos fins práticos, a uma expressão parcial, parcializada, de si
mesma. Por exemplo, eu posso muito bem dizer a alguém que tenha melhor vista que eu:
“Venha colocar-te em meu lugar e diga-me se vês tal coisa”. A alguém que tenha um gosto
mais refinado: “Queres provar isto e dizer-me tua impressão?”. Inclusive, para situações mais
complexas, porém, que não ponham em jogo mais que certos elementos da personalidade, o
que eu chamaria de elementos organizáveis, posso dizer a alguém: “Colocando-te em meu
lugar, o que farias tu?”. Porém, em situações que comprometem à pessoa toda, isso não é
possível: ninguém pode pôr-se em meu lugar. A fé é tanto ela mesma (naturalmente há de se
deixar de lado as expressões degradadas, quer dizer, mecanizadas) quanto mais emana do ser
total e mais lhe compromete. Porém, isto não é tudo.
É preciso ter cuidado de que o objeto da fé não se apresente em absoluto com os
caracteres que distinguem a uma pessoa empírica qualquer. Não pode figurar na experiência,
posto que a domina e a sobrepassa. Se sob certos aspectos me vejo induzido a observá-lo
como exterior a mim, apresenta-se mais essencialmente à minha consciência como interior a
mim mesmo, como mais interior de que eu mesmo posso ser-me, eu que o invoco e o afirmo.
Isto vem a dizer que esta distinção entre o exterior e o interior, estas categorias de fora e de
dentro ficam abolidas desde o momento em que a fé aparece. É este um ponto essencial que,
por definição, desconhece todo psicólogo da religião, porquanto ele assimila a fé a um simples
estado da alma, a um puro acontecimento interior. Isso requereria longos desenvolvimentos,
nos quais não posso entrar. Porém, se fosse absolutamente necessário recorrer a uma
metáfora, diria que o crente aparece ante si mesmo como interior a uma realidade que lhe
envolve e lhe penetra por sua vez.
Desde este novo ponto de vista, a atitude cética perde toda significação. Com efeito,
dizer “Pode ser que não haja ninguém ali onde tu crês que haja alguém” supõe referir-me, ao
menos idealmente, a uma experiência retificadora que, por definição, deixaria fora de si o que
está em questão, posto que objeto da fé se apresenta precisamente como transcendente com
138
relação às condições que toda experiência implica. Deve-se, pois, reconhecer que quanto mais
se libera a fé em sua pureza, tanto mais triunfal um ceticismo, que não pode pôr em dúvida seu
valor se não é porque começa por formar-se dela uma ideia que a desnaturaliza.
Poder-se-ia acrescentar, ademais, que o ceticismo intenta tratar crença e não crença
como atitudes que se excluem, porém, entre as quais subsiste a correlação que une dois talvez
e que, por isso, desconhece a incomensurabilidade essencial de si mesmas. Não basta dizer: o
universo do crente não é o mesmo que o do não crente; é preciso compreender que o primeiro
transborda e integra em todos os sentidos ao segundo, como o mundo do vidente transborda e
íntegra em todos os sentidos ao do cego.
A incredulidade é uma rejeição
Porém, ainda outra coisa, não menos importante: quanto mais acede a alma à fé e
quanto mais se dá conta da transcendência de seu objeto, tanto mais compreende que é
completamente incapaz de produzi-la, de extraí-la de seu interior. Pelo mesmo fato de que se
conhece, que se convence cada vez mais a si mesma, de que é débil e impotente, de que está
enferma, se vê arrastada a fazer um descobrimento: está fé não pode ser mais que uma
adesão ou, em termos mais precisos, uma resposta. Porém, adesão ao quê? Resposta a quê?
A algo difícil de expressar: a um obscuro e silencioso convite que a preenche ou, dito de outro
modo, que a pressiona, porém, sem constrangê-la. Não, esta pressão não é irresistível. Se
assim o fosse, a fé deixaria de ser fé. Porque a fé não é possível mais que em uma criatura
livre, em uma criatura ao qual foi concedido o misterioso e terrível poder de negar-se.
Depois disto, o problema que apresentava no princípio nos apresenta uma nova faceta:
desde o ponto de vista da fé, do crente, a incredulidade tende a aparecer, onde quer que se
manifeste, como uma rejeição, suscetível, ademais, de adotar certos aspectos muito diversos.
Limitar-me-ei a sublinhar que – acaso por mais das vezes – esta recusa toma a forma da falta
de atenção. É uma incapacidade de prestar ouvido a uma voz interior, a um chamado dirigido
ao mais fundo de nosso ser. Deve-se assinalar que a vida moderna propõe intensificar esta
falta de atenção, quase a impô-la, na medida em que desumaniza ao homem, no fato de que o
desenraiza de seu centro, reduzindo-o a um conjunto de funções que não se comunicam entre
si. E acrescentarei que, ainda nos casos em que a fé aparenta subsistir no homem até este
ponto funcionalizado, tal fé tende a degradar-se e a aparecer ante os olhos dos estranhos
como uma rotina, a qual, de recusa, proporciona à incredulidade um rudimento de justificação
que se baseia, uma vez mais, em um mal entendido.
Na realidade, esta falta de atenção, esta distração, é como um sonho de que o sujeito
pode despertar em qualquer momento. Às vezes basta para isso que se veja frente a um ser
139
que irradia a verdadeira fé, essa fé que é como uma luz e que ilumina àquele que a abriga. Eu
sou dos que concedem aos encontros um valor inestimável. Verdadeiramente que este é um
dado espiritual essencial que a filosofia tradicional não soube reconhecer, por razão para mim
muito clara, ainda que não seja este o momento oportuno para insistir sobre elas. A virtude de
semelhantes encontros consiste em suscitar no distraído uma reflexão, um retorno a si mesmo:
“Porém, no fundo, estou seguro de não crer?”. Basta que a alma se formule a si mesma esta
pergunta com toda sinceridade, quer dizer, desprezando todos os prejuízos irritantes, todas as
imagens parasitárias, para que se veja obrigada a reconhecer no que crê, claro está, senão
que não pode assegurar que não creia. Mais exatamente: se neste momento se produz uma
afirmação de incredulidade, estará quase inevitavelmente manchada pelo orgulho, por um
orgulho que uma reflexão pura e escrupulosa tem por força revelar. E “não creio” deixará de
aparecer ante seus olhos como um “não posso crer” e tenderá a transformar-se em um “não
quero crer”.
O heroísmo tem um valor em si mesmo?
Desde este último ponto de vista, a situação espiritual de um homem como André
Malraux pode considerar-se como particularmente significativa, quase diria como exemplar.
Seu pessimismo absoluto com respeito ao mundo se duplica por causa da ideia, de indubitável
origem nietzschiana, de que não é o resignar-se a não ter nenhum recurso, o passar-se sem
ele, senão o não querê-lo o que constitui a grandeza do homem, mais que sua miséria. Para
Malraux, o homem não se eleva até si mesmo, não se desenvolve em sua estatura até que não
tenha adquirido plena consciência desta situação trágica que, aos olhos do autor de La
condition humaine, somente permite o heroísmo. E estamos aqui sobre a beira do precipício
que distingue a alguns dos espíritos mais valorosos de nossa época. Contudo, prontamente
surge uma observação que nos inquieta: o que se pretende dizer realmente quando se atribui
ao heroísmo um valor em si mesmo? Parece-me evidente que este valor se refira a certa
exaltação e ao sentimento absolutamente subjetivo que experimenta o que a busca, porém,
não há nenhuma razão válida ou objetiva para colocar a exaltação heróica por cima de
qualquer outra exaltação, por exemplo. Esta hierarquia não pode justificar-se mais do que
fazendo intervir uma ordem de considerações completamente distintas e que não têm nada a
ver nem com o heroísmo nem com a exaltação: um utilitarismo social, por exemplo. Porém, tão
pronto como nos situamos nesse terreno, estamos em contradição com a ideia nietzschiana da
qual partimos. Para um nietzschiano consequente a utilidade social é um ídolo e, ademais, um
ídolo de escassa categoria. Reconheço de bom grado que a caridade resplandece em duas ou
três passagens de um livro como La condition humaine, porém, esta caridade é como uma voz
140
que chegasse de outro mundo. Tão somente por um malabarismo parece que se conseguiu
combinar o heroísmo e o amor. Estes conceitos são irredutíveis, salvo somente em um caso: o
heroísmo do mártir. E emprego este termo em seu mais estrito sentido, quer dizer, do
testemunho. Em uma filosofia centrada na recusa não há lugar para o testemunho, ainda que
este se refira a uma realidade superior, reconhecida na adoração.
Degradação da ideia de testemunho
Com tantas outras noções importantes, a noção de testemunho sofreu uma verdadeira
degradação. Quando pronunciamos esta palavra, a ideia que, imediatamente, se nos vem à
mente é a da testificação, o fato do que se pode pedir quando assistimos a tal ou qual
acontecimento. Ao mesmo tempo, tendemos a imaginarmo-nos a nós mesmos como se
fôssemos aparelhos registradores e a considerar o testemunho como um informe
proporcionado por este aparelho. Porém, ao trabalharmos assim, esquecemo-nos de que o
essencial do testemunho reside na testificação. A testificação é aqui o essencial. Porém, o que
é testificar? Não se trata somente de verificar, nem tampouco de afirmar. Na testificação o
ocorrido fica atado a mim mesmo, porém, com toda liberdade, posto que uma testificação, sob
o império de uma coerção, careceria de valor, negar-se-ia a si mesma. Sob este aspecto, aqui
tem lugar a mais íntima e a mais misteriosa união entre necessidade e liberdade. Não há ato
mais essencialmente humano que este. Em sua base existe o reconhecimento de certo dado;
porém, ao mesmo tempo, há outra coisa. Quando atesto, declaro, com efeito, ipso facto, que
me negaria a mim mesmo, sim, me anularia se negasse esse fato, esta realidade da qual
testemunhei.
Por outra parte, esta negação é possível, como o erro, como a contradição, como a
traição. Justamente, seria uma traição. É muito importante mostrar como é possível um
progresso dentro da testificação. Com efeito, seu valor espiritual se desprende cada vez com
maior claridade quando recai sobre realidades invisíveis que estão muito longe de impor-se
com uma evidência imediata, brutal, imperiosa, como ocorre com os dados da experiência
sensível. Encontramo-nos em presença de um paradoxo, sobre o qual não é demais chamar a
atenção: a de que as realidades transcendentes, até as que se dirigem à testificação religiosa,
apresentam-se, em certo sentido, como se tivessem absolutamente necessidade de um
testemunho, ainda tão humilde e tão débil como vem a ser o crente que as testemunha. Nada
parece pôr melhor em destaque esta espécie de polaridade incompreensível ou, melhor, supra
inteligível, que se realiza no coração da fé.
141
Fé e testemunho
Com efeito, o laço íntimo entre fé e testemunho aparece à plena luz ao pouco que se
faça interferir a ideia intermediária de fidelidade. Não existe fé sem fidelidade. A fé não é por si
mesma um movimento da alma, um transporte, um arrebatamento, é, antes de tudo, um
testemunho perpétuo.
Contudo, é necessário voltar uma vez mais até os crentes. Não se sentirão
irresistivelmente arrastados a interrompermos com uma pergunta que sempre é a mesma e
que não deixa de suscitar-se no curso deste eterno debate? “Que fazeis – dirão – com aqueles
que não podem testemunhar mais injustiças, com os que têm sido vítimas de sofrimentos de
toda ordem, com os que têm sido espectadores de toda classe de abusos? Como podem eles
testemunhar a favor de uma realidade superior?”. De novo, a armadilha é o problema do mal. A
esta questão respondi em parte, porém, quero sublinhar, sobretudo, que os grandes
testemunhos não se recrutam certamente entre os mais ditosos deste mundo, senão, além,
entre os que sofrem e são perseguidos. Se há uma conclusão que se desprenda
irremediavelmente da experiência espiritual da humanidade é que o maior obstáculo que se
opõe ao desenvolvimento da fé não é a desgraça, senão a satisfação. Há um parentesco
íntimo entre a satisfação e a morte. Em qualquer campo, e especialmente no campo espiritual,
um ser satisfeito, um ser que se declara que tem tudo o que necessita, encontr-se ainda em
vias de decomposição. Da satisfação nasce este taedium vitae, esse desgosto secreto que
cada um de nós pôde experimentar em algum momento e que resulta ser uma das formas de
corrupção espiritual mais sutil que existe.
Naturalmente isto não quer dizer que uma filosofia do testemunho e da fé constitua, por
si mesmo, um dolorismo moral. Há algo que dista muito da satisfação e que não é a angústia,
mas a alegria. As críticas paganizantes do cristianismo nem sequer têm suspeitado;
desconhecem o íntimo parentesco que une a alegria e a fé e a esperança e também a
gratuidade da alma que testemunha e glorifica. Seria necessário trazer uma vez mais aqui, se
bem que de maneira renovada, a distinção que Bergson teve o mérito de instaurar entre o
fechado e o aberto. A satisfação não se realiza mais que entre quatro paredes, dentro do que
está fechado. Pelo contrário, a alegria somente se demonstra a certo aberto. É, por sua
essência mesma, irradiação, parece-se com a luz. Porém, não sejamos vítimas de uma
metáfora espacial: a distinção entre aberto e fechado não toma seu sentido mais que em
relação à fé, mais profundamente, todavia, em relação ao ato livre, mediante o qual a alma
aceita ou não reconhecer o princípio superior que cada instante a creia, a faz ser, mediante a
qual ela se torna ou não permeável a uma ação, por sua vez íntima e transcendente, fora da
qual a alma não é nada.
142
143
III – A PIEDADE SEGUNDO PETER WUST
“É nesta emoção primitiva (Uraffekt), denominada assombro – escreve Peter Wust –
onde deve situar-se o verdadeiro começo da filosofia.”
46.
É certo que o pensamento moderno,
em seus princípios, acreditou poder substituir o assombro pela dúvida metódica e ver nesta um
momento a priori de toda especulação racional. Porém, precisamente nada mostra melhor que
esta crença chegou nesta época na subversão das relações metafísicas fundamentais. Com
efeito, pode-se dizer que a dúvida não é senão um a priori segundo do pensamento filosófico.
É um fenômeno de reação, uma espécie de efeito de recusa que não pode produzir-se mais
que ali onde nosso ser mais íntimo tem sido, em certa maneira, fendido por uma desconfiança
ontológica que se converteu em um habitus da alma. Desconfiança ou confiança na presença
do ser: tais são, para Wust, as direções fundamentais entre as que pode escolher, desde um
princípio, qualquer espírito orientado à especulação. E isso é insuficiente porque se trata de
uma oposição somente afeita às soluções aportadas pelo metafísico ao problema teórico da
realidade e que recai, também, sobre a cultura, considerada no conjunto de suas
manifestações. 47
A ideia de uma filosofia científica, quer dizer, sem pressupostos, familiar aos pensadores
a partir de Descartes, implica, pela mesma razão, um deslocamento monstruoso
(ungeheuerlich) do equilíbrio especulativo.
48
Filosofar “cientificamente” não significa, de fato,
impor-se o esforço verdadeiramente inumano de negar, de modo radical e nas profundidades
da alma, toda preponderância ou toda hegemonia positiva dos valores? O filósofo pretenderá
ignorar, desde a origem mesma de sua investigação, se existe uma ordem ou é possível o
caos. Testemunha – ou, mais exatamente, se supõe que testemunhe – uma indiferença
absoluta pelo Sim e pelo Não e é esta indiferença que lhe consagra como filósofo aos seus
próprios olhos.
Porém, temos de perguntar-nos se esta indiferença é real, inclusive se é possível.
Segundo Wust, uma análise mais profunda que a de Descartes permitiria reconhecer que no
fundo da dúvida subjaz o assombro ante o próprio eu.
Minha dúvida trai a consciência que tenho de minha própria contingência e – mais
implicitamente, todavia – a gravitação secreta de meu ser mais íntimo em relação a um centro
ou a um meio absoluto do ser, não apreendido, certamente, senão pressentido e no qual a
insegurança metafísica da criatura encontraria, enfim, repouso. Esta insegurança, esta
46
Dialetik der Geistes
À primeira vista poderíamos sentirmo-nos tentados a alegar contra Wust o posto preeminente que concede
Descartes à admiração dentro de suas teorias das paixões. Porém, acaso penso jamais ver nelas um ponto de
inserção metafísica nem sequer o que se poderia chamar uma zona de domínio do ser, aclamado como tal, sobre
a criatura a qual se move. Seria demasiado temerário pretendê-lo.
48 Op. Cit. p. 213.
47
144
instabilidade, que contrasta tão estranhamente com o repouso eterno ou a ordem imperturbável
da natureza, constitui o mistério central do que se pode dizer que a filosofia de Wust não é
mais que o aprofundamento. Em meu entender, em nenhuma parte se encontrará hoje em dia
um esforço mais perseverante por definir e determinar a situação metafísica do ser humano
com relação a uma ordem que ele interrompe e transcende, também, com relação a uma
Realidade soberana que, se bem que nos rodeia por todas as partes, contudo, não atenta
jamais à independência relativa que é seu atributo de criatura. Porque esta Realidade é livre e
semeia livremente liberdades.
No seio do assombro, tal como o percebemos, por exemplo, na observação de uma
criança, se desprendem as trevas absolutas do sonho natural ao qual vive entregue tudo o que
está submetido sem restrições à lei. Com o assombro ascende “o sol do espírito que brilha no
horizonte de nosso ser e um júbilo supra vital se apodera do homem inteiro quando brilham
seus primeiros raios e estes permitem discernir os contornos admiráveis de todas as coisas e a
ordem eterna que as regem”.
49
Como não reconhecer aqui a inspiração que anima toda a obra
de Claudel e que, acaso, deve guiar toda doutrina do conhecimento autenticamente católica?
Triste? Como dizer sem impiedade que a verdade destas coisas que são a obra de um
Deus excelente é triste? E, sem que seja absurdo, que o mundo, feito à sua imagem e
semelhança, é menor que nós mesmos e deixa a maior parte do que imaginamos sem
suporte? 50
E Claudel subtrai aqui essa hybris, esse orgulho ímpio que subjaz na raiz de uma dúvida
semelhante e que o mesmo Wust não duvida nunca denunciar. Pormenorizadamente, junto aos
grandes doutores uma tradição brutalmente gasta por toda filosofia “científica”, surgida do
cogito, recorda-nos essa grande verdade que, entre nós e em nossos dias, subtraiu com tanta
força Jacques Maritain: que o conhecimento é em si mesmo um mistério. Talvez o erro capital
do idealismo foi assentar como princípio que o ato de conhecer é transparente a si mesmo,
sendo, assim, que não o é em absoluto. O conhecimento é incapaz de dar razão de si mesmo;
quando intenta pensar-se, vê-se, irremissivelmente, conduzido a satisfazer-se com expressões
metafóricas e materiais que o desnaturalizam, a considerar-se como um dado absoluto
autossuficiente e que goza, inclusive, sobre o objeto, de uma prioridade até o ponto
esmagadora, que resulta impossível compreender como é, ao menos em aparência, tão
incapaz de engendrá-lo em sua imprevisível riqueza.
Porém, não podemos contentarmo-nos em dizer que o conhecimento é um mistério. É
preciso acrescentar que é um dom e, em certo modo, talvez, uma graça. E isto é o que
49
50
Op. Cit. p. 206.
Le Soulier de Satin, primeiro ato, cena 04.
145
verdadeiramente pretende dizer Wust quando lhe atribui um caráter “naturalmente carismático”
51
que, por outra parte, irá sendo manchado pela consciência à medida que este processo do
conhecer vai secularizando-se mais e mais. Do termo desta secularização, que se estende ao
longo da Idade Moderna, surgem, necessariamente, todos os excessos de uma razão ébria de
si mesma – separada, por sua vez, da crença e do ser – e condenada a aparecer aos seus
próprios olhos como um poder de exploração que não há de render contas mais que a si
mesmo. E o mundo, em que atua esta faculdade “prometeica”, é, ele mesmo, despojado de
todos os atributos originais que lhe conferiria uma consciência ingênua, para a qual o
conhecimento não se distinguia ainda da adoração.
Por outra parte, é conveniente assinalar com toda nitidez que o pensamento de Wust
não deve ser interpretado em um sentido fideísta. O mesmo se manifestou sobre este ponto
com toda claridade desejável em Dialética do espírito.
52
“O fideísta, disse, se acha nos
antípodas da fé ingênua da criança; porque, na realidade, é um desesperado.”
53
Porém, do
que desespera senão de sua pobre razão humana? Devido a que começa por presumir
demasiado dela, de tal modo que poderia dizer-se, sem paradoxos, que o fideísta é um
“gnóstico caído”, tendo em conta que o termo gnóstico designa aqui fé a qualquer que se eleve
até ao absoluto as exigências ou as pretensões do conhecer. Igualmente, fiel ao seu gosto
pelas oposições e às reconciliações dialéticas, herdado sem dúvida de Ficht, observa Wust que
é o próprio momento “luciferiano” da consciência o que fundamenta a íntima unidade destas
duas atitudes, por inversos que sejam os signos com os que estejam afetados por uma reflexão
superficial.
Contudo, o verdadeiro cristão se mantém à mesma distância de ambos os abismos: não
deve interpretar a confiança que testemunha na ordem universal como um simples otimismo
superficial, senão reconhecer nela o fruto da veneração que lhe inspira a Realidade em seu
conjunto. Esta muito bem nos pode parecer, ao menos em ampla medida, irracional, porém,
nada nos autoriza a atribuir a esta irracionalidade uma existência em si. “O espírito que se
abandona à Realidade como se fosse uma criança sabe bem que todo ser pessoal está salvo
desde o momento em que se entrega sem restrições e também se desespera às solicitudes
profundas do Amor que brotam sem cessar do fundo de sua alma.” 54
Não creio que se possa exagerar o papel que desempenha no pensamento de Wust
esta ideia platônica da infância, a qual seria evidentemente absurda opor as alarmantes
“comprovações” que preenchem a literatura freudiana. Por muito precoce que seja na criança a
aparição do espírito de desconfiança, de astúcia e de perversidade, esta ideia conserva uma
Naivität und Pietät, p. 184.
Cf. nas pp. 620 e seguintes.
53 “O fideísta – disse – dá um salta desesperado na noite eterna da divindade”.
54 Op. Cit. p. 622.
51
52
146
validez inevitável, posto que é uma ideia testemunha, uma ideia juiz, se assim se pode dizer,
ou, talvez, melhor: um a priori absoluto da sensibilidade humana. Poder-se-ia citar aqui a
página admirável em que Wust se pergunta que é o que falta ao sábio estóico, ao sábio
segundo Spinoza, inclusive ao sábio segundo Schopenhauer, que participa, apesar de tudo, da
santidade. O que falta em todos eles, responde Wust, é a suprema e inocente alegria de existir
(Daseinsfreude), o idealismo e o otimismo não trágicos. A despeito de toda sua grandeza e de
sua dignidade heróica, apesar do sereno sorriso que frota em seus lábios (e esta é,
reconheçamo-lo, de uma indizível delicadeza, como o sorriso dos monges budistas de Ling
Yangsi), falta-lhes essa segurança última na existência que não se deixa manchar por nada,
essa ingenuidade das crianças que é toda inocência e feliz confiança. Esses sábios que
ocupam um lugar na história não são em absoluto crianças inocentes no sentido tão
estranhamente profundo da parábola evangélica: “Em verdade vos digo: quem não recebe o
reino de Deus como uma criança, não entrará nele” (Mc 10,15). “Com efeito, somente com esta
condição o sábio se elevará até a sabedoria suprema, ainda que haja bebido em todas as
fontes do saber humano e tenha oprimido seu espírito com a experiência mais amarga do
mundo.” 55
Porém, por que, no fundo, estes sábios estóicos ou budistas, por exemplo, não poderiam
recuperar uma alma infantil? Wust responde que o que os impede é o fato de ter deixado de
manter com o Espírito soberano esses laços filiais que permitem ao homem comportar-se
como uma criança ante o segredo último das coisas. Por outra parte, esta relação filial cai por
si mesma desde o momento em que triunfa um pensamento naturalista que despersonaliza o
princípio supremo do universo. De fato, desde este ponto de vista, a necessidade não pode
aparecer mais que como destino ou como cego azar e aquele que a sente pesar sobre si não
está em situação de recobrar jamais a confiança pura, a alegria, já desvanecidas. E não lhes é
possível aderir-se ao otimismo metafísico básico em que coincide a ingenuidade primeira do
ser no seu despertar e a do sábio – melhor seria dizer do santo – que, depois de haver
transpassado a experiência, retorna, ao termo de seu périplo, a esse estado de infância feliz
que é como o paraíso perdido da consciência humana. 56
Sem dúvida, também podemos perguntar-nos se este paraíso pode ser verdadeiramente
reconquistado. Como conceber esta recuperação de um estado que, apesar de tudo, parece
ligado à não experiência como tal? A resposta de Wust a esta questão é, antes de tudo, e
como já temos visto, que existe um princípio ativo de ordem e de amor (um Este, um Es, em
oposição ao Eu, ao Ich), que atua continuamente no fundo de nosso ser, de sorte que é
metafisicamente impossível que eu chegue a romper jamais por completo os vínculos que lhe
Naivität und Pietät, p. 110.
É óbvio que Wust admite expressamente o fato da queda (cf., por exemplo, em Dial. Des Geistes, p. 311),
porém, isto é absolutamente compatível com o fundamental otimismo de que aqui se trata.
55
56
147
ligam a suas raízes ontológicas. Por isso, se compreendo bem seu pensamento, é pelo que
segue sendo possível até o final essa conversão decisiva mediante a qual o eu, abjurando do
orgulho “prometeico”, que não conduz mais que à morte, e sem cair, por isso, nos excessos de
um pessimismo agnóstico e ruinoso, confessa, ao fim, essa docta ignorancia, cuja noção
precisou Nicolau de Cusa no umbral da Idade Moderna. Uma vez mais, não temos de entender
por isso um ato de suicídio espiritual como aquele ao qual conduz certo fideísmo, senão a
aceitação gozosa – consentida em um espírito de piedosa humildade – dos limites atribuídos
pela Suprema Sabedoria ao modo de conhecimento do que tem dotado a inteligência humana.
Talvez seja este o lugar de recordar que as teorias do incognoscível que floresceram no
Ocidente durante a segunda metade do século XIX e que a muitos pensadores, “formados em
contato com as ciências positivas”, prestam ainda seu assentimento, não são mais que
caricaturas indigentes dessa noção tão sábia, tão justamente fundamentada sobre a natureza
intermediária do homem e cujo desconhecimento levou às perigosas aventuras de uma
metafísica presunçosa: fora de um círculo restringido que se manteve constantemente em
contato com as fontes eternas do conhecimento e da espiritualidade apenas se começamos a
discernir as consequências irreparáveis que a carência ontológica do pensamento ocidental
engendrou em dois séculos e meio, nas esferas aparentemente mais estranhas à especulação
pura. Sem dúvida alguma, Peter Wust tem razão em culpá-la de um orgulho, até tal ponto
inveterado, que se respira e, sem embargo, não se adverte. Não obstante, parece-me que eu
insistirei mais que ele sobre a negativa radical oposta pelos “modernos” a todo intento de
estabelecer uma conexão, qualquer que seja, entre o ser e o valor. Não existe um caminho que
conduza de um modo mais seguro à negação da realidade, como tal, esta “desvalorização” do
ser, que vem a transformar-se em um caput mortuum, em um resíduo abstrato que a crítica
idealista não terá dificuldade em assinalar como uma ficção da imaginação conceitual, que, em
definitivo, se deixa taxar de uma tintura, sem que nada mude em nada.
Sem dúvida, é mediante este rodeio como melhor se pode esclarecer a crítica
eminentemente construtiva a que Peter Wust submeteu a noção de piedade. Noção viva, na
verdade, e, inclusive, infinitamente elaborada por todos os religiosos que refletiram sobre sua
própria experiência íntima, porém, que, para os filósofos contemporâneos – sobretudo na
França, à exceção de dois ou três – parece não referir-se mais que a certa “atitude” suscetível
de interessar aos especialistas do “comportamento”. Wust, que neste ponto, como em outros,
deve muito a Scheler, compreendeu admiravelmente que, ao considerar a piedade como uma
atitude ou um estado, se expõe ao mais grave perigo e que, pelo contrário, convém ver nela
uma relação real da alma com o ambiente espiritual que lhe corresponde, ademais, consigo
mesma. Mediante este rodeio pode ser recobrado o sentido fundamental, ainda que perdido, da
religião como vínculo.
148
Segundo Wust, existe uma estrita correspondência entre a ingenuidade e a piedade
como habitus da alma, por um lado, e a surpresa e a veneração enquanto emoções ou afetos
fundamentais, por outro. Estas são, em relação àquelas, mais ou menos o que o ato é para a
potência, na metafísica de Aristóteles. Dito mais simplesmente, o sentimento de veneração que
se apodera da alma em presença da harmonia universal supõe que essa alma tenha sido
previamente ajustada a esta harmonia. E Wust recorda um texto de Goethe, onde este fala da
piedade como uma virtude original (Erbtugend), que, por conseguinte, terá seu lugar em uma
zona à qual não alcança a consciência imediata que tomamos de nós mesmos. Por outra parte,
entre o que Wust denomina Naivität – cujo termo similar francês não é um equivalente
perfeitamente exato – e a piedade há uma diferença enquanto ao grau de atualização, segundo
adverte Wust com razão. A piedade vem a prolongar e a enriquecer na direção do querer esta
espécie de candor do espírito que ele, igualmente a muitos de seus predecessores a partir de
Schiller, designa com o nome de Naivität.
Porém, no interior mesmo da piedade, todavia, devem-se distinguir certos aspectos ou,
melhor, certas orientações complementares. Apesar de ser, propriamente falando, relação, a
piedade transpõe a um plano superior esse princípio universal de coesão que governa e
corresponde ao que Claudel chama o co-nascimento57 de todas as coisas. Porém, esta mesma
coesão implica, no termos que une ou que aglomera, certa afirmação de si, na falta da qual se
anula e desaparece. A coesão não se limita, pois, a unir, senão que mantém as distâncias. O
mesmo se encontra na ordem que nos ocupa: “Existe uma piedade que a personalidade se
testemunha a si mesma e na qual esse momento da distância aparece com seu caráter
essencial. Há, ademais, uma piedade que se dirige aos seres da mesma natureza que nós,
com os quais mantemos relações espirituais.”
58
Há, inclusive, uma piedade que se aplica aos
seres que pertencem à ordem infra humana. Porém, a piedade alcança seu grau mais alto
quando se dirige ao Espírito criador (Urgeist), porque este é como o centro absoluto de onde
convergem todos os fios que se tecem entre os seres particulares.
Wust sublinha com muita força a importância tão especial que é preciso conceder à
piedade até si mesmo: “A grande lei do amor - disse59 - consiste em que nos apreendamos no
fundo de nossa natureza, ainda que sejamos tal ser que reduziu tal forma e que ocupou tal
lugar na ordem da criação. Desde o momento em que o temos apreendido, temos de afirmar
esta lei com todas as nossas forças. E a felicidade de nossa alma consiste precisamente em
não pôr nenhuma resistência a esse surdo chamado que sobe das profundezas de nosso ser”.
Também aqui me dá a impressão de que o filósofo de Colônia põe o acento sobre uma
verdade fundamental que é obstinadamente descuidada pela grande maioria dos pensadores
Em francês connaisance significa, ao mesmo tempo, co-nascimento e conhecimento.
Naivität und Pietät, p. 128.
59 Naivität und Pietät, p. 129.
57
58
149
profanos. Distingue claramente entre certo amor de si mesmo – atrevo-me a dizer que místico
e, em qualquer caso, espiritual – e o egoísmo, que não é mais que um prolongamento da
vontade de viver ou do instinto de conservação. A piedade até si mesmo pressupõe, sem
dúvida alguma, este instinto. Se bem que há como objeto específico proteger o eu contra o
perigo de orgulho unido ao ato pelo qual espontaneamente se afirma a si mesmo. “Tem como
fim particular – disse Wust de maneira admirável – manter no eu um respeito religioso ante as
profundidades metafísicas de sua própria realidade, dessa realidade absolutamente misteriosa
que foi conferida por Deus. Porque nosso eu é um templo santo do Espírito, edificado por Deus
mesmo, um maravilhoso cosmos interior, onde rege um princípio de gravitação mais admirável
que o que se manifesta no cosmos exterior, tomado em toda sua vitalidade, em sua infinitude
mecânica. É um santuário, um sancta sanctorum, onde nós, ainda que nos pertença, não
podemos nem devemos penetrar sem um secreto estremecimento religioso. Não devemos,
disse. Porém, é que, ademais, nesse sancta sanctorum não podemos chegar até ao altar ante
o qual arde a lâmpada eterna dos mais sagrados mistérios. Certo que há um sentido no qual
somos entregues a nós mesmos e isto é o que significa essa asseidade relativa que é a nossa;
contudo, estamos confiados a nós mesmos ao modo de uma obra de arte saída da oficina de
um Mestre eterno. Não somos nós os autores desta obra magistral e, por isso, estamos
entregues a nós mesmos como um legado infinitamente precioso que devemos usar como o
tesouro de nossa felicidade.” 60
Não nos deixemos deter porque estas metáforas, ao menos em francês, sejam um
pouco grandiloquentes. A ideia em si mesma me parece essencial e somente porque os
filósofos profanos a perdem de vista podem declarar culpável, por exemplo, ao “egoísmo” que
os crentes confirmam ao trabalhar por sua salvação. Não veem que o amor de si que a religião
cristã, bem longe de limitar-se a tolerá-lo, prescreve precisamente ligado a esse sentimento de
uma dualidade íntima entre o que eu sou enquanto vivente e essa realidade secreta a que
chamamos comumente alma. Alma que me foi entregue e da qual renderei contas no último
dia. Não se poderia dizer, em uma linguagem que não fosse exatamente a de Wust, que o
filósofo não cristão de hoje em dia parte, talvez, sem duvidar jamais dele, do postulado, tão
duvidoso em suas consequências, de que eu me confundo com minha própria vida? É preciso,
então, admitir que a alma não seja senão uma expressão mais elaborada, uma espécie de
eflorescência desta vida, da qual não se pode dizer, com rigor, que me foi dado, posto que é
verdadeiramente eu. Se se aceita este ruinoso postulado, cujas origens são fáceis de situar no
seio de uma certa filosofia biológica que floresceu no século XIX, está claro que o amor de si –
ou da caridade a si mesmo – deve ser considerado como uma simples prolongação do instinto
vital.
60
Naivität und Pietät, p. 132-133.
150
Porém, precisamente, e em minha opinião, não se pode estar de acordo com isto sem
depreciar algumas das exigências mais estritas implicadas em uma vida espiritual autêntica,
todas essas exigências que Wust engloba no termo excelente, ainda que dificilmente
traduzível, de Distanzierung. Esta palavra salienta perfeitamente que eu não estou em um
plano de igualdade comigo mesmo, em razão de que existe uma parte mais profunda em mim
mesmo que não é minha. “A piedade de si – diz também – rodeia ao eu como uma delicada
membrana contra a qual não se pode atentar senão se quer que a alma se veja exposta aos
mais graves perigos.”
61
A esta necessidade estão vinculados certos fatos interiores, como a
discrição, o tato e também um respeito de si mesmo que pode alcançar a forma mais elevada
da dignidade espiritual. Porém, entre este sentimento e o perigoso orgulho que procede de
uma consciência demasiada acentuada de minha independência atual se deve reconhecer que
não existe mais que uma linha de demarcação bastante difícil de traçar. Ainda assim, a
distinção subsiste porque o respeito de si mesmo reside, no fundo, “nos valores que
guardamos como um depósito celeste e que devemos defender cada vez que uma potência
adversa ameaça profaná-los”.
Como se percebe, Wust repudia do modo mais explícito a teses segundo a qual o
respeito de si mesmo se definiria em função de um formalismo, atrevo-me a dizer que de um
egocentrismo, que erigiria em absoluto um princípio de liberdade radical dissociado de todos os
conteúdos espirituais em que é suscetível de encarnar-se. E em nome destes mesmos valores,
dos quais é, em certo modo, depositário e garante, o eu procura defender-se a si mesmo
contra as intrusões e os avanços que poderiam intentar em seu detrimento as personalidades
estranhas que carecem desse sentido da piedade.
Se for assim, é preciso aceitar que as concepções monádicas contemporâneas deixam
escapar uma importante verdade. Na atualidade se admite comumente, e sem crítica prévia,
que é devido a uma carência, a uma deficiência pura e simples, o fato de não sermos capazes
de submergirmos no ser espiritual do outro. Na realidade, deve-se confessar que esta
incapacidade é o preço de nossa dignidade espiritual de seres livres. “Em sua última
profundidade, nossa alma é um segredo e é esta intimidade da alma a que intentamos
defender santamente até certo ponto. O respeito de nós mesmos nos proíbe desvelar de
maneira indiscreta e ímpia o santuário de nossa alma, pois um ato assim implica uma
verdadeira profanação e uma imperdoável falta de pudor.” 62
Talvez seja esta a ocasião de assinalar, mais claramente, que Wust, até que ponto fala
de todas as interpretações naturalistas do pudor, que estão fundadas sobre uma determinada
ideia da sociedade e inclusive de vida. O pudor absolutamente espiritual, o pudor da alma, que
61
62
Naivität und Pietät, p. 133.
Naivität und Pietät, p. 136.
151
se esboça em um texto como o que acabo de citar, somente pode justificar-se
manifestadamente por esta noção da individualidade como depositária de si mesma. Noção
que desborda todas as categorias que o pensamento moderno nos tem ensinado a empregar e
com as quais nos satisfazemos. E com relação a este puder é contra o que se alia às potências
mais ativas e mais opostas de nossa época. Valeria a pena meditar um instante sobre esta
singular convergência.
Não somente um imperativo de origem social nos impõe compartilhar nossas riquezas
espirituais – reaparece aqui a representação absolutamente material que normalmente nos
fazemos dos bens invisíveis -, e uma espécie de sabedoria difusa que tende a identificar o
espiritual com o comunicável, senão, também, surgida, do outro lado do horizonte, uma
parenética da sinceridade, cujas mais interessantes formulações provenham, sem dúvida, de
Nietzsche, proíbe-nos que deixemos subsistir entre nós e nossa “alma” os véus, sob os quais
madura a hipocrisia.
Deve-se reconhecer que se apresenta aqui um problema cuja extrema gravidade não
estou completamente seguro de que tenha sido capaz de discernir Peter Wust. Parece-me que
o termo alma, que acabo de empregar e que possui uma sonoridade tão basicamente
antinietzschiana, não conserva a plenitude de seu sentido mais que no caso do qual a
intimidade consigo mesmo pôde ser salvaguardada. De boa vontade diria que tal termo está
ligado senão à noção, pelo menos à consciência, em certo modo musical, de um diálogo
vibrante e entrecortado, sustentado entre as “partes” mais ativas, mais críticas da orquestra
interior, por um lado, e um fundo, por outro, cujo valor se veria alterado até anular-se se
alguma vez chegasse a aflorar por completo. Por outra parte, chegaríamos a perder todas se
tratássemos de introduzir aqui a noção de um inconsciente. Nem o inconsciente nem tampouco
o subconsciente têm nada a ver com este campo. E, ademais, sabemos muito bem a que
desastres espirituais conduziram certos discípulos de W. James o uso imprudente que deles
pretenderam fazer. O que intento salientar aqui é simplesmente que, em primeiro lugar, não se
pode falar de alma mais do que se mantém o sentido do que indubitavelmente deveria chamarse o concertante na ordem espiritual; em segundo lugar, que a sinceridade, entendida na
acepção mais agressiva do ermo, se dirige inevitavelmente contra a existência das hierarquias
que supõem um concerto assim. Pois ditas hierarquias lhe parecem regidas pela obstinação e
pela complacência, dado que não são capazes de subsistir “à luz da verdade”. Por
conseguinte, tudo consiste em averiguar se esta crítica não supõe a confusão de duas ordens
realmente irredutíveis. Ao proceder a esta espécie de exposição da vida interior, não se a nega
no que tem de específico, quer dizer, precisamente em sua interioridade, do mesmo modo que,
ao implantar uma corola, ao justapor os órgãos de uma flor, destrói-se esta flor e essa corola?
152
Não obstante, não deveria ocultar que a dificuldade segue sendo muito grave, pois nada
é mais perigoso de utilizar que esta ideia de uma hierarquia pessoal, válida exclusivamente
para o indivíduo, o qual está obrigado a mantê-la em si mesmo. Eu creio que somente pode
achar-se a solução no aprofundamento dos conceitos de transcendência e pureza. Não
obstante, impõe-se uma distinção prévia: sem dúvida alguma, nunca como hoje em dia se
haviam visto os homens tão tentados a identificar certo exercício de depuração exclusivamente
formal – que possa prosseguir-se na superfície da alma, posto que não a afeta em sua
estrutura e em sua vida – com uma maneira de ser que, pelo contrário, condiciona a atividade e
que se põe de manifesto tão rapidamente como a afinação de um instrumento. Creio que
seguindo este caminho se reconhecerá que este problema da pureza, tomado em sua acepção
humana e não na simplesmente formal, não pode ser apresentada mais que precisamente com
a ajuda destas mesmas categorias ontológicas das quais pensávamos fazer-nos livres para
sempre. A noção de pureza, atualmente em vigor em certa filosofia da arte e, inclusive, em
certa filosofia da vida, baseia-se na separação radical entre a forma e o conteúdo. Porém,
basta remeter-nos à ideia testificada de Wust para darmos conta de que, quando recorremos
como referência à “pureza” da criança, negamo-nos precisamente a admitir esta separação. A
partir deste momento, não nos restará outro recurso do que apelar ao caráter mítico de uma
pretendida pureza e, uma vez mais, os “descobrimentos” dos psicoanalistas viriam a apoiar o
desmentido dado ao otimismo corrente.
Não
obstante,
não
podemos evitar
o
perguntar-nos
se
estas
investigações
pretendidamente objetivas não estariam, desde o princípio, ao serviço de uma certa dogmática
pseudo-schopenhaueriana e, com toda segurança atéia, que as dirige e as orienta com objetivo
de aproveitar seus resultados. Ainda supondo – e isto não é de novo mais que um contrapelo
simplista – que admitamos que esta “pureza” do espírito corresponde a uma obstinação do
adulto, bastante néscia e, em certo modo, suspeita de poetização, seguiremos perguntandonos se uma crítica semelhante pode aplicar-se também à alma que, graças à prova, conseguiu
salvaguardar ou inclusive conquistar, senão a pureza, acaso inacessível, do sentir, ao menos a
do querer ou mais precisamente, do olhar. E aqui tropeçamos, sem nenhum gênero de dúvida,
com a noção de ascese e perfeccionismo, com o qual o crítico se sentirá tentado a empreendêla, como se todo trabalho levado a cabo sobre alguém mesmo, como se toda obra de reforma
interior implicasse uma mentira, fosse uma mentira encarnada. Condenação tanto mais
estranha, se se reflete bem, quanto a sinceridade que se preconiza requer, por sua vez, uma
ascese, posto que se acha totalmente dirigida contra uma certa cegueira espontânea que
acaso corresponda em nós a nosso estado natural.
O que em meu entender priva de todo valor autêntico a essa ideia de sinceridade que
causou estragos, sobretudo entre nós, desde há dez anos, é o fato de que seja essencialmente
153
uma arma que se nega em absoluto a reconhecer como tal e o fato de que o aparente
desinteresse que ela consagra oculta a necessidade mais irreprimível de justificação negativa.
Se for assim, nunca suspeitaremos demasiado das alianças precárias que parecem fazer-se
firmado em nossos dias entre sinceridade e pureza. Ali aonde a sinceridade conduz a esta
indiscrição com respeito a si mesmo, que Wust condena razoavelmente, volta-se, de maneira
expressa, contra a única pureza que apresenta um valor espiritual autêntico, o qual não
significa, em absoluto – deve-se repeti-lo uma vez mais - que esta pureza floresça em uma
penumbra cuidadosamente mantida. Justamente o certo é totalmente o contrário; com efeito,
não se deve certamente ao azar o que dos seres muito puros pareça desprender-se uma luz
que os ilumina e este dado transparente ao espírito, que se chama auréola, pertence à
categoria dos que encerram para o metafísico digno deste nome o ensinamento talvez mais
inesgotável. Porém, esta luz que os pintores mais exímios – muito mais, em meu entender, que
os literatos63 - souberam refletir misteriosamente, situando-a na parte mais destacada de sua
obra, esta luz que é vida porque é Amor, nunca será demasiada rigorosamente distinguida de
uma lucidez, às vezes demoníaca, que possa recair sobre as piores aberrações sem despertar
naquele que a exerce nenhum desejo de pôr-lhe termo, que pode, em uma palavra, esclarecer
as mais espessas trevas sem que essas trevas percam um ápice de sua sufocante opacidade.
E tudo isso depende, suponho, da intenção que anima o olhar que a alma projeta sobre
si mesma, demoníaca, disse; sim, porque em certas ocasiões é o ódio a si mesmo, e não ao
pecado, o que atua nela e a “necessidade de justificação” negativa tende a manchar toda
diferença, toda delimitação, tende a estabelecer que não haja pecado, posto que esse pecado
se confunde comigo, já que abarca até seus confins todo o território de meu ser.
Existe, pois, uma concupiscência da sinceridade que não é senão a exaltação de todas
as forças de negação que há em mim e que talvez seja a forma mais satânica do suicídio por
uma perversão desmedida, o extremo orgulho simula a extrema humildade. Ao abandonar-se
assim ao “demônio do conhecimento”, sem fazer-se submetido previamente a uma ascese, a
uma purificação da vontade, a alma, sem ter, por outra parte, plena consciência disso, instaura
uma idolatria de si mesma, cujos efeitos não podem ser mais que ruinosos, desde o momento
em que favorecem e mantêm essa espécie de satisfação na desesperação da que temos visto
ao nosso redor tão inquietantes exemplos.
Concupiscência da sinceridade, idolatria do conhecimento íntimo, exaltação perversa
provocada pela análise depreciativa de si mesmo... Eis aqui uma série de expressões
sinônimas que designam um mal único: a cegueira, que permite ao eu ignorar a vontade
cósmica de amor que atua, ao mesmo tempo, dentro e fora dele. A piedade a si mesmo, como
Às vezes resulta difícil não perguntar-se se a atividade literária enquanto tal não se dirige sempre em certo grau
– exceto quanto é pura poesia – contra uma certa pureza radical da alma, o que não ocorre em absoluto no que
diz respeito à música e às artes plásticas.
63
154
sabemos, não pode permanecer isolada, nem um instante, da piedade ao outro; e isto é o que
nos permite reconhecer na piedade, tomada em sua essência universal, o laço que une
indissoluvelmente o homem com o conjunto da natureza e com o conjunto do mundo dos
espíritos. Princípio de coesão, absolutamente espiritual, posto que é um princípio de amor,
opõe-se ao encadeamento de necessidade pura, que fundamenta a unidade dos fenômenos
exclusivamente naturais. E Wust chega inclusive a falar da piedade, muito pouco
meditativamente, em minha opinião, como princípio sintético de uma química de ordem distinta,
na qual se basearia a atração mútua entre as almas e seu meio. Neste caso, como em muitos
outros, deixa-se arrastar por uma linguagem, que empresta, demasiado diretamente, do
idealismo alemão de princípios do século passado e, certamente, avança com excesso pelo
caminho que conduz a um panteísmo que não quer a nenhum preço.
Não obstante, por muito suspeitosa que sejam as metáforas das quais não se podem
evitar ao servir-se, encontra-se nele um sentido, talvez bastante justo, desde o ponto de vista
histórico, da relação que na antiguidade romana, e inclusive na Idade Média, unia a vida
pública, considerada em sua coerente unidade, com a piedade do homem em presença da
natureza. Acaso não acerta em ampla medida ao sustentar que os laços sociais propendem a
relaxar-se a partir do momento em que o camponês e o artesão deixam ao comerciante (e ao
trabalhador) e que quando o homem perde o contato com o solo e com as coisas e tende a
ficar isolado das raízes mesmas de sua existência, de sorte que é sua mesma cultura que está
em perigo?64 O camponês, pelo fato de depender da natureza, está obrigado a mostrar-se
paciente com ela. E graças às suas particularidades, que lhe são familiares, amassa
insensivelmente um tesouro de experiências objetivas e, assim, acaba, pouco a pouco, por
acolher os dons da terra como se fosse o salário de seu trabalho e de sua paciência. Nunca se
tratará para ele dessa “crucificação da natureza”, que é a consequência dos progressos de
uma técnica na qual não entram em jogo mais que a inteligência e o puro egoísmo e na qual se
deve ver como “estigma” das ciências físico-matemáticas, tal como se têm desenvolvido nos
tempos modernos. Equivocado ou com razão, Wust atribui ao kantismo, enquanto doutrina
filosófica, a responsabilidade inicial da atitude que estas ciências implicam e da espécie de
fratura de que a natureza é objeto por parte do homem a partir do momento em que este deixa
de sustentar com ela uma relação do tipo das que ligam entre si aos seres suscetíveis de
respeitar-se e de comportarem-se bem uns com os outros. Aos olhos de Wust, a ciência
mecânica da natureza é como uma técnica da violação; o homem moderno, disse, está
marcado por um sinal de Caim; um índice “luciferiano” marca a cultura dos que têm perdido
toda piedade com respeito ao mundo exterior.
64
Naivität und Pietät, p. 133.
155
Não resulta demasiado fácil determinar exatamente o valor que convém conceder a esta
espécie de requisição, animada, em meu entender, por um sentimentalismo um tanto
articulado. As considerações desta ordem correm o risco, em todo caso, de parecer
singularmente vãs, posto que não se vê de nenhuma maneira como poderia ser “remontada”
esta pendência. Entre as objeções que se opõe à crítica de Wust há uma cuja força não é mais
que aparente. Como podemos esperar, perguntamo-nos, estabelecer entre o homem e a
natureza relações que se baseiem em uma interpretação antropomórfica periclitada? Porém,
precisamente deve-se responder que o pensamento moderno dá por aceitados, sobre este
ponto, os postulados metafísicos mais discutíveis. Ademais, os espíritos que se creem mais
totalmente libertos de certa ideologia, nascida de Augusto Comte, admitem, apesar de tudo,
como uma evidência, que o homem progride desde um estado infantil do conhecimento até um
estado propriamente adulto e que a característica de um estado superior ao que se chegou
hoje em dia a “elite intelectual’ é, precisamente, a eliminação do antropomorfismo. O mais
estranho realismo do tempo e, talvez, sobre toda a representação mais sumária, mais
simplista, do crescimento interior está aqui pressuposto; não somente se gloriam de
desconhecer tudo o que pode haver de positivo e, inclusive, de insubstituível em certo candor
original da alma, não somente praticam uma idolatria da experiência, considerada como a
única via de consagração espiritual, senão que, também, admitem, ao pé da letra, que os
espíritos não “marcam a mesma hora”, já que há os que são “mais avançados” , quer dizer,
mais próximos a um terminus ao qual, paradoxalmente e mediante a mais singular contradição,
está proibido chegar inclusive com o pensamento. De maneira que o progresso não consiste já
em aproximar-se a um fim, senão que se define por uma qualidade absolutamente intrínseca,
cujas contrapartidas de sombra, de envelhecimento, de esclerose, negam-se a considerar, sem
dúvida, porque creem mover-se em uma zona de pensamento despersonalizado, da qual
ficariam excluídas por essência essas vicissitudes inseparáveis da carne.
Desde o momento em que se admite com a teologia cristã que o homem é, em certo
grau, uma imagem de Deus, não somente não se pode pronunciar um veredicto negativo
contra o antropomorfismo senão que tal condenação parece estranhar um perigo espiritual
indubitável. “O ponto de vista que prevaleceu entre os filósofos modernos – disse Peter Wust –
resultou radicalmente falso tão pronto como seu olhar se fixou na infinitude do universo
mecânico e tão pronto como se abriu a opinião de que o homem devia ser expulso de seu
posto central no cosmos, já que não é mais que um ponto insignificante na infinita extensão
desta totalidade cósmica.” 65 Certo. Porém, não seria mais exato dizer que é a ideia mesma de
“centro do mundo” a qual foi posta em dúvida pela filosofia moderna? Especialmente a partir de
Kant, o universo não parece comportar nada que possa ser tratado como um centro, ao menos
65
Naivität und Pietät, p. 161.
156
na acepção teórica do termo. Contudo, o pensamento moderno se viu forçado a substituir esse
centro real, a partir deste instante inconcebível, por um foco imaginário situado no espírito. E se
poderia sustentar, sem paradoxos, que a “revolução copernicana” teve como consequência a
instauração de um novo antropocentrismo, absolutamente distinto do antigo, posto que já não
considera ao homem enquanto ser, senão como conjunto de funções epistemológicas. Este
antropocentrismo exclui também toda tentativa de “figurar-se” as coisas à semelhança do
homem e ainda, talvez, de figurá-las de nenhum modo. O sentido da analogia se anula ao
mesmo tempo em que se anula o da forma e, com isso, o concreto é absorvido pelo que
poderíamos chamar o abismo ativo, isto é, ativamente devorador, da ciência. E se diria que
atualmente se está precisando uma nova alternativa entre o antropocentrismo desumanizado,
até o ponto ao qual tendem as teorias idealistas do conhecimento, e um teocentrismo que, se
bem toma plena consciência de si mesmo nos herdeiros do pensamento medieval, não parece
haver sido ainda mais que indistintamente entrevisto pelos filósofos profanos que, rompendo
com toda especulação surgida de Kant, negam-se a reconhecer, em sua plenitude, essa
exigência ontológica que ocupa o centro da vida e que, acaso, trata-se do último segredo do
qual a vida não é mais que o obscuro e a laboriosa entrega.
É este teocentrismo que convém a todas as luzes subtrair se se quer determinar o lugar
que corresponde à piedade no conjunto da economia espiritual. “A piedade – dizia já Fichte –
nos obriga a respeitar a qualquer um que nos apresente um rosto humano”. “Porém, assim –
acrescenta Wust – se converte no laço que transforma a sociedade universal dos espíritos em
uma unidade terrestre e supraterrestre consagrada por inteiro e ao uníssono, em uma civitas
Dei, no sentido agostiniano do termo, ou, também, em uma Igreja, cujos membros, padecentes,
militantes e triunfantes, estão ligados pela relação filial que os une ao seu Pai celestial,
convidados, todos eles, sem exceção, a ocupar um lugar na Ceia eterna do Espírito.” 66
Ainda que a expressão deixe, todavia, algo a desejar, enquanto ao rigor dos termos,
penso que não se pode por menos louvar o universalismo do qual foram extraídas estas
declarações que resultaram em um tom tão puro e tão amplo. Tais declarações sublinham,
sobretudo de maneira maravilhosa, a prioridade absoluta que corresponde nesta ordem à
piedade que Wust denomina o Tu universal. “O paradoxo do espírito finito – escreve – radica
no fato de que permanece submetido à polaridade perpétua que exercem sobre o eu e o tu.
Certo que se trata de sobrepassá-la, posto que lhe seja preciso converter-se em um eu puro,
porém, não pode converter-se nesse eu puro mais que gravitando de forma cada vez mais
intensa em torno ao Tu universal do ser e de toda comunidade ontológica.” 67
66
67
Naivität und Pietät, p. 151.
Naivität und Pietät, p. 139.
157
Desde logo, convém fazer abstração de uma terminologia demasiado diretamente
inspirada nesta ocasião na doutrina de Fichte. Assim, podemos reconhecer a significação
íntima e concreta da ideia que expressa. Aos olhos de Wust, é uma ilusão engendrada pelo
orgulho, o qual nos leva a imaginar-nos que entraremos tanto mais imediatamente em posse
de nós mesmos e de nossa realidade quanto melhor tivermos sabido emancipar-nos das
comunidades particulares, as quais pertencem em princípio. Ao dissipar, seguindo a Tönnies, a
confusão, tão prenhe de consequências, estabelecida em nossos dias pela escola sociológica,
Wust nos recorda que é preciso manter uma distinção estrita entre comunidade e sociedade.
Tönnies entendia por comunidade uma união baseada na consanguinidade e no amor,
uma união tal que seus membros se entrelaçam, em certo modo, organicamente. O termo
sociedade designa, pelo contrário, um tipo de união formado no puro entendimento, deixando
de lado o amor, e sobre um cálculo exclusivamente egoísta. Porém, a filosofia pessimista da
cultura, que caracteriza a Tönnies, não lhe permitiu discernir por completo as consequências
desta distinção, nem sequer interpretá-las com perfeita exatidão. E talvez suponha certa
imprudência por sua parte o ter concedido semelhante valor aos “laços de sangue”. Existe uma
verdadeira comunidade ali onde o homem salvaguarda o que poderíamos chamar as ligaduras
fundamentais de seu ser, ali onde afirma e confirma “essa inclinação natural ao amor que é por
si mesma amor e que penetra a infraestrutura de sua alma”, à maneira de uma atmosfera,
porém, uma atmosfera que seria, ao mesmo tempo, uma presença. Wust, utilizando uma
atrevida metáfora, compara-a a um acumulador que não se descarrega jamais ou, inclusive, a
uma bomba que permite subir, desde as profundezas, as “potências de eternidade do espírito
no organismo autônomo que constitui nossa própria pessoa”. Não obstante e apesar de certas
aparências, Wust não sacrifica nada aos abusos desta metafísica do Es, quer dizer, do espírito
impessoal. Muito pelo contrário, assinala incessantemente seus perigos. Nega-se, inclusive –
em uma página que muito me agradaria citar em sua totalidade – a admitir a existência dessa
natureza em Deus, que se mantém em certas doutrinas teístas – talvez se possa incluir entre
elas a do Schelling do último período – como uma sobrevivência dos mesmos erros com qual
pretendiam acabar para sempre. Evidentemente, o termo natureza não deve ser tomado aqui
na acepção de essência. “Neste sentido, é claro que existe uma natureza em Deus, posto que
tudo o que é, possui e deve possuir uma essência.” O problema consiste em saber se existe na
realidade do Espírito absoluto uma zona transpessoal e, por isso, “impessoal” 68, da qual
procederia, de modo natural, a atividade da pessoa, atividade que se exerce segundo o modelo
do princípio cego, o puro Este, que rege a natureza. Em outros termos: a ontologia de Spinoza
deve ser considerada como válida? Mas é que esta ontologia, afirma Wust em alguns termos
que nos fazem pensar em Renouvier, supõe sempre o desconhecimento da prioridade
68
Naivität und Pietät, p. 34.
158
necessária do princípio da pessoa em respeito ao princípio da coisa. É impossível conceber em
Deus a existência de uma zona, por limitada que seja, que permaneça opaca a esta Luz, não
somente central, senão única, que é personalidade absoluta. O Logos não é estranho – nem
mesmo na medida em que se possa sê-lo – à espiritualidade da pessoa divina. Confunde-se
com ela em uma identidade íntima e indissociável para sempre.
Porém, o abismo do amor (Liebesabgrund), que existe em Deus e no qual se afoga
nosso olhar, não pode ser tratado como uma natureza (irracional, nesta ocasião) que estaria
nele como um princípio segundo e irredutível: “Somente para nós este Amor eterno do Criador,
que lhe tem obrigado a sair de sua bem-aventurada autossuficiência, mostra-se como um
princípio irracional que parece manifestar-se sob uma forma impessoal e à parte da Divindade;
porém, na realidade nos dá somente um aspecto novo de sua essência puramente pessoal, um
aspecto suscetível de revelar-nos a espiritualidade da pessoa absoluta de Deus e isso segundo
as dimensões de sua livre atividade.”
69
Sendo assim, está claro que uma atividade espiritual
finita, qualquer que seja, desde o momento em que se orienta em um sentido positivo, quer
dizer, até a ordem, não pode basear-se mais que no amor. Para dizer a verdade, trata-se
menos de um eco do que de uma resposta, por sua vez confusa e ininteligível, que o Amor
eterno de Deus se suscita a si mesmo. Ao afirmar de maneira igualmente categórica a
prioridade do amor sobre a ordem, Wust descarta, inclusive, a possibilidade desta idolatria do
intelecto ou, o que vem a ser o mesmo, das verdades eternas, as quais limitam, de tal modo, a
afirmação teísta que talvez lhe arrebate seu valor mais positivo. Deve-se acrescentar, ademais,
que em toda esta parte de sua doutrina, Wust se apoia na teoria agostiniana e faz sua a
famosa fórmula omnia amare in Deo, fórmula que se encontra manifestadamente em um ponto
de convergência de todas as suas opiniões sobre a piedade; e, em particular, fica
perfeitamente claro o fato central de que a piedade a si mesmo não é, no fundo, mais que uma
modalidade do temor de Deus e somente degenera em egoísmo e em princípio universal de
erro quando se aparta indevidamente desta piedade superior e quando desvia sua atividade
até a “zona de imanência”; quer dizer, até a mais falaz autonomia.
É fácil compreender que Wust nos convida a operar um “restabelecimento” espiritual
completo – isto é, da pessoa inteira, tanto sua inteligência como de sua vontade. E eu creio
que se pode afirmar, sem cometer com isso nenhuma indiscrição, que é um restabelecimento
semelhante ao que Wust levou a cabo em si mesmo, com uma espécie de heroísmo ingênuo,
no curso destes últimos anos. Ademais, e assim disse expressamente, ao final de sua Dialética
do Espírito, não se trata de um sacrificium intellectus, quer dizer, de uma abdicação do espírito,
o qual não seria mais que um ato de desespero. O que nos pede, em meu entender, é que
abandonemos, de uma vez para sempre, certo tipo de exigências – inclusive aquela mediante a
69
Naivität und Pietät, p. 163.
159
qual se define o que ele denomina gnosticismo absoluto -, que renunciemos, em consequência,
à ideia de um saber último, suscetível de implantar um todo orgânico que se revela
incompatível com os caracteres fundamentais do Ser. É nisto, nesta noção ou, mais
exatamente, neste pressentimento do valor metafísico que possui, por direito próprio, a
humildade, onde reside, pelo menos em minha opinião, a perspectiva talvez mais original de
Wust para a especulação contemporânea.
E sem dúvida a ideia conexa, segundo a qual o orgulho é um princípio de cegueira,
forma parte do que se poderia chamar a biblioteca básica da sabedoria humana; é uma dessas
platípodes sepultadas sob o pó dos séculos, que já não nos molestamos em exumar,
seguramente porque sua fecundidade espiritual parece esgotada para sempre. E, contudo, se
nos tomássemos ao trabalho de aplicar no campo do pensamento despersonalizado, ou
pretendidamente tal, este lugar comum da moral individual, acaso ficássemos surpreendidos
dos horizontes que se apresentariam de repente ante nosso olhar interior.
Temos de dizer, todavia, que a este respeito se impõe um imenso labor de crítica
construtiva: é preciso levar a cabo profundamente e exaustivamente o exame de todos os
postulados que subentendem, com uma desenvoltura verdadeiramente surpreendente, um
pensamento que, depois de ter despojado o espírito de seus atributos e de sua capacidade
ontológica, não deixa de conferir-lhe no mesmo grau algumas das mais terríveis prerrogativas
Daquele a quem tal pensamento se imagina ter destronado.
160