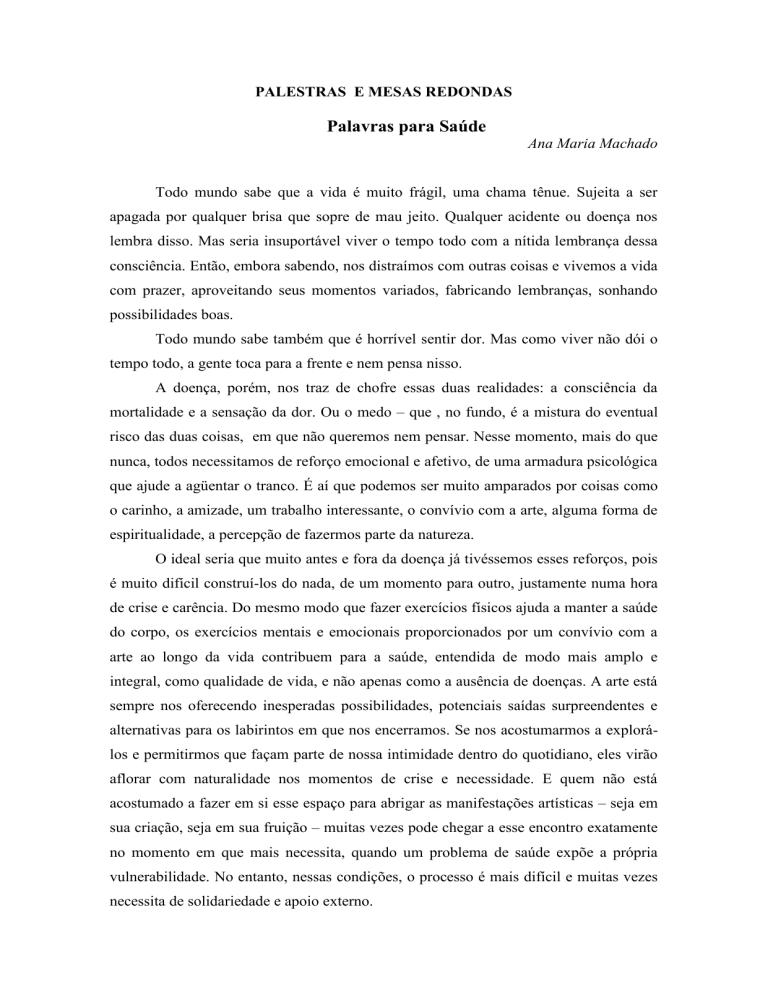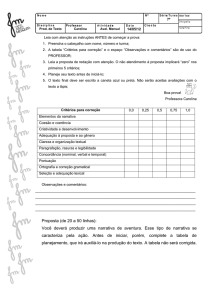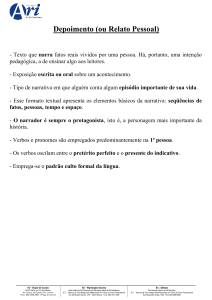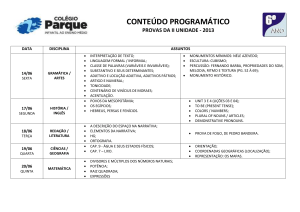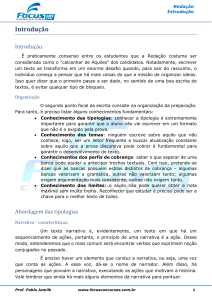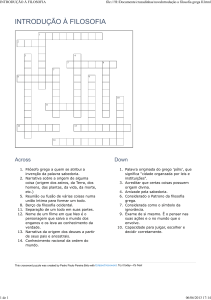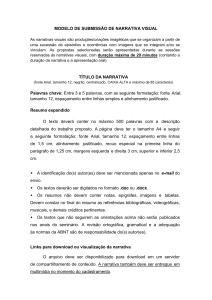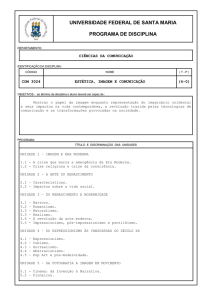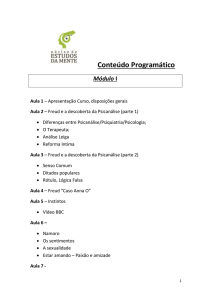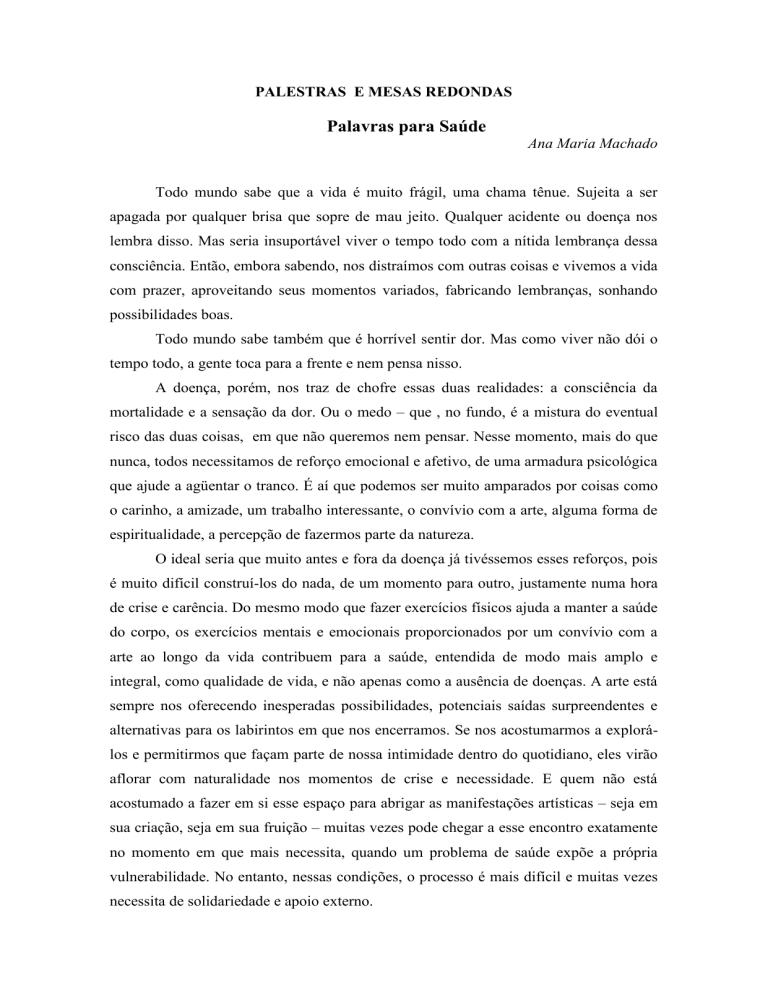
PALESTRAS E MESAS REDONDAS
Palavras para Saúde
Ana Maria Machado
Todo mundo sabe que a vida é muito frágil, uma chama tênue. Sujeita a ser
apagada por qualquer brisa que sopre de mau jeito. Qualquer acidente ou doença nos
lembra disso. Mas seria insuportável viver o tempo todo com a nítida lembrança dessa
consciência. Então, embora sabendo, nos distraímos com outras coisas e vivemos a vida
com prazer, aproveitando seus momentos variados, fabricando lembranças, sonhando
possibilidades boas.
Todo mundo sabe também que é horrível sentir dor. Mas como viver não dói o
tempo todo, a gente toca para a frente e nem pensa nisso.
A doença, porém, nos traz de chofre essas duas realidades: a consciência da
mortalidade e a sensação da dor. Ou o medo – que , no fundo, é a mistura do eventual
risco das duas coisas, em que não queremos nem pensar. Nesse momento, mais do que
nunca, todos necessitamos de reforço emocional e afetivo, de uma armadura psicológica
que ajude a agüentar o tranco. É aí que podemos ser muito amparados por coisas como
o carinho, a amizade, um trabalho interessante, o convívio com a arte, alguma forma de
espiritualidade, a percepção de fazermos parte da natureza.
O ideal seria que muito antes e fora da doença já tivéssemos esses reforços, pois
é muito difícil construí-los do nada, de um momento para outro, justamente numa hora
de crise e carência. Do mesmo modo que fazer exercícios físicos ajuda a manter a saúde
do corpo, os exercícios mentais e emocionais proporcionados por um convívio com a
arte ao longo da vida contribuem para a saúde, entendida de modo mais amplo e
integral, como qualidade de vida, e não apenas como a ausência de doenças. A arte está
sempre nos oferecendo inesperadas possibilidades, potenciais saídas surpreendentes e
alternativas para os labirintos em que nos encerramos. Se nos acostumarmos a explorálos e permitirmos que façam parte de nossa intimidade dentro do quotidiano, eles virão
aflorar com naturalidade nos momentos de crise e necessidade. E quem não está
acostumado a fazer em si esse espaço para abrigar as manifestações artísticas – seja em
sua criação, seja em sua fruição – muitas vezes pode chegar a esse encontro exatamente
no momento em que mais necessita, quando um problema de saúde expõe a própria
vulnerabilidade. No entanto, nessas condições, o processo é mais difícil e muitas vezes
necessita de solidariedade e apoio externo.
Neste encontro, estamos reunindo muita gente que sabe disso por dentro, gente
que se movimenta
em seu dia-a-dia com as fronteiras onde se interpenetram os
trabalhos com saúde e arte, com terapia e leitura, com a medicina e a narrativa ou
poesia. Gente que tem muito a ensinar a todos nós. Sempre ouvi fascinada os relatos
dessas experiências. Lembro, entre outros, o que acompanhei ao longo dos anos do que
foi sendo desenvolvido, entre outros, pelo grupo de Rebeca Cerda no México, por
Beatriz Quintela em Portugal e pela entusiasmada dedicação do pessoal do Hospital
Jesus aqui no Rio, com a Biblioteca Viva, tendo à frente a nossa doutora Isabel Nunes.
Em leituras, travei conhecimento com os trabalhos de Alida Gertsie em seus programas
de Arte-Terapia na universidade de Hertfordshire na Inglaterra1, ou de Shaun McNiff
com sua proposta de arte como medicamento, no Endicot College de Beverly,
Massachusets. Menciono essas referências apenas como possível utilidade a quem
quiser se informar. Mas, na verdade, não é disso que vou me ocupar diretamente nesta
fala.
Atendo-me ao tema proposto, que me convida a discutir Palavras e Saúde,
preferi trazer à reflexão algumas considerações sobre a literatura – sobretudo poesia e
narrativa – e sua ligação com o assunto que estamos discutindo. Com muito cuidado
para evitar qualquer traço de charlatanismo, não vou me meter a falar do que não
conheço.
Por um lado, não pretendo me deter especificamente nas questões do estímulo à
expressão e à criação, que tantos frutos tem dado em trabalhos terapêuticos concretos.
Por outro, não tenho a pretensão de sugerir linhas de conduta para quem opera na outra
ponta, estreitando o contato receptor dos pacientes com a literatura por meio de leitura
direta para eles ou da facilitação de seu acesso à palavra escrita. Essas duas grandes
vertentes estão aí, de pé, como um telhado de duas águas que nos abriga. Com certeza
serão amplamente discutidas no encontro que agora inauguramos. Mas não é sobre elas
que vou lançar meu foco.
O que proponho abordar é outro aspecto da questão. Como escritora, há muito
tempo, constatei que existe uma pergunta universal, que todas as platéias com que tive
contato, em todas as latitudes, de todas as idades, imediatamente levantam quando têm a
oportunidade de encontrar um autor. Se não for a primeira pergunta feita por qualquer
público, é a segunda ou terceira. Tive que responder a isso em uma roda com velhos
1
Alida Gersie and Kancy King, Storymaking in Education and Therapy, Jessica Kingsley Publishers,
Londres/ Estocolmo, 1990.
numa aldeia sem eletricidade, no calor africano de Angola e, poucos meses depois,
numa sala de aula com calefação, vendo a neve cair lá fora, entre crianças suecas. Em
escolas públicas do interior de Mato Grosso, acessíveis por canoa, ou em pueblos
indígenas no México, à sombra de um vulcão. Mas também em uma universidade
inglesa ou em um seminário de especialistas em Osaka, no Japão. A pergunta pode vir
formulada em termos adultos e letrados: “Como se desenvolve o processo de criação de
um texto literário?” Mas também pode vir na linguagem bem simples das crianças. “De
onde você tira idéia para inventar suas histórias?” A curiosidade é a mesma e é
universal. Sinal de que a indagação assim levantada interessa a todo mundo, tem a ver
com algo mais além de modismos passageiros ou traços culturais específicos de uma
região.
Achei que, se tentássemos aqui examinar esse processo mais de perto,
poderíamos lançar um pouco de luz sobre as relações entre saúde e palavras.
Começo lhes dizendo o que fui desenvolvendo como possível resposta a esta
pergunta, ao longo da vida, quando ela me vem de crianças. Pergunto de volta : “E de
onde você tirou a idéia para fazer essa pergunta? Do seu dedão do pé?” Os risos que se
seguem nos lançam na primeira etapa da reflexão. “Não, tirou a idéia da cabeça, como
todo mundo. Como as minhas histórias, como todas as histórias, como toda invenção,
como toda a escrita. Todas as perguntas a gente tira da cabeça. E inventar histórias é só
um jeito diferente de perguntar e sair experimentando possíveis respostas.”
A partir daí, vendo que somos todos iguais, podemos ficar mais à vontade. O
mistério é outro. É a forma admirável pela qual essas perguntas, respostas e idéias
entram aí e como em cada cabeça se transformam em outra coisa, para depois saírem
como idéias diferentes, para cada pessoa. E como, nesse processo, a literatura consegue
essa feito incrível e misterioso: que mesmo saindo da cabeça de um único indivíduo,
essas historias cheias de perguntas cheguem às cabeças e corações de tantas outras
pessoas, às vezes até lhes dando a sensação de que são respostas e idéias especiais para
cada uma delas, acertando no alvo de um destinatário único. Todos nós, leitores,
conhecemos isso. É exatamente esse fenômeno que nos faz sermos apaixonados pela
leitura – a possibilidade de um encontro com um autor que é nosso porta-voz, fala por
nossos anseios e perplexidades, consegue verbalizar o que sentimos lá no fundo e não
havíamos trazido à consciência de modo tão perfeito. Alguém que lança luz sobre um
canto recôndito de nossa mente, que nunca mais será o mesmo após esse encontro.
Então podemos passar a discutir os processos mentais. Os mecanismos
cognitivos e expressivos. Como autora, posso tentar compartilhar então com os leitores
a maneira como essas coisas se processam, na medida em que conseguimos ter alguma
consciência delas, ao analisá-las com atenção.
Tudo começa por uma percepção. Notamos algo no mundo em volta. Essa
percepção – muitas vezes súbita, momentânea e inconsciente – no fundo é o repentino
amadurecimento de uma soma de infinitas observações se somando, se multiplicando e
interagindo no cotidiano. Uma fruta madura que cai de repente de um galho, com a
brisa, mas levou um tempão até chegar àquele ponto, crescendo, ganhando corpo,
juntando sumo, adquirindo peso. Marca a contribuição do presente, de um instante, um
ponto da atualidade, na atuação constante do dia-a-dia sobre a mente (e vice-versa, da
mente sobre o entorno a cada segundo da existência). O leigo às vezes só repara nessa
centelha do momento e lhe dá o nome de inspiração, pensando nela como uma luzinha
que se acende, súbita, com uma idéia. Mas se quisermos usar essa palavra, talvez seja
muito mais útil pensar numa inspiração como parte da respiração – permanente,
constante, marca de vida, momento anterior e posterior à expiração, permanente
pulsação entre aproveitar o oxigênio que vai ser energia e expelir o veneno do gás
carbônico – que o ambiente vegetal em volta, por sua vez, vai inspirar e devolver como
oxigênio após a fotossíntese. Para dentro, para fora. Dois movimentos indissociáveis.
Toda inspiração tem sua expiração correspondente. De certo modo, tudo que inspira um
artista também o faz expirar um pouco. Constatação fisiológica e metafórica.
A percepção, é pois, o primeiro movimento que desencadeia o processo da
criação literária. E falo especificamente da literatura porque é o que nos ocupa, mas
também porque outras artes, que têm um repertório de instrumentos, ferramentas e
mecanismos próprios, menos compartilhados com uma atividade cotidiana como é a
fala, podem com igual força brotar de uma manipulação da própria técnica, do
exercício: o músico que alterna uma seqüência de intervalos ao dedilhar e descobre uma
frase musical, o pintor que aproxima certas cores na palheta, o desenhista cuja mão risca
traços prenhes no meio de um simples esboço, o dançarino que desenvolve um
movimento inesperado a partir da justaposição de exercícios que fazia mecanicamente...
Como o processo de exercício diário do escritor é de outro tipo, inteiramente diluído
num cotidiano igual ao de todo mundo, em que expressão e comunicação se confundem,
é preciso desenvolver um tipo especial de atenção, para não perder esses momentos
deflagradores que em geral surgem no meio do dia-a-dia, e não de preferência num
tempo conscientemente dedicado ao exercício para a criação, como muitas vezes é o
caso com outras artes. Era a isso que Roland Barthes se referia ao dizer que o escritor
padece de uma estranha doença – ele vê a linguagem. De qualquer modo, essa
percepção marca o momento pelo qual o presente se manifesta e contribui para a criação
literária.
Mas temos uma noção de tempo mais espessa do que apenas o presente. Temos
passado e sabemos que o temos. Individual, pessoal, mas também coletivo, histórico. Aí
entra em cena o segundo movimento fundamental para a criação literária – o da
memória. O das lembranças que cada um de nós tem e o da história que cada um de nós
traz, feita do que os outros já nos contaram oralmente e nos deixaram de herança por
meio da palavra escrita e das construções culturais em geral.
Ao mesmo tempo, a memória desse passado nos incita e nos serve de modelo.
Um escritor não tem que inventar a escrita a cada nova obra. Existe o alfabeto, existe
uma tradição literária, existe toda a história da literatura, que ao mesmo tempo pesa e
norteia, obriga a ser diferente e estabelece paradigmas. Um autor é também leitor, vive
as duas pontas do diálogo, sabe do que gosta e não gosta nos textos lidos, intui suas
afinidades e famílias, rejeita suas idiossincrasias. Tudo indica que, quanto mais leitor,
melhores condições terá para ser bom escritor. E, como cidadão, sabe também onde se
situa em sua história e sua cultura, como se posiciona diante da sociedade onde vive.
Como indivíduo, conhece sua própria história, tangenciou a de outros, percebe o que
quer guardar, o que não consegue descartar mesmo que queira. Em uma palavra, está
inteiramente imerso em memória. Crescente a cada minuto que passa, com as novas
impressões que retém. Um manancial inesgotável. Também essa vertente contribui para
o processo mental de dar idéias e estimular a criação.
Memória e observação constituem, pois, dois poderosíssimos componentes do
mecanismo mental que leva a criar. Para completar a trança, falta mais uma. A vertente
que não nos rodeia no presente nem é herdada do passado, mas a que aponta para o
futuro. Tão importante que Ligia Fagundes Telles a destaca mais do que a observação,
ao chamar seu belo livro de “Invenção e memória.” Porque no fundo é isso mesmo,
invenção. Ou imaginação. Um vice-versa da memória. Lembranças do futuro. Que pode
ser ou não ser. Mas porque pode, tem poder. Ou seja, toda a força dessa possibilidade,
dessa latência pulsante. É o terreno onde se manifestam os sonhos, os desejos, os
medos. O desespero e a esperança. O que ainda não aconteceu e pode até não acontecer,
mas poderia... Poder puro, total, incubado. Indomável, incontrolável. Criador por
excelência, ao sugar a percepção e a memória para instalar o universo do não-vivido, do
jamais experimentado, e fundar as alternativas fecundas movidas pelo desejo,
virtualmente guardadas dentro de cada um à espera do sol que as acenda, aqueça e
ilumine. E ainda perguntam, como no verso de Drummond “Trouxeste a chave?”
Constatados esses três tempos da criação, tecida na percepção do presente, na
memória do passado e na imaginação de uma possibilidade futura, em geral paro por aí
na resposta aos leitores curiosos diante da criação literária. Passo para outra pergunta.
Para este auditório, porém, quero prosseguir um pouco mais.
Para entender o funcionamento desse mecanismo e sua importância para o
desenvolvimento humano e a saúde das pessoas individualmente, permito-me recorrer a
Sigmund Freud.
Desculpem-me se detalho muito a explicação que ele dá, mas
considero que vale a pena acompanhar de perto o raciocínio do pai da psicanálise. Ele
sempre foi fascinado pela criação artística, como um dos grandes mistérios do
inconsciente, ao lado do trabalho dos sonhos. Interpretou detalhadamente e analisou a
obra de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Goethe, Jensen,
Ibsen, Dostoievsky, Schiller e muitos outros. Suas observações o levaram a formular
uma hipótese brilhante sobre o papel fundamental que a literatura exerce para a espécie
humana.
Para Freud, os primeiros traços de imaginação criativa aparecem na infância e se
expressam por meio de jogos e brincadeiras. Brincar é uma necessidade fundamental da
criança, e a atividade preferida entre todas, aquele que permite criar um universo
próprio, rearrumando os elementos do mundo de uma maneira nova, que cause prazer. E
isso é muito sério, brincar é coisa séria, “O oposto da brincadeira não é ser sério, mas
ser real”, nos diz ele. Porque a criança distingue perfeitamente seu mundo de
brincadeira, imaginário, de mentirinha, faz-de-conta, por oposição a tudo aquilo que
constitui a realidade. Sabe que existem vínculos entre eles, mas sabe muito bem que não
são a mesma coisa. Seu mundo imaginário é investido de uma grande intensidade
emocional, mas é claramente separado da realidade.
Para Freud, todas essas brincadeiras de crianças são determinadas por um único
desejo, que as ajuda em sua formação – o de crescer, ser grande. Um desejo natural,
socialmente aceito, e que não é necessário esconder. Por meio da brincadeira, a criança
alivia a carga pesada que a vida lhe impõe e pode se divertir e ter prazer.
À medida que as pessoas crescem, porém, já não se entregam da mesma forma a
esse prazer de brincar. Acontece, porém, que a coisa mais difícil que existe para a mente
humana é desistir de um prazer já experimentado. Freud diz que ninguém o consegue,
apenas fazemos uma troca. Em vez de uma renúncia, fazemos uma substituição. Assim,
a criança que deixa de brincar se transforma em um adulto que devaneia ou fantasia.
Mas esconde essas fantasias dos outros, se envergonha delas, as considera seu tesouro
mais íntimo que não pode ser mostrado – talvez até por achar que só ele as tem. Com
freqüência, são manifestações de desejos reprimidos e seus derivados, que só
conseguem se expressar de forma muito distorcida. Sejam eles desejos eróticos ou de
ambição.
Se essas fantasias se tornam superpoderosas e excessivamente abundantes,
estabelecem as condições ideais para que se instale uma neurose ou psicose – diz Freud.
Constituem as precursoras mentais imediatas da maioria dos sintomas de que seus
pacientes se queixavam e foram um dos atalhos que ele confessou ter utilizado para
estudar a patologia.
Mas ele lembra também que há um caminho em que elas não ficam trancadas
dentro de um indivíduo, girando sobre si mesmas – é quando elas são vivenciadas por
um escritor criativo, capaz de artificialmente separar seu ego, por meio de uma autoobservação, em vários egos parciais e, em conseqüência, personificar os conflitos
correntes de sua própria vida mental como se estivessem acontecendo em vários heróis
distintos. E, às vezes até, deixando um desses funcionar como espectador que assiste ao
desenrolar das situações e comenta as ações e sofrimentos dos outros,
Freud se desculpa se o mecanismo que descreve para essa criação parece muito
complexo. Quando o descreveu por primeira vez, era muito inovador, uma ruptura.
Porque com certeza todos nos reconheceremos no que ele descreve:
Uma forte experiência no presente desperta num escritor criativo uma lembrança de uma
experiência anterior (freqüentemente na infância) da qual agora se engendra um desejo que vai se
realizar na obra criativa. Essa obra em si exibe vestígios da ocasião provocadora presente , mas
também da velha lembrança.
Se quisermos uma imagem, podemos ver esse processo como uma faísca no
presente que se alimenta de um combustível passado e acende uma obra futura…
Desse modo, um texto criativo, como um devaneio, é a continuação e a
substituição daquilo que na infância era uma brincadeira, fundamental para o equilíbrio
da mente humana.
Mas só isso ainda não basta como explicação do processo. Se fosse só isso, não
haveria diferença entre literatura ou arte e um devaneio ou uma fantasia. Resta um
aspecto crucial nas palavras de Freud: examinar “por que meios o escritor criativo
obtém em nós os efeitos emocionais que são despertados por suas criações”.
Com essa observação, ele deixa para trás a discussão da fantasia e envereda pela
questão dos efeitos poéticos.
Se uma pessoa que não é artista deixasse de esconder suas fantasias e resolvesse
comunicá-las a nós, não conseguiria nos dar prazer com suas revelações. Tais fantasias,
quando as conhecemos, nos repelem ou, pelo menos, nos deixam indiferentes. Mas quando um
autor criativo nos apresenta seus jogos ou nos conta o que nos inclinamos a tomar como seus
devaneios pessoais, nós o recebemos como uma experiência que nos causa muito prazer, e que
provavelmente nasce de muitas fontes confluentes. Como ele consegue isso é seu segredo mais
íntimo. Trata-se de sua ars poetica essencial, que está na técnica com que consegue superar nosso
sentimento de repulsa, que sem dúvida está ligado às barreiras que se erguem entre um ego e os
outros. (…) O escritor suaviza o efeito de seus devaneios egotistas por meio de alterações e
disfarces e, ao mesmo tempo, nos seduz com uma oferenda de prazer puramente formal – isto é,
estética – na maneira pela qual nos apresenta suas fantasias.
É um bônus de prazer, diz ele, uma forma de gozo gratuito que vem de presente,
para permitir que fontes psíquicas mais profundas possam liberar um prazer muito
maior. Essa é a função do prazer estético que nos dá a literatura, segundo Freud: liberar
as tensões da mente para que sejamos capazes de fruir nossos próprios devaneios e
fantasias sem auto-recriminações ou vergonha.
Um papel fundamental para garantir a saúde emocional de cada um. Todos
temos direito à literatura, portanto. Não apenas porque uma sociedade precisa de ter
pessoas educadas para que progrida e cresça. Não é apenas uma questão de educação. É
uma questão de saúde básica. Sem a literatura, caminhamos para uma sociedade doente.
Absolutamente convencida disso, venho cada vez mais dedicando meus esforços
à defesa desse direito. Recuso-me a ver a arte como um luxo elitista. Pelo contrário acho
elitista é a pretensão de manter sua fruição reservada a uns poucos sofisticados e
privilegiados, muitas vezes por meio de discursos superficiais, com freqüência até
repletos de clichês politicamente corretos e demagogicamente sedutores na superfície,
mas no fundo dolorosamente equivocados. Como insinuar que “esses livros de literatura
não têm nada a ver com a realidade das pessoas.”
De minha parte, considero a arte – e, por inclusão, a literatura – uma
necessidade vital do ser humano e não aceito desculpas para que a população seja dela
alijada. Nessa perspectiva,
não engulo que certos equívocos que conduzem ao
desrespeito a esse direito sejam desculpados de forma condescendente, apenas como
mal-entendidos bem intencionados ou erros políticos. Vejo-os, antes, como fruto de
uma atitude antiética, fruto de um egocentrismo tão voltado para si mesmo que não
reconhece a urgência do outro. Com isso, nega à população a oportunidade de ter
acesso a veredas interiores capazes de ajudar a transcender a insatisfação existencial
inerente a toda a condição humana. Como todos nós aqui sabemos muito bem, é isso o
que a literatura pode fazer por qualquer indivíduo – e tem feito pelos séculos afora.
Impossível compactuar com mecanismos destinados a impedir esse encontro, que devia
ser garantido na alegria e na pobreza, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Para
sempre.
__________
Ana Maria Machado é escritora e membro da Academia Brasileira de Letras.
Detentora de inúmeros prêmios, dentre eles o Hans Christian Andersen, a mais
importante láurea em literatura para crianças e jovens, concedida pelo International
Board on Books for Young People – IBBY – é autora, dentre outras obras, de Bisa Bia
Bisa Bel, De Olho nas Penas, Do Outro Lado Tem Segredos, Menina Bonita com Laço
de Fita, Os Canteiros de Saturno.
Palavras e Saúde no Contexto da Relação Médico-Paciente e seu
Desafio na Formação Médica
Comentário sobre a palestra “Palavras e Saúde” de Ana Maria Machado
Alicia Navarro de Souza
Não posso iniciar um comentário às palavras de Ana Maria Machado sem me
referir à sua ars poetica essencial que, tocando ao frágil herói que existe em cada um de
nós, o convoca, a partir do efeito poético de suas palavras, a não perder a oportunidade
de sair em defesa do que há de humano em cada um de nós, particularmente de nosso
desamparo.
Quem se aventura na experiência de sofrimento inerente à doença, ao risco de
perda da saúde e da vida, ao limite da morte, se defronta com o desamparo inevitável da
condição humana. De imediato, buscamos lidar com esse desamparo pelo alívio do
sofrimento. O conhecimento surge logo em cena, como um Deus protético a nos salvar.
E não raro aparecem graves e grandes problemas quando descobrimos que o
conhecimento não é todo-poderoso, o sujeito que o produz, ou dele lança mão,
tampouco o é, e o desamparo, a angústia da incerteza são raramente suportáveis.
Não é preciso ser médico, estudante de medicina ou profissional da área da
saúde para saber de que experiência de desamparo, angústia, frustração e sofrimento
estamos falando. Mas, sem dúvida, os profissionais que buscam conhecimento e
exercem seu ofício nesse campo da saúde se defrontam, cotidianamente, com a
experiência de significar a promessa de cura, muitas vezes insustentável, inserida nesse
cenário de exigências impossíveis.
Não creio que seja preciso muito argumentar para dizer o quanto pacientes e
profissionais da saúde podem se beneficiar da palavra poética. No entanto, o lugar da
literatura, como em geral das ciências humanas e sociais, na formação e na prática dos
profissionais de saúde, é muito complexo. Gostaria de contar um pouco desta história,
contextualizando a resposta que me é possível diante da convocação solidária que me
despertou o efeito poético das palavras de Ana Maria, falando do meu lugar de médica,
psicanalista e professora, que há 25 anos exerce o desafio de ensinar a relação médicopaciente, objeto do campo conhecido por Psicologia Médica.
Não é necessário ser psicanalista para apreciar o valor das palavras na relação
entre as pessoas e, particularmente, na relação médico-paciente. Esta relação que se dá a
partir do encontro entre alguém que experimenta um sofrimento, e que não pode dar
conta dele apenas com seus próprios recursos, mesmo que ele não saiba disso, e um
outro que detém um saber, que o coloca em posição de poder ajudar a quem está
sofrendo, portanto uma relação marcada por uma assimetria intrínseca. Do encontro do
desamparo com o saber nasce a possibilidade de relação entre dois sujeitos com
múltiplas determinações. Da parte do paciente, ele detém um saber sobre sua experiência
de doença, que sofre determinações de sua história de vida singular e de sua posição
como sujeito social. Da parte do médico ou estudante, ele detém um saber sobre a
doença, uma experiência de tratar de pessoas doentes, uma biografia e uma inserção na
cultura como profissional e, de forma mais ampla, como sujeito social. Esta relação é
portanto um campo intersubjetivo que possibilitará a construção de narrativas sobre o
sofrimento, a doença em questão.
A psiquiatria é a única especialidade médica onde falar e escutar é
explicitamente considerado terapêutico. Isto se deve à influência da psicanálise, que nos
fala da “cura pela palavra”, a palavra realizando-se como ato na transferência, referindose à psicoterapia como a mais antiga forma de terapêutica em medicina. Como nos disse
Freud:
As palavras, originalmente, eram mágicas e até os dias atuais conservaram muito do seu
antigo poder mágico. Por meio de palavras uma pessoa pode tornar outra jubilosamente feliz ou
levá-la ao desespero, por palavras o professor veicula seu conhecimento aos alunos, por palavras o
orador conquista seus ouvintes para si e influencia o julgamento e as decisões deles. Palavras
suscitam afetos e são, de modo geral, o meio de mútua influência entre os homens. Assim, não
depreciaremos o uso das palavras na psicoterapia... (Freud, [1916 [1915]] 1976, p.29-30).
No entanto, já na medicina clássica, as palavras do paciente eram algo que o
médico buscava separar da essência das doenças, e na medicina moderna, com a
racionalidade anatomoclínica (Foucault, 1977), as palavras têm progressivamente se
tornado uma expressão pouco eficaz ou um frágil reflexo da linguagem dos órgãos e
tecidos e suas alterações patológicas, portanto pouco valorizadas pelo médico na sua
investigação sobre a doença.
Também Freud apontou com clareza o abismo entre as operações de
conhecimento na medicina e na psicanálise: o ver e o escutar.
Na formação médica os senhores estão acostumados a ver coisas. Vêem uma preparação
anatômica, o precipitado de uma reação química, a contração de um músculo em conseqüência da
estimulação de seus nervos. Depois, pacientes são demonstrados perante os sentidos dos senhores:
os sintomas de suas doenças, as conseqüências dos processos patológicos e, mesmo, em muitos
casos, o agente da doença isolado. [...] Na psicanálise, ai de nós, tudo é diferente. Nada acontece
em um tratamento psicanalítico além de um intercâmbio de palavras entre o paciente e o analista
(ver Freud, [1916 [1915]] 1976, p.28-29).
Evidentemente, os saberes emergem, se difundem e se instituem em maior ou
menor grau, na medida em que respondem a certas demandas que se ordenam no espaço
social, determinando mudanças significativas nas práticas sociais nesse cenário sempre
dinâmico.
Após a II Guerra Mundial, com as novas concepções de cidadania e saúde,
passando a saúde a ser um direito de todos e um dever do Estado, a questão da
promoção da saúde e bem-estar social emerge com maior destaque. Surge, nessa época,
a Organização Mundial da Saúde, que não define a saúde negativamente, mas a define
muito além da “vida no silêncio dos órgãos” (Leriche apud Canguilhem, 1978, p.67),
numa concepção muito mais ambiciosa: “A saúde é um estado de completo bem-estar
físico, mental e social, e não consiste somente em uma ausência de doença ou
enfermidade” (OMS).
Na década de 1950, a função psicoterápica na relação médico-paciente ou o
poder terapêutico das palavras reconhecido por Freud ganha maior difusão entre os
médicos, com o trabalho pioneiro do psicanalista húngaro Michael Balint, em resposta à
demanda social constituída por clínicos gerais ingleses, que apontavam a insuficiência
da formação médica com relação à grande demanda de doentes funcionais. Balint,
considerando que “a droga mais freqüentemente utilizada na clínica geral era o próprio
médico”, parte para uma proposta interdisciplinar de estudo da “farmacologia da
substância médico,” empreendendo uma investigação-treinamento das possibilidades de
aplicação da teoria psicanalítica no campo dinâmico da relação médico-paciente. Com o
objetivo de estudar e desenvolver a função psicoterápica dos clínicos gerais em sua
relação com seus pacientes – no interjogo das “ofertas” dos pacientes e das “respostas”
dos médicos – Balint centrava-se na contratransferência dos médicos, ou seja, no “modo
como o médico utiliza sua personalidade, suas convicções, seus conhecimentos, seus
padrões habituais de reação, etc.” (Balint, 1975, p.255).
Nas décadas de 1950 e 1960, nas escolas médicas americanas, psiquiatras de
orientação psicanalítica e cientistas sociais pesquisavam e ensinavam o interjogo
dinâmico dos fatores psicológicos, sociais, culturais e biológicos na saúde e na doença e
no cuidado aos pacientes. São também desse período os estudos clássicos sobre o
processo de socialização através do qual estudantes de medicina se transformam em
médicos, assim como estudos críticos sobre o hospital como organização social e sua
repercussão nas relações entre profissionais de saúde, pacientes e familiares, com ênfase
no poder médico e a conseqüente desumanização, assujeitamento ou objetificação do
doente implicada em seu exercício.
No Brasil, a disciplina de Psicologia Médica dedicada ao ensino da relação
médico-paciente foi introduzida pelo Prof. Danilo Perestrello, psiquiatra e psicanalista
que, de forma pioneira, ainda nos anos 1950, na Faculdade de Medicina da UFRJ,
institucionalizou este desafio.
A Psicologia Médica, tendo como objeto o campo dinâmico da relação médicopaciente, é uma prática interdisciplinar institucionalizada, na qual se encontra
permanentemente colocado o desafio de se manter em tensão o saber sobre a doença e o
saber sobre a relação com o doente, o que só é possível quando, na clínica, o médico ou
o estudante vivencia a experiência de incompletude do modelo médico ao exercer a
função médica no caso singular. Tem que haver a dúvida, a experiência de
incompletude em relação ao saber médico, para que se crie um espaço para um outro
saber.
Na década de 1980, a difusão da psicanálise na cultura, a organização do trabalho
médico e as práticas em um hospital universitário, para citar apenas alguns determinantes
da função socialmente construída do médico, assim como do psicanalista, possibilitavam
uma maior valorização da experiência vivida pelo paciente e seu médico no lidar com
adoecimento, assim como um maior diálogo entre médicos e psicanalistas em
instituições médicas.
A experiência cotidiana, quer nas enfermarias clínicas, quer na sala de aula, foi se
transformando ao longo desses anos. Até um passado não muito remoto poderíamos
dizer que, predominantemente, a função médica tinha seu sentido na resposta ao
sofrimento de um doente, o que indicava algo para além do valor da eficácia de um saber
sobre as doenças.
Sabemos que a prática clínica implica um sofrimento que requer alguma
estruturação defensiva por parte dos médicos. Sabemos também que algumas pessoas
podem, por razões de sua estrutura defensiva, ser capazes de uma eficiente negação do
sofrimento do paciente. Podemos ainda supor, no ato médico, uma realização restrita à
aplicação de um conhecimento sobre a doença, com a obtenção de resultados no nível
estritamente biológico e corporal, pois, evidentemente, o exercício de um saber traz
alguma realização narcísica. Mas tudo isso não é suficiente e acreditamos ser necessário
considerar a presença de um determinismo de outra ordem, que opera no discurso e no
exercício da prática social da medicina, ao buscarmos compreender como as palavras do
paciente têm sido cada vez mais desvalorizadas, sendo o paciente progressivamente
silenciado, de forma a tornar-se, para o médico, uma existência quase virtual.
Em nosso país, a partir dos textos de Muniz e Chazan (1992), Eizirik (1994),
Zaidhaft (1997) e Souza (2001a), professores de Psicologia Médica de três instituições
públicas de ensino médico de nosso país, poderíamos dizer que há uma crise nesse
campo onde o professor se confronta com os alunos quase cooptados por um
pragmatismo, que exclui qualquer outro valor que não o da eficácia da ação e
desconsidera o valor de verdade no discurso, como desconsidera o valor da palavra.
Nos últimos tempos, o desenvolvimento tecnológico tem permitido uma
instrumentalização do ato médico que, associada à ilusão muito presente em certos
meios pragmatistas e positivistas de que os fatos falam por si sós, acarretam uma
desvalorização mais intensa da atividade de interpretação dos sujeitos implicados na
prática clínica. A oposição subjetivo/objetivo é tomada como uma oposição exclusiva, e
o campo da prática médica é reduzido a um conjunto de relações necessárias, de tal
forma que o singular, o contingente, o histórico, apesar de estarem sempre a instigar,
não encontram facilmente um espaço de reflexão.
Na última década, identificamos na literatura médica a valorização da narrativa
na discussão de aspectos éticos e epistemológicos do método clínico e sua transmissão
na formação médica. A importância da narrativa na literatura médica atual faz-se
possível em função da tensão estruturante doente/doença inerente à prática médica
(Souza, 2001 b).
Greenhalgh (1999) nos introduz na medicina baseada na narrativa, enfatizando
como o método clínico no caso individual refere-se à interpretação contextualizada de
uma história e a evidências pertinentes. As “verdades” estabelecidas pela observação
empírica de populações em ensaios controlados randomizados e estudos de cohorte não
podem ser mecanicamente aplicados a pacientes individuais. A medicina baseada na
narrativa, postula esta autora, deve complementar a medicina baseada em evidência
pois, no caso particular, as evidências são sempre parte de uma história construída,
portanto, uma interpretação, a partir de diversos elementos, inclusive elementos
contextuais.
Este importante trabalho, publicado no conhecido periódico British Medical
Journal, onde Greenhalgh desenvolve sua compreensão sobre o que seja o raciocínio
clínico e suas múltiplas determinações, ilustrada através de um caso clínico, entre outros
aspectos, pode contribuir para discutir o estatuto ambíguo dado às palavras dos
pacientes na prática e formação médicas. Ao mesmo tempo em que os estudantes ouvem
de seus mestres “escutem o seu paciente ... escutar o paciente é fundamental ... o
paciente está lhes dando o diagnóstico”, percebem também a atitude cética que
desconfia das informações dadas pelo paciente, diminuindo o valor de seu relato, de
suas palavras. Os alunos algumas vezes chegam a “corrigir” ou a “serem corrigidos” por
seus instrutores quanto ao conteúdo da queixa principal, único espaço “oficial” ou
institucionalmente alocado às palavras do doente na anamnese.
A narrativa é a arena em que médicos e pacientes discutem os significados da
doença e seu tratamento na vida do doente, portanto o diagnóstico, o prognóstico e a
terapêutica com implicações na tão atual problemática de adesão a tratamento. Como
nos dizem Clark e Mishler (2001), “contar a história não é importante somente para o
paciente; é essencial para a eficácia com que os médicos podem realizar suas tarefas
clínicas”.
A centralidade da narrativa no trabalho médico tem propiciado importantes
contribuições de professores de literatura para a medicina. A ética narrativa vem
ganhando maior relevância na medida em que cresce a insatisfação com a ética baseada
em princípios – autonomia, beneficência/não-maleficência e justiça – que, de modo
analítico, aplica estes princípios universais a casos particulares visando à solução de
dilemas éticos. A ética narrativa, partindo do caso particular, considera os princípios da
ética médica analítica como valores ideais inerentes ao contexto cultural do caso, e não
como princípios absolutos a serem aplicados. Como nos diz Jones (1999):
Na sua forma ideal, a ética narrativa reconhece a primazia da estória do paciente, mas
encoraja que sejam ouvidas as múltiplas vozes com suas múltiplas estórias de todas as pessoas cuja
vida estará de algum modo implicada pela resolução do caso. Paciente, médico, família,
enfermagem, amigos, assistente social, por exemplo, podem compartilhar suas estórias num coro
dialógico que pode oferecer a melhor chance de respeitar todas as pessoas envolvidas no caso.
Por fim, identificamos na literatura médica um movimento pedagógico que nos
parece próximo da Psicologia Médica como a compreendemos. Em 1994, cerca de um
terço das escolas médicas dos Estados Unidos tinham em seus currículos cursos de
Literatura e Medicina, a maioria sendo oferecida nos anos pré-clínicos, como parte do
currículo obrigatório ou como módulo eletivo, em geral, integrando o ensino de medical
humanities (humanidades médicas) que contempla estudos em filosofia, história, direito,
religião, etc. (Charon e cols., 1995). Em 1998, o ensino de Literatura e Medicina já
havia se expandido para 74% (93/125) das escolas médicas americanas (Association of
American Medical College’s Curriculum Directory 1998/1999 apud Charon, 2000),
indicando claramente sua importância institucional no ensino médico.
Com o estudo da literatura pretende-se desenvolver a “competência narrativa”,
aumentar a tolerância à incerteza da prática clínica e propiciar a atenção empática a
pacientes. Por competência narrativa os autores definem a capacidade de adotar outras
perspectivas, de seguir o encadeamento de histórias complexas, por vezes caóticas,
tolerar ambigüidade e reconhecer os múltiplos, freqüentemente contraditórios,
significados dos acontecimentos vivenciados pelas pessoas. Participam do ensino
doutores em literatura e doutores em medicina, fortemente interessados na contribuição
da literatura à prática clínica, sendo esse trabalho conjunto, na opinião dos autores, a
estratégia ideal para todas as iniciativas no ensino das humanidades no curso médico
(Hunter e cols, 1995). Os autores consideram como um dos elementos mais importantes,
ausente nos cursos de graduação de literatura, assim como nas outras disciplinas do
curso médico, a exploração explícita das associações e respostas emocionais dos leitores
suscitadas pela leitura de textos literários. A partir do texto, propicia-se que os
estudantes discutam percepções, crenças e valores. Greenhalgh e Hurwitz (1998)
recomendam vários textos literários e indicam uma base de dados em Literatura e
Medicina mantida pela New York University School of Medicine, cujo endereço
fornecem: http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med (Cf. pp.273-278). Os autores, em geral,
enfatizam fatores que contribuem atualmente para uma prática médica impessoal, entre
eles, a especialização e a “tecnologização” da medicina, o mercado de trabalho e a
revolução da informática, para sugerirem contextualmente a emergência da narrativa na
prática médica com um valor de humanização.
Entre nós, em 1987, Zaidhaft (1990) e Spitz introduziram o uso de textos
literários na avaliação dos alunos na disciplina de Psicologia Médica. Selecionaram
textos das obras A morte de Ivan Ilitch de Leon Tolstoi e Uma morte muito suave de
Simone de Beauvoir, que nos falam da experiência do adoecimento, da proximidade ou
da antecipação da morte e das relações vividas entre enfermo, familiares e médicos.
Analisando a experiência pedagógica, os professores sublinham a originalidade, a
criatividade nas respostas dos alunos, que não teriam se limitado a escrever
“simplesmente o que imaginaram que o professor gostaria de ler”. Tendo em mente seu
auditório, Zaidhaft explicita “as questões inevitáveis: o que tudo isso tem a ver com
medicina? Filmes, romances, respostas originais?” Ele nos responde que a possibilidade
de narrativas sobre como os médicos são vistos por pacientes e seus familiares e como
as decisões médicas repercutem na vida das pessoas teriam o objetivo de contribuir para
a reflexão crítica dos alunos sobre sua prática e de preservar a sensibilidade, a
capacidade de perceber a si próprios e a seus pacientes como seres humanos (Cf.
Zaidhaft, 1990, 143-149).
Certa vez, uma aluna do 3º ano do curso médico, num trabalho sobre sua
experiência ao tratar de um paciente terminal, escreveu ao seu professor da disciplina de
Psicologia Médica:
E vou dizer também que ando um pouco triste e, em parte, é devido à falta de ficção na
minha medicina, construída ultimamente apenas com livros técnicos; e que esta falta me é tão grave
quanto a falta de sódio ou potássio num organismo, e que, além de querer para mim, quero
aumentar a carga circulante dessa delicadeza em algumas pessoas, as que sei possuírem receptores
centrais e periféricos para estas partículas inofensivas.
Ao apreciarmos o que vem sendo desenvolvido por médicos e professores de
literatura, nos campos por eles cunhados de medicina baseada na narrativa, ética
narrativa e literatura e medicina, precisamos ter em perspectiva o poder das palavras e
as palavras do poder, cuja dialética é sempre presente na constante problemática da
hierarquização de valores na prática e formação médicas.
É preciso dar voz. Voz aos pacientes, aos estudantes, aos escritores, aos
médicos, enfim a tantos anônimos ou famosos que, num coro dialógico, possam viver,
cuidar, adoecer e amparar no morrer, pois afinal “Todo mundo sabe que a vida é muito
frágil, uma chama tênue. Sujeita a ser apagada por qualquer brisa que sopre de mau
jeito”, como nos disse com suas palavras poéticas Ana Maria Machado.
Referências bibliográficas
BALINT, Michael. O médico, seu paciente e a doença. Rio de Janeiro, Atheneu, 1975.
CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro, Forense
Universitária, 1978.
CHARON, Rita. et al. Literature and medicine: contributions to clinical practice. Annals
of Internal Medicine 122(8):599-606, 1995.
CHARON, Rita. Literature and medicine: origins and destinies. Academic Medicine
75(1):23-27, 2000.
CLARK, Jack A. & MISHLER, Elliot G. Prestando atenção às histórias dos pacientes: o
reenquadre da tarefa clínica [1992]. In: RIBEIRO, Branca T, COSTA LIMA,
Cristina & LOPES DANTAS, Maria Tereza (org). Narrativa, Identidade e Clínica.
Rio de Janeiro. Edições IPUB-CUCA, 2001, p. 11-53.
EIZIRIK, Claudio L. Ensinando uma profissão impossível. Revista ABP-APAL
16(4):133-135, 1994.
FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro, Forense Universitária,
1977.
FREUD, Sigmund. Conferências introdutórias sobre psicanálise (1916-17 [1915-17])
Obras psicológicas completas. Edição Standard Brasileira, Rio de Janeiro, Imago
Editora, 1976.
GREENHALGH, Trisha & HURWITZ, Brian. Narrative based medicine: dialogue and
discourse in clinical practice. London, BMJ Publishing Group, 1998.
GREENHALGH, Trisha. Narrative based medicine in an evidence based world. British
Medical Journal 318:323-325, 1999.
HUNTER, Kathryn Montgomery et al. The study of literature in medical education.
Academic Medicine 70(9):787-794, 1995.
JONES, Anne Hudson. Narrative in medical ethics. British Medical Journal 318:253256, 1999.
MUNIZ, José Roberto e CHAZAN, Luiz Fernando. Ensino de psicologia médica. In:
MELLO FILHO, Julio e cols. Psicossomática hoje. Porto Alegre, Artes Médicas,
1992. p. 37-44.
SOUZA, Alicia Navarro de. Formação médica, racionalidade e experiência. Ciência &
Saúde Coletiva, 6(1):87-96, 2001a.
SOUZA, Alicia Navarro. A narrativa na transmissão da clínica. In: RIBEIRO, Branca T,
COSTA LIMA, Cristina & LOPES DANTAS, Maria Tereza (org). Narrativa,
Identidade e Clínica. Rio de Janeiro. Edições IPUB-CUCA, 2001b, p. 215-240.
ZAIDHAFT, Sergio. Morte e formação médica. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1990.
ZAIDHAFT, Sergio. A saúde mental no hospital geral e seu impacto sobre a formação
médica. Cadernos do IPUB, Rio de Janeiro, v. 1, n. 6 (Saúde Mental no Hospital
Geral), p. 71-83, 1997.
––––––––––
Alicia Navarro de Souza é médica psicanalista, doutora em Medicina, professora
adjunta da Faculdade
de Medicina da UFRJ, com inúmeros trabalhos publicados.