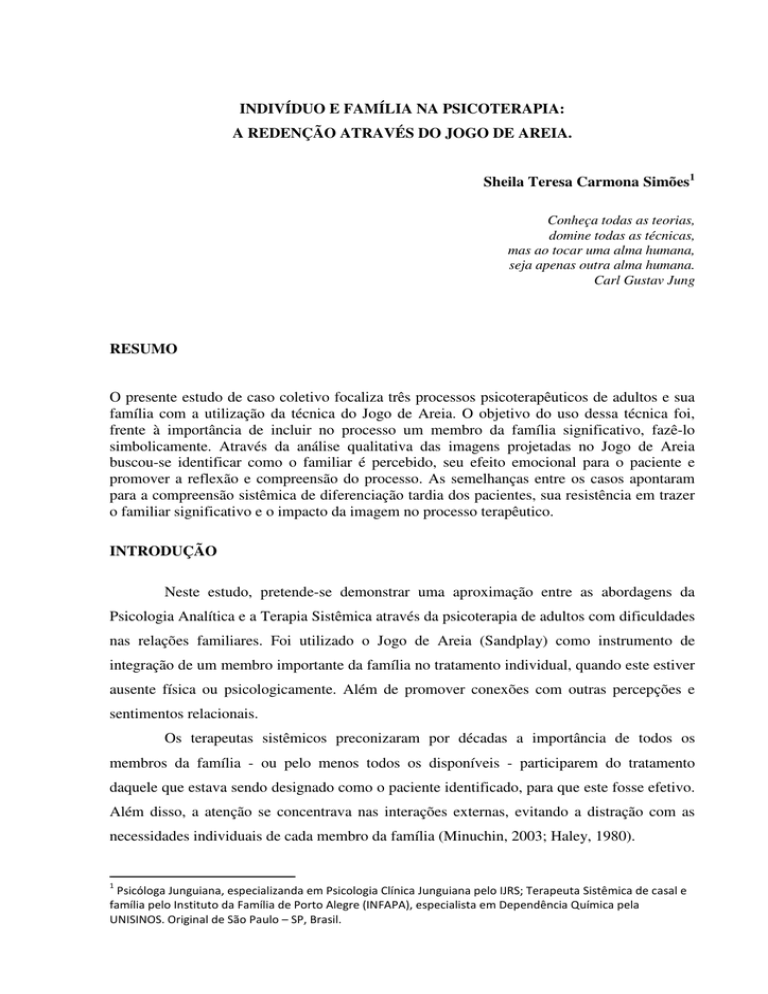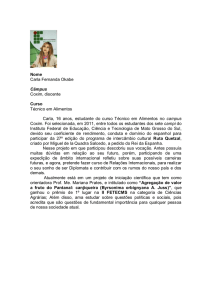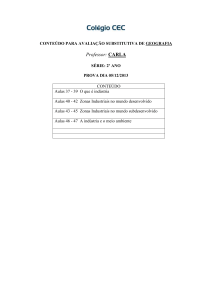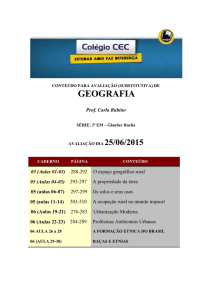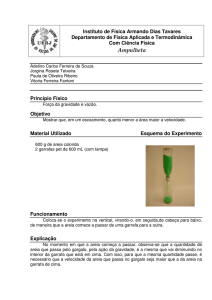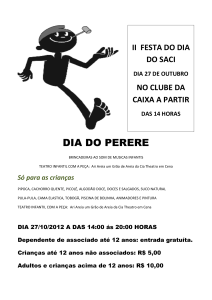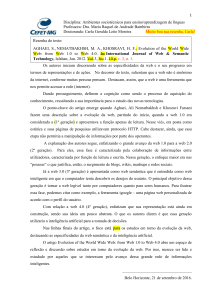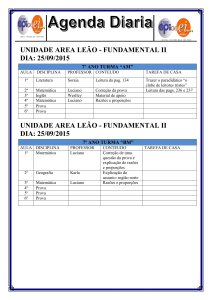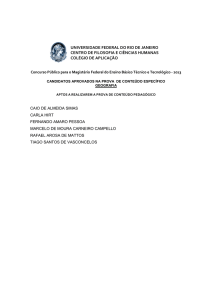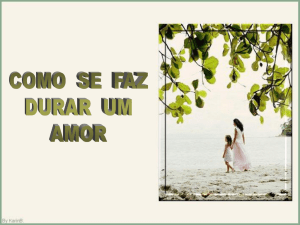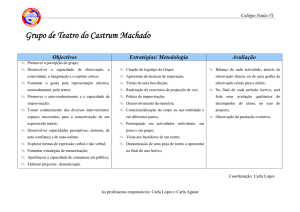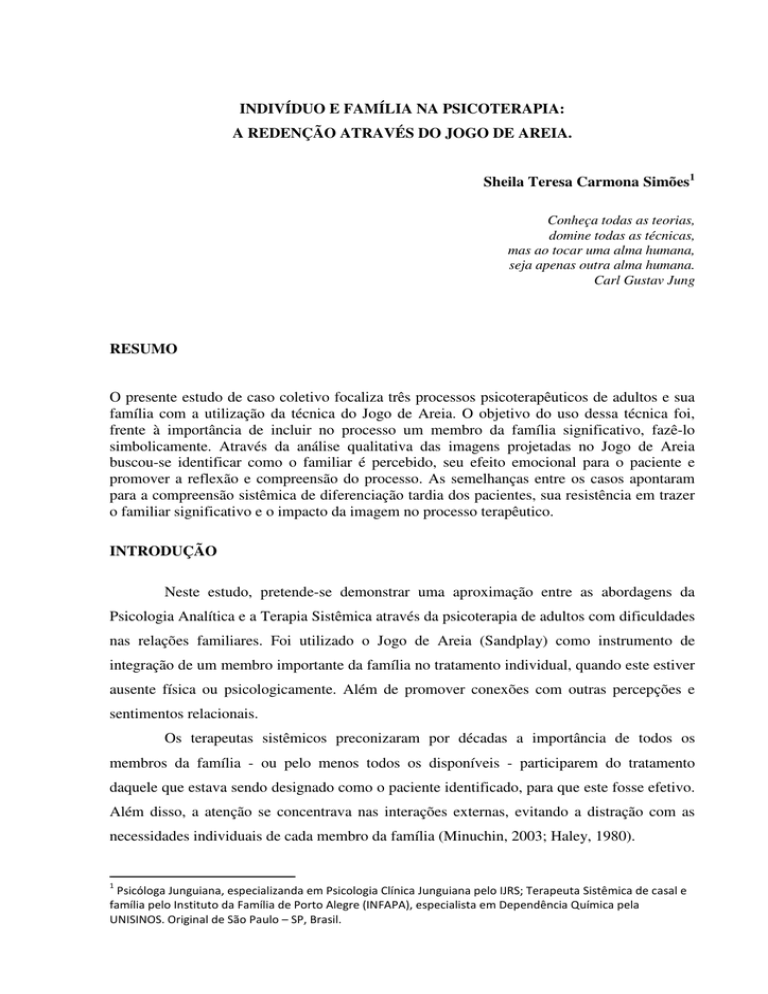
INDIVÍDUO E FAMÍLIA NA PSICOTERAPIA:
A REDENÇÃO ATRAVÉS DO JOGO DE AREIA.
Sheila Teresa Carmona Simões1
Conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas,
mas ao tocar uma alma humana,
seja apenas outra alma humana.
Carl Gustav Jung
RESUMO
O presente estudo de caso coletivo focaliza três processos psicoterapêuticos de adultos e sua
família com a utilização da técnica do Jogo de Areia. O objetivo do uso dessa técnica foi,
frente à importância de incluir no processo um membro da família significativo, fazê-lo
simbolicamente. Através da análise qualitativa das imagens projetadas no Jogo de Areia
buscou-se identificar como o familiar é percebido, seu efeito emocional para o paciente e
promover a reflexão e compreensão do processo. As semelhanças entre os casos apontaram
para a compreensão sistêmica de diferenciação tardia dos pacientes, sua resistência em trazer
o familiar significativo e o impacto da imagem no processo terapêutico.
INTRODUÇÃO
Neste estudo, pretende-se demonstrar uma aproximação entre as abordagens da
Psicologia Analítica e a Terapia Sistêmica através da psicoterapia de adultos com dificuldades
nas relações familiares. Foi utilizado o Jogo de Areia (Sandplay) como instrumento de
integração de um membro importante da família no tratamento individual, quando este estiver
ausente física ou psicologicamente. Além de promover conexões com outras percepções e
sentimentos relacionais.
Os terapeutas sistêmicos preconizaram por décadas a importância de todos os
membros da família - ou pelo menos todos os disponíveis - participarem do tratamento
daquele que estava sendo designado como o paciente identificado, para que este fosse efetivo.
Além disso, a atenção se concentrava nas interações externas, evitando a distração com as
necessidades individuais de cada membro da família (Minuchin, 2003; Haley, 1980).
1
Psicóloga Junguiana, especializanda em Psicologia Clínica Junguiana pelo IJRS; Terapeuta Sistêmica de casal e
família pelo Instituto da Família de Porto Alegre (INFAPA), especialista em Dependência Química pela
UNISINOS. Original de São Paulo – SP, Brasil.
2
A Terapia Sistêmica se ocupa das relações entre os padrões e os sistemas humanos,
suas conexões recursivas e as trocas e ausências que ocorrem no decorrer do tempo referiram
Boscolo e Bertrando (2012). Pautados neste conceito, estes e outros autores (Weber & Simon,
1989; Schwartz, 2003) chamaram a atenção para a possibilidade e importância do olhar
sistêmico ser dirigido, também, para um único indivíduo e poder ajudá-lo em suas relações
sociais e familiares, diminuindo disfuncionalidades e com repercussões positivas na família.
Contudo, a participação da família em terapia individual nem sempre se faz possível
por indisponibilidade do familiar ou do paciente em aceitar a participação deste, por morar em
cidade distante ou por não aceitação da necessidade de integração do familiar, como se fosse
um desejo só do terapeuta (Boscolo & Bertrando, 2012).
Há, ainda, outras impossibilidades mais difíceis de resolver como o desaparecimento
do membro, que abandonou a família e o paciente não tem como manter contato. Nos casos
de falecimento, quando o familiar falecido pode continuar fazendo parte da família em
relações disfuncionais como um fantasma (Minuchin, 2003) e, por conseguinte, influenciando
as relações familiares e a vida do indivíduo em tratamento.
Weber e Simon (1989) alertaram para o fato de que nem sempre todos os membros
da família são importantes ou têm relação com o problema do indivíduo que procura ajuda,
segundo estes autores, os problemas têm suas próprias histórias. Além disso, nos sistemas
humanos, os problemas se apresentam quando há a necessidade de adaptação às mudanças
internas e externas.
A busca por terapia individual no período de independização familiar pode apontar
para o fato de que os adultos da atualidade estão enfrentando problemas diferentes das
décadas passadas. Em outros tempos, a vida adulta era marcada pelo momento do ciclo vital
em que os filhos buscavam sair da casa dos pais para estudar e se lançar no mercado de
trabalho, construindo uma vida separada e independente destes (Aylmer, 1995).
Diferenciar-se da família, enfrentando as exigências sociais para encontrar uma
identidade específica e funções únicas requer um grande desafio de negociação entre pais e
filhos, a fim de permitir que o sistema de adapte às mudanças essenciais desta fase e deixe as
relações se desenvolverem, para o indivíduo conseguir se libertar rumo à individualidade
(Andolfi et al, 1989 a; Bowen,1991).
Ao longo dos anos de trabalho com famílias e indivíduos, muitas técnicas e
intervenções terapêuticas foram desenvolvidas, como o jogo em terapia para engajar a família
ou o indivíduo no tratamento, expressando na representação lúdica e metafórica os desejos,
3
medos e experiências que não foram trazidos verbalmente (Andolfi et al,1989 a; Andolfi e
Angelo,1989b).
Com isso, a inclusão de um membro familiar importante no processo do paciente,
que não possa estar presente, através de diversas modalidades de terapia não verbal, não
racional e criativa, como o desenho, a escultura em argila, entre outros, pode facilitar o
processo. O Jogo de Areia é um método que possibilita ao paciente a construção de imagens
ou cenários - através de miniaturas colocadas numa caixa de areia de tamanho específico - que
podem representar o membro familiar ou sua relação com este (Weinrib, 1993; Ammann,
2002).
O Jogo de Areia, como método psicoterapêutico, foi idealizado por Dora Maria
Kalff, analista junguiana suíça, a partir da técnica psicológica conhecida como Técnicas do
Mundo, criada por Margaret Lowenfeld, psiquiatra infantil. Kalff inicialmente trabalhou com
crianças e, posteriormente, com adultos visando proporcionar um espaço livre e protegido
para os conteúdos inconscientes se expressarem através das imagens escolhidas para o cenário
(Weinrib, 1993; Levy, 2011).
PSICOLOGIA JUNGUIANA E O JOGO DE AREIA
Jung relaciona os aspectos conscientes e inconscientes da psique no processo de
individuação, levando em consideração sua relação com o exterior, através da linguagem
simbólica das imagens que aparecem nos sonhos, das fantasias, nos desenhos e nas técnicas
expressivas. Segundo o autor (Jung, 1999, p. 101, §448):
“O processo de individuação tem dois aspectos fundamentais: por um lado é um
processo interior e subjetivo de integração, por outro, é um processo objetivo de
relação com as pessoas, tão indispensável quanto o primeiro. Um não pode existir
sem o outro, muito embora seja ora um, ora o outro desses aspectos que prevaleça.”
Os processos cerebrais conscientes são imagens reflexas espontâneas do inconsciente
– imagem psíquica - que aparecem no cérebro a partir de um episódio significativo, sugerindo
que “uma entidade psíquica só pode ser um conteúdo consciente, isto é, só pode ser
representada quando é representável, ou seja, precisamente quando possui a qualidade de
imagem” (Jung, 2000, p. 264, §608).
Neste sentido, tornar-se pertinente a avaliação dos aspectos emergentes das imagens
relacionando-as no contexto das relações familiares do paciente, sem abordamos os aspectos
inconscientes, que embora presentes, não foram foco deste estudo.
O Jogo de Areia traz para a concretude a forma como o paciente percebe e se relaciona
com o familiar ao descrever o que a imagem representa e os sentimentos despertados por esta
4
experiência numa atividade de personificação. Para Hillman (2010) sempre que vivenciamos,
imaginamos e falamos das configurações da existência acontece uma personificação, ou seja,
a palavra torna-se consciente e pode ser expressa como se fosse uma pessoa.
O mesmo autor refere ainda que, a partir da relação com esta imagem ou
personificação, o paciente poderia encontrar a liberdade e a segurança necessárias para viver
plenamente sua singularidade e aprender a conviver com o outro, do lado de fora de si
mesmo, de modo autêntico, saudável e funcional.
Com a utilização do Jogo de Areia pretende-se contribuir com a ampliação da prática
terapêutica no atendimento do indivíduo com a inclusão de um familiar importante, buscando
identificar nas imagens projetadas como este está sendo representado e qual sua implicação
emocional para o paciente.
As imagens obtidas a partir das fotografias foram analisadas minunciosamente em
seu significado e conteúdo simbólico referente à expressão do paciente. Conforme Chevalier
& Gheerbrant (2007), o símbolo é sugestivo, depende daquele que o vê, ou seja, sem intuição
nada de profundo é percebido.
A analogia das formas simbólicas foi possível através da hermenêutica de
profundidade, que coloca em evidência o fato de que o objeto de análise é uma construção
simbólica significativa, que exige uma interpretação (Thompson, 1999). Desta forma, para
realizar a análise das imagens contou-se com o apoio da livre associação que os participantes
produziram através da linguagem. Bauer & Gaskell (2002) reforçam a importância da
verbalização para tirar a ambigüidade da imagem, necessitando uma da outra para obter-se o
sentido completo da informação.
Em seguida, os resultados foram organizados primeiramente expondo uma breve
história de vida de cada participante, seguida do motivo de busca por tratamento e o motivo
de não participação do familiar significativo. Na sequência, a respectiva imagem do instante
terapêutico foi analisada e discutida segundo as livres associações do participante e sua
analogia simbólica.
Além disso, foram discutidas as particularidades de cada caso com relação à inclusão
do familiar através da imagem, como este está sendo representado e qual sua implicação
emocional para o paciente. As semelhanças entre os casos foram abordadas quanto ao
processo de diferenciação tardio; à resistência em trazer o familiar significativo e o impacto
da imagem para o processo terapêutico.
Carla e o agressor
5
Carla tinha 31 anos, filha única e sua mãe morava em outra cidade no interior do
estado do Rio Grande do Sul. O pai abandonou a família quando Carla tinha 02 anos, desde
então, ela não teve contato com ele. Carla e a mãe moraram com os avós maternos, ela referiu
que o avô e a avó foram os pais dela, principalmente a avó, ela dizia que Carla precisava
estudar muito, porque teria que cuidar da mãe mais tarde.
Carla tinha dificuldade em cumprir as tarefas da faculdade, infringindo-se um
autoboicote quando ia chegando o momento de entregar os trabalhos finais. Podia-se inferir
que o impedimento para cumprir as tarefas era de ordem emocional na relação com a mãe e
talvez com o pai, que ela não conhecia nem mantinha contato.
Foi solicitada a presença do pai na terapia para ser trabalhada a relação parental, mas
Carla não aceitou convidá-lo com medo de que ele rejeitasse seu convite. Neste instante
terapêutico proponho o Jogo de Areia para propiciar a emersão da imagem que Carla tinha do
pai, com a seguinte pergunta: “Como é seu pai?
A figura escolhida por Carla foi um homem segurando um taco em posição de ataque,
com a expressão agressiva, ao que ela deu o nome de o agressor. Ela referiu que não pensou
para colocar o pai, apenas pegou a imagem: “O agressor parece que vai bater em alguém,
mas meu pai é passivo, não reage para nada”.
O Jogo de Areia propiciou uma imagem psíquica (Jung, 2000) do pai de Carla como
um homem em posição de ataque, aquele que pode feri-la a qualquer momento, apesar de ser
a representação de um masculino fraco e passivo, não reagindo para nada.
Para Carla o pai parece que vai bater em alguém, talvez este seja o impedimento para
vir à terapia, poderia agredi-la novamente não aceitando o convite, como fez abandonando-a
na infância. Para evitar sofrer novamente, Carla se nega a convidá-lo, mas aceita trabalhar o
6
instante terapêutico no ambiente protegido da terapia e com a presença da terapeuta para
mediar este encontro.
De acordo com a imagem, pode-se fazer a analogia de que o agressor é um adversário
mau, semelhante a Satanás (Chevalier & Gheerbrant, 2007), do qual ela tem que se proteger
sendo muito grande, com o dobro do tamanho das outras miniaturas.
Carla disse ver-se como uma menina superpoderosa, e referiu: “eu preciso ser grande
para suportar a todos eles”. Ela representou a mãe como uma bonequinha chinesa,
colocando-a para ficar ao seu lado, “essa é minha mãe: gordinha, pequena e simpática, ela
vai ficar de mão comigo”.
Esta relação familiar imagética sugere que Carla entendia que precisava ser grande
para defender a si mesma do pai agressor, abandonador, que não a recebia como ela
idealizara. E também para proteger a mãe, que vai ficar de mão com ela, como uma criança
indefesa, confiada aos seus cuidados pela avó. Esta ligação caracteriza a triangulação entre o
pai, a mãe e Carla, como intermediária da relação parental (Minuchin, 1990; Andolfi et al,
1989a).
Andolfi e colegas (1989a) apontam para o risco da função estereotipada que o
indivíduo pode receber ao longo da vida, respondendo a um script inalterado. Paralisada ao
lado da mãe, num mundo infantilizado, sem a presença de um feminino forte, Carla fica
impedida de seguir em frente no seu processo de diferenciação.
Carla mostrava-se na imagem tal como era na vida real, aprisionada junto à mãe e
distante do pai e da madrasta, ela vivia uma pseudo-diferenciação da família, que poderia
estar interferindo no cumprimento das tarefas acadêmicas e dificultado sua independização.
Enquanto ela não terminasse a faculdade não poderia conseguir um emprego e manejar seu
sustento financeiro, permanecendo indefinidamente sob os cuidados dos tios, que
representavam o poder dos avós maternos - figuras parentais substitutas (Andolfi et al, 1989a;
Aylmer, 1995).
A madrasta, colocada ao lado do pai, era vista como uma bruxa simpática e dócil:
“esta é a mulher dele, parece uma bruxa burra”, representada numa figura do mesmo
tamanho que a figura do pai, em oposição às figuras de Carla e a mãe.
Em Chevalier e Gheerbrant (2007) encontram-se referências a feiticeiras e bruxas
como forças criadoras instintuais, com poder para fazer o mal. São invejosas e vingativas, que
sabem como fazer uso de seus poderes sombrios, dominando aos outros.
A bruxa neste caso pode representar uma ameaça para a relação estereotipada de Carla
com a mãe, ao que Andolfi e colegas (1989a) afirmam serem as mudanças nas relações
7
percebidas como ameaçadoras tanto para o indivíduo, que precisa diferenciar-se, quanto para
as famílias rígidas, que evitam experiências e informações novas.
Na imagem, pelas marcas na areia, pode-se notar que inicialmente a mãe foi colocada
ao lado do pai e retirada em seguida para ficar de mão com Carla. No lugar, então, foi
colocada a madrasta, que passou a fazer um par com o pai, com isso, pode-se identificar outra
relação triangular – Carla, pai e madrasta – formada na vida de Carla, com a recuperação do
contato paterno. No entanto, por ser uma relação tensa e sem intimidade com o pai, a
madrasta foi recebida como rival, recebendo a projeção de todos os aspectos negativos de uma
mãe má, em polarização com a bonequinha chinesa, denunciando o desequilíbrio familiar,
com o qual Carla estava tentando entender e falar com sua família interiorizada nas imagos
(Jung, 2000) e estas estavam tentando falar com ela num diálogo simbólico e concreto,
personificadas na imagem (Hillman, 2010) do Jogo de Areia.
Nesta relação sistêmica imagética, o sistema indivíduo é o protagonista do diálogo
interno consigo mesmo, com foco na integração do mundo externo ao mundo interno, através
das quais se vê e se compreende (Boscolo & Bertrando, 2012).
Para fazer efetivamente seu processo de diferenciação Carla deveria se relacionar com
todas estas partes, no processo dialético da terapia, e, sobretudo promovendo a mudança da
relação fazendo o movimento de ir até o pai, agora que era adulta.
Três meses depois da realização do Jogo de Areia podem-se verificar as mudanças na
relação de Carla com o pai: ela conseguiu pedir ajuda para ele no momento de crise com uma
namorada e foi acolhida e alimentada. Seu pai velou seu sono e, antes que ela voltasse para
sua casa, aconselhou-a em como agir, assumindo a função paterna há tanto esperada.
Carla também pediu a ele para ajudá-la a realizar o trabalho final da faculdade e
trabalharam juntos, um dia inteiro. Apesar deste esforço, ela não conseguiu aprovação na
disciplina. Contudo, Carla passou a visitar o pai e a madrasta e a se permitir participar de
refeições com outros membros da família da madrasta.
Ao retomarmos a imagem, perguntei o que ela pôde apreender com aquela vivência.
Carla referiu que hoje ela não se colocaria tão grande, nem o pai seria tão agressivo, nem a
madrasta seria poderosa como uma bruxa. A madrasta seria um ser inferior ao pai, pois com a
proximidade ela viu que o pai tolera a esposa, mas não é feliz com ela.
Apenas a mãe ainda seria a mesma bonequinha chinesa.
Jaqueline e o anjo da guarda
8
Jaqueline tinha 40 anos, trabalhava como auxiliar administrativo e estudava à distância
um curso tecnólogo. Morava sozinha e tem nível social médio-baixo, enquanto sua mãe e
irmã moram no interior do Rio Grande do Sul com nível social médio-alto. Sua irmã era
casada, sem filhos e a mãe era viúva e separada do segundo marido. Seu pai morreu quando
Jaqueline era adulta jovem. Ela sofre desde a infância de uma doença de pele – psoríase – o
que deixou marcas físicas e psicológicas, devido à forma como a mãe lidou com isso fazendoa usar roupas compridas e evitando que ela convivesse com outras crianças.
O pai de Jaqueline era alcoolista, agredia a mãe e as filhas e manteve uma amante por
vários anos. Ela refere-se sobre o pai num relacionamento distante e idealizado, dizendo
perdoá-lo por ter sido doente. Seu relacionamento com a mãe também era distante e baseado
em chantagem emocional. Jaqueline tinha um ano a mais de idade do que a irmã e sempre
alimentou a crença de que precisava cuidar dela na infância, protegendo-a de todo o mal.
No decorrer do processo ela mostrou-se à vontade para expressar sua relação em
família através da seguinte pergunta: “Como é a sua mãe e a sua imã?”
A irmã de Jaqueline era vista como um ser superior, protegendo-a: “ela é meu anjo da
guarda”. A imagem que representa a irmã era de tamanho maior do que as outras duas
imagens – ela e a mãe – e Jaqueline referiu que a irmã estava olhando pelas duas, pois “ela é
que tem a maior responsabilidade na família”.
A maior responsabilidade também pressupõe o maior poder, a maior importância e,
consequentemente, a maior imagem. Minuchin e Fishman (2003) ressaltaram a importância de
observar o lugar que cada membro ocupa na família a fim de identificar o funcionamento
estabelecido na relação.
9
Na infância Jaqueline sentia que deveria cuidar da irmã por ser a mais velha,
assumindo, consequentemente, a incumbência de explicitar o sintoma – psoríase - para focar a
tensão do sistema sobre si, livrando a irmã para ser a filha saudável (Andolfi et al, 1989a). A
psoríase é uma doença crônica manifestando-se com inflamação das células da pele, formando
placas de escamação avermelhadas ou prateadas (Silva, Muller & Bonamigo, 2006).
Com isso, a disfunção familiar regida pelo pai alcoolista e a mãe distante e infantil
poderia ser acobertada pelo sintoma da filha, como válvula de segurança para o casal,
conforme Andolfi e colegas (1989a) afirmaram ser o sacrifício de sua autonomia para
preencher a função escolhida, e como Haley (1980) referiu ser a função de viver uma vida
estreita por não conseguir se desembaraçar de sua família e, assim, exercer a função de
fracassada.
Como a hierarquia da relação familiar imagética estava invertida, e a irmã estava
ocupando um lugar de destaque, pode-se inferir que Jaqueline estava idealizando a irmã no
presente, como idealizou no passado, pois os sistemas familiares possuem uma realidade
tridimensional, na qual o passado pode manifestar-se no presente e desenvolver-se no futuro
(Bowen, 1991).
Na imagem de anjo da guarda, a idealização da irmã também designa a esta o papel de
filha parental, aquela que tem as responsabilidades provedoras e cuidadoras da família
(Minuchin, 1990), com isso Jaqueline precisava pagar um preço alto para manter esta
condição desequilibrada.
Ao visualizar a imagem de sua família no Jogo de Areia, Jaqueline declarou em tom
de súplica: “nada de ruim pode acontecer à Mana, ela merece tudo de bom, comigo é
diferente, o que acontece para mim é tudo de ruim”.
Schwartz (2004) afirmou que o mesmo processo vivenciado no sistema familiar
também se reproduz em nível intrapsíquico, a mente é como qualquer outro sistema, fazendo
com que as partes assumam papéis extremos, polarizados e enrijecidos. Talvez por isso,
Jaqueline se representou como uma mocinha dócil, aparentemente frágil e delicada,
suscitando que precisa de proteção, e assim se colocando no outro extremo da relação.
No entanto, em nível simbólico, Chevalier e Gheerbrant (2007) referiram que os anjos
representam criaturas próximas de Deus desempenhando funções de mensageiros, guardiões,
executores de leis e, também, protetores dos eleitos, abrindo os caminhos para que estes
realizem seus feitos.
Para realizar seus feitos ou manter-se no papel que lhe cabia até hoje, Jaqueline
precisava da proteção de um anjo, uma mantenedora financeira, espiritual e emocional. Neste
10
contexto, pode-se inferir que a irmã de Jaqueline não poderia participar da terapia para não
desequilibrar seu sistema interno da família interiorizada.
Ela própria correria o risco de perder sua função de doente-protegida, caso
identificasse na irmã atributos não tão nobres e santificadores, tal qual a surpreendente
imagem da sombra (ocasionada pela luz do ambiente na hora da fotografia), que paira sobre
ela e a mãe junto à imagem do anjo protetor. Para Jung (1999) o conceito de sombra
representa os aspectos sombrios não reconhecidos pelo ego, tais como características positivas
ou negativas, que a pessoa projeta sobre os outros, pensando que são os responsáveis pelas
suas dificuldades.
Embora Jaqueline não tenha conscientemente feito conexão com estes aspectos ou
partes polarizadas da irmã, o Jogo de Areia como recurso terapêutico nos remeteu a este
conceito e possibilitou que o conteúdo latente se manifestasse na imagem.
A aparente fragilidade da mocinha dócil teria que ceder espaço para outras partes até
então não reconhecidas ou relacionadas no processo terapêutico. E assim como na infância ela
precisou representar o papel que lhe cabia, na imagem do Jogo de Areia ela tampona a sua
verdadeira imagem familiar de criança ferida, impedida de assumir sua autenticidade,
formando uma casca sobre a pele.
Silva e colegas (2006) demonstraram que os pacientes com psoríase têm a tendência
de usar estratégias específicas de enfrentamento de estresse, como fuga esquiva e autocontrole
elevado, não manifestando suas emoções. Afirmam ainda, que a pele tem uma relação muito
estreita com a figura materna, pois remete àquele primeiro contato inicial logo depois do
nascimento, quando se inicia o desenvolvimento do bebê.
A imagem da mãe representada por uma criança dançando, alegre e despreocupada
poderia explicar os sintomas que Jaqueline desenvolveu ainda na infância. Ao colocar a
miniatura da mãe ela diz: “ela faz o que ela quer, não tem preocupação com os outros”.
A figura materna é de certo modo universal, afirma Jung (2007), com atributos de
cuidado, sustento, bondade, elevação espiritual além da razão, o que proporciona as condições
de crescimento físico e psicológico dos filhos, entre vários outros citados pelo autor.
Se para Jaqueline a mãe era percebida como uma criança, nada do que ela falava ou
fazia poderia ser levado a sério, então, ela também não poderia oferecer o afeto que Jaqueline
esperava receber como qualquer filha espera de sua mãe.
Este é, sem dúvida, um dos traumas mais graves que uma menina poderia sofrer,
prejudicando seu desenvolvimento saudável e processo de diferenciação (Bowen, 1991),
11
atrofiando seu aspecto feminino, marcando-a na pele com o legado materno de alienação e
rechaço (Andolfi et al, 1989 a; Haley, 1980; Jung, 2007).
No espaço protegido do Jogo de Areia, Jaqueline poderia se deparar com a imagem
infantil da mãe, que, possivelmente, também estaria infantilizando seu potencial de
desenvolvimento. Ao diferenciar-se destes aspectos, os danos poderiam ser reparados
reconstituindo a unidade intrapsíquica mãe-filha, ativando sua capacidade natural e liberandoa para ser autônoma na construção da sua vida (Weinrib, 1993).
Jaqueline permaneceu em terapia por mais 04 meses a partir da realização do Jogo de
Areia. Não foi possível retomar esta imagem para análise posterior, porém, algumas
mudanças mostraram seu efeito. Ela pediu para parar o tratamento, pois desejava utilizar o
dinheiro da terapia para fazer um curso que a ajudaria a procurar um emprego melhor.
Também solicitou a parada da medicação e passou a fazer atividade física regularmente.
Na última sessão para encerramento do tratamento, Jaqueline estava alegre e disposta,
não sentiu falta da medicação e estava começando a se relacionar com um rapaz que
conhecera numa festa.
Luciano e a morte
Luciano tinha 31 anos, era estudante de um curso superior e trabalhava como técnico
da sua área profissional. De classe social média, morava com a mãe viúva há 05 anos na
cidade de Porto Alegre. Seu irmão mais velho era casado e morava em residência própria.
Luciano namorava Salete há 02 anos, eles pensavam em se casar, mas o
relacionamento deles era muito conturbado por brigas constantes influenciadas pela mãe de
Luciano. Segundo ele, a mãe havia acabado com seus outros relacionamentos e ele não queria
que ela acabasse com este. Por este motivo, procurou ajuda para entender o que acontecia com
ele para se deixar influenciar tanto pela mãe.
Luciano tinha um temperamento aparentemente tranquilo, mas referiu que tem
explosões constantes com a mãe e o irmão, com respostas agressivas a qualquer pergunta que
estes lhe faziam. Ele referiu que ela interferia na forma como ele conduzia sua vida e
controlava suas ações através do dinheiro. Apesar do salário que recebia no seu estágio,
Luciano nunca conseguiu ser independente financeiramente. Até quando o pai estava vivo há
05 anos, ele não se preocupava em ser dependente, mas após sua morte, a mãe e o irmão
passaram a controlá-lo e cobrar dele a atitude que eles julgavam correto, o que tirava a
espontaneidade de Luciano.
12
Na infância referiu que a mãe fazia tudo por ele, mas não referia afetuosidade da parte
dela. Seu pai sim, era afetuoso e o defendia da mãe. Para ele, o irmão era o filho preferido da
mãe, que conseguiu realizar seu desejo de ser aviador.
Luciano se incomodava com o que sentia pela mãe quando ela o estava cobrando, ele
não entendia o que acontecia para ele ficar tão paralisado e não conseguia falar objetivamente
com ela. Ele sentia que a mãe só o aceitaria se ele fosse o homem que ela imagina, para isso
teria que fazer exatamente como ela dizia.
Após alguns meses de tratamento, foram feitos dois convites para a mãe participar da
terapia, mas Luciano nunca aceitou que ela viesse, ele achava que não adiantaria falar sobre
isto com ela, pois ele teria que aprender a reagir por si mesmo.
No instante terapêutico ideal, foi proposto o Jogo de Areia com a seguinte pergunta:
“Como você se sente quando paralisa diante da sua mãe?”
Luciano aceitou de imediato realizar a imagem, antes mesmo de pegar a figura ele
refere que vê a mãe como uma figura “do mal”. A imagem da morte escolhida para
representá-la, tem os braços para cima, como se estivesse em posição de luta ou ataque.
Ele referiu que ela o sufocava com as cobranças e o impedia de crescer, afirmando:
“eu nunca fui o suficiente para ela”. Ele sentia medo diante dela e achava que este medo
bloqueava sua ação na vida.
Na mitologia, o tema da mãe sempre esteve associado às deusas da fertilidade devido à
sua ligação com o mar e a terra: Gaia, Réia, Hera, Deméter entre os gregos, Ísis entre os
egípcios, Kali entre os hindus, para citar algumas. Há, contudo, uma ambivalência neste
13
símbolo ligada à vida e à morte, pois aquela que dá a vida e o alimento, também pode sufocar
até à morte (Chevalier & Gheerbrant, 2007).
A imagem de mãe para Luciano estava polarizada no aspecto negativo, destrutivo e
mortal. Pode-se inferir que o momento requer uma transformação psicológica, mas também
prática e concreta, na relação com ela e na vida pessoal, rompendo com o padrão estabelecido
de dominação. Afinal, “todas as iniciações atravessam uma fase de morte, antes de abrir o
acesso a uma vida nova” (Chevalier & Gheerbrant, 2007, p. 621).
Apesar de este estudo referir-se às relações da consciência, alguns aspectos do
inconsciente se impõem devido o Jogo de Areia ser um recurso terapêutico não verbal
propiciando um espaço livre e protegido para a expressão e exteriorização dos impulsos
internos agressivos, refere Weinrib (1993).
Schwartz (2004) postulou que as partes, ou figuras internas, são forçadas a se
polarizarem em papéis extremos por estarem rigidamente congeladas no tempo ou por
estarem defendendo partes mais frágeis, que sofreram traumas repetidamente na infância.
O mesmo autor afirma que quando uma criança foi submetida a agressões verbais ou
não verbais de que ela teria pouco ou nenhum valor, suas partes em formação ficarão
desesperadas por redenção aos olhos desta pessoa que dirigiu estas mensagens. Luciano
vivenciou esta experiência com sua mãe, reconhecendo que nunca conseguiu satisfazê-la
como o irmão conseguiu, sendo este o preferido dela, conforme referiu.
Segundo Winnicott (1993), o processo gradual de dependência para independência,
com maior liberdade de pensamento e ação, requer um esforço sadio do jovem em uma série
bem graduada de atitudes que promovam o afastamento, no sentido de organizar o
crescimento gradual para os diversos aspectos exigidos, porém conservando o vínculo
inconsciente com as figuras parentais.
Luciano não tinha atingido a independência de sua família até a morte do pai e estava
submetido à mãe, que dificultava seu crescimento, segundo ele, quando ela fazia tudo por ele
na infância, mas não demonstrava afetuosidade nas suas ações. Haley (1980) afirmou que
algumas mães podem exagerar a importância de criar os filhos, encorajando-os a ter
problemas, o que os tornaria aprisionados à sua devoção e atenção.
Luciano sentia medo diante dela nas discussões mais simples ou mesmo quando era
cobrado por suas atitudes profissionais e acadêmicas. Este medo ficava explícito nos
autoboicotes seguidos, que se infringia com o fracasso para conseguir um emprego ou nas
reprovações na faculdade.
14
Para enfrentar e contra-atacar a mãe-morte, ele se vê como uma fera que avançava
sobre ela com raiva e palavras agressivas, tentando sobreviver àquela que, aos poucos, roubou
sua autoestima. Pode-se inferir que Luciano estava preso numa armadilha funcional, que o
mantinha, ao mesmo tempo, autor e vítima dessa relação com a mãe (Andolfi et al, 1989 a).
No momento em que ele liberava aspectos ferinos no contra-ataque à mãe-morte, ele
se sentia como um ser superior, ancião e sábio, que “sabe agir contra o mal”, tinha poderes
superiores e sabia se defender. Ao vislumbrar a imagem do enfretamento Luciano referiu:
“meu pai acreditava que eu poderia vencer por mim mesmo”! O pai estava na cena, ao lado
de Luciano, através do aspecto superior e sábio, que ele também reconheceu nele através da
imagem.
Esta ambivalência pode representar a interiorização das duas figuras parentais, como
forças opostas, que o tornam paralisado, ele nunca conseguiu reagir às cobranças da mãe
porque o pai intervinha por ele, defendendo-o, agora que o pai está morto, Luciano precisará
identificar em si mesmo a força para reagir à paralisação e encontrar a legitimidade de suas
ações, diferenciando-se deles (Bowen, 1991; Schwartz, 2004).
Conforme Jung (1999) referiu o indivíduo precisa encontrar a integração entre o
processo interior e subjetivo e o processo objetivo de relação com as pessoas, um não pode
existir sem o outro.
Nas sessões seguintes, Luciano seguiu promovendo mudanças em sua postura na
relação com sua mãe. Ele referiu que já estava conseguindo conversar e expor sua opinião
sem se alterar com ela. A imagem referida foi retomada após algumas sessões e Luciano
referiu que ainda sentia como se a mãe fosse “do mal”, mas agora podia enfrenta-la.
A presença de Salete nas sessões mostrou que ele estava repetindo com ela o mesmo
padrão que mantinha na relação com a mãe. Com isso, foi possível trabalhar a relação do
casal nas dificuldades que Luciano estava reproduzindo, numa verdadeira terapia de casal
preventiva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Jogo de Areia como recurso terapêutico mostrou-se eficiente na psicoterapia de
adultos, possibilitando uma ampliação sobre o entendimento do indivíduo e suas relações
familiares, para além da inclusão do membro familiar ausente.
Com esta técnica foi possível reconhecer sentimentos, desejos, paralisações e padrões
rígidos que pela consciência, através da palavra, não teria dado conta de identificar, ou
mesmo, os teria escondido.
15
As imagens são concretas e visíveis, mas não literais, pode-se ver a realidade psíquica
através de suas metáforas, que permitiram a elaboração de algo a mais do que o pensamento
racional.
A cena criada a partir das emoções e sentimentos agiu como uma lente de aumento,
por onde se pode ver a realidade. A partir da inclusão imagética, a relação sistêmica se fez
presente no instante terapêutico e o acesso ao mundo interno possibilitou aos participantes a
identificação de suas dificuldades no relacionamento com seus familiares. E, sobretudo, a
reelaboração de sentimentos e energias bloqueadas.
O processo de diferenciação tardio foi recorrente nos três casos, o que é relevante e
pode nos dar uma pista para novos estudos e pesquisas sobre esta condição psicológica. Seria
esta uma característica presente nos pacientes resistentes a trazer um familiar significativo
para participar da terapia?
Contudo, esta condição reflete a imaturidade de alguns adultos na atualidade, que
ainda permanecem enredados à família, dependentes emocionais e financeiramente.
Na minha prática clínica, a utilização do Jogo de Areia no processo terapêutico com
adultos tem se mostrado importante recurso para auxiliá-los a diferenciarem-se, liberando-os
para viver de forma autêntica, capazes de se relacionar com seus mundos externo e interno.
Com este estudo, trago um pouco da minha trajetória como terapeuta, realizando a
integração da Psicologia Analítica e Sistêmica para compreensão integral do ser.
REFERÊNCIAS
Andolfi, M.; Angelo, C.; Menghi, P.; Corigliano, A.M.N. (1989a) Por trás da máscara
familiar. Porto Alegre: Artes Médicas.
Andolfi, M. Angelo, C. (1989b) Tempo e mito em psicoterapia familiar. Porto Alegre:
Artmed.
Aylmer. R.C. (1995) O lançamento do jovem adulto solteiro in Carter B; McGoldrick (1995)
As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a família. 2ª edição. Porto Alegre:
Artes Médicas.
Ammann, Ruth. A Terapia do Jogo de Areia: imagens que curam a alma e desenvolvimento
da personalidade. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2002.
Bauer, M. W.; Gaskell, G. (org.) (2002) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um
manual prático. Petrópolis: Vozes.
Boscolo, L.; Bertrando, P. (2012) Terapia Sistêmica Individual: manual prático na clínica.
Tradução: Silvana Garavello. Belo Horizonte: Artesã.
Bowen, M. (1991). De la familia al individuo: la diferenciación del sí mismo en el sistema
familiar. Buenos Aires: Paidós.
16
Chevalier,J.;Gheerbrant, A.(2007) Dicionário de símbolos. 21º ed. Rio de Janeiro: José
Olympio.
Haley, J. (1980) Terapias no Convencional: las técnicas psiquiátricas de Milton H. Erickson.
Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Hillman, J. (2010) Re-vendo a Psicologia. Tradução Gustavo Barcellos. Petrópolis, RJ:
Vozes.
Jung, C.G. (1986) Memórias, Sonhos e Reflexões. 8ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
Jung, C. G. (1999) Ab-reação, análise dos sonhos, transferência. 4ª ed. Petrópolis: Vozes.
Jung, C.G. (2000) A natureza da psique. 5ª ed. Petrópolis: Vozes.
Jung, C.G. (2007) Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 5ª ed. Petrópolis: Vozes.
Laing, R.D. (1969) A política da família e outros ensaios. São Paulo: Martins Fontes.
Levy, E.G. (2011) Tornar-se quem se é: a constelação do Self no jogo de areia. Porto Alegre:
Armazém Digital.
Disponível em <http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167851772008000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acessado em dez. 2012.
Minuchin, S. (1990) Famílias: funcionamento e tratamento. Porto Alegre: Artes Médicas.
Minuchin, S.; Fishman H.C. (2003) Técnicas de Terapia Familiar. Porto Alegre: Artmed.
Schwartz, R.C. (2004) Terapia dos sistemas familiares internos. São Paulo: Roca.
Silva, J.D.T., Muller, M. C.; Bonamigo, R.R. (2006). Estratégias de coping e níveis de
estresse em pacientes portadores de psoríase. Anais Brasileiros de Dermatologia, 81(2), 143149.
Disponível
em
http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S036505962006000200005&lng=en&tlng=pt.http://dx.doi.org/1
0.1590/S0365-05962006000200005. Acessado em dez. 2012.
Simon, F.B.; Weber, G. (1989) Terapia Individual Sistêmica: Sistemas Familiares. Buenos
Aires: (1989).
Stake, R.E. (1994) Case Studies. In: N. Denzin & Y. Lincoln (Orgs) Handbook of Qualitative
Research (pp.236-247). London: Sage.
Thompson, J.B. (1999) Ideologia e Cultura Moderna: teoria social crítica na era dos meios
de comunicação de massa. 3ed, Petrópolis: Vozes.
Weinrib, E.L. (1993) Imagens do self: o Processo Terapêutico na Caixa-de-areia. São Paulo:
Summus.
Winnicott, D.W. (1993) A família e o desenvolvimento individual. São Paulo: Martins Fontes.