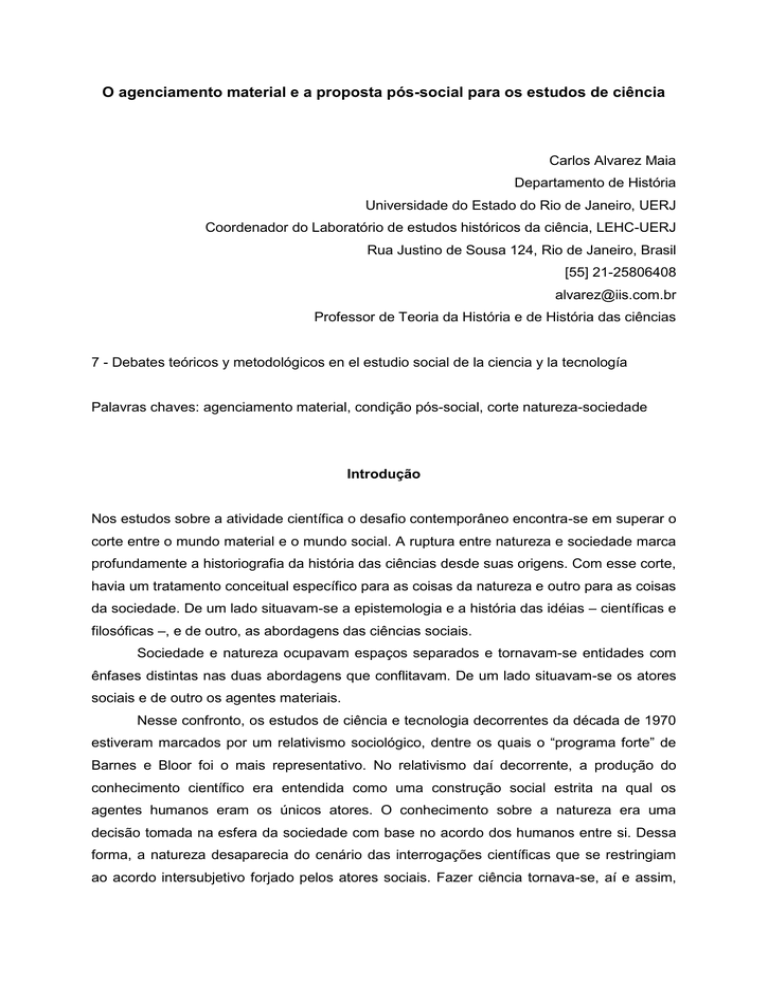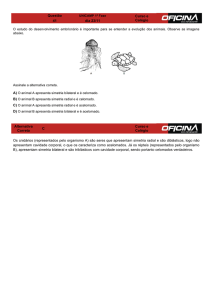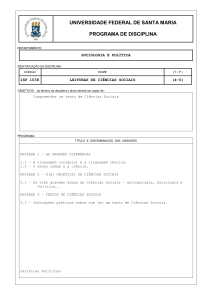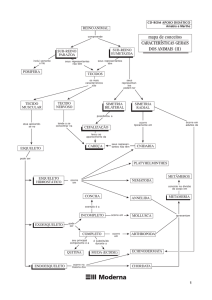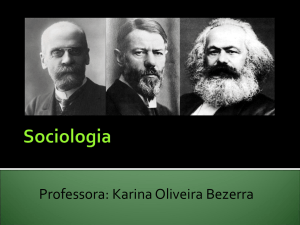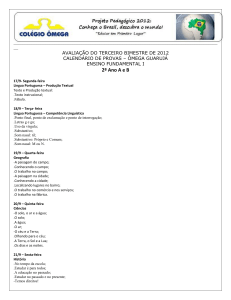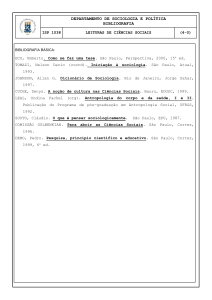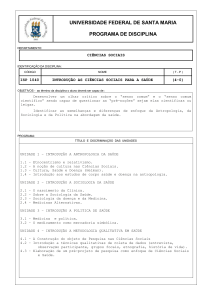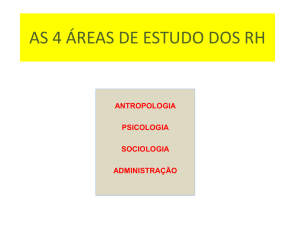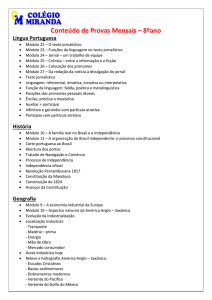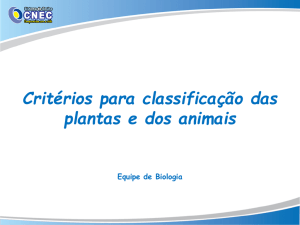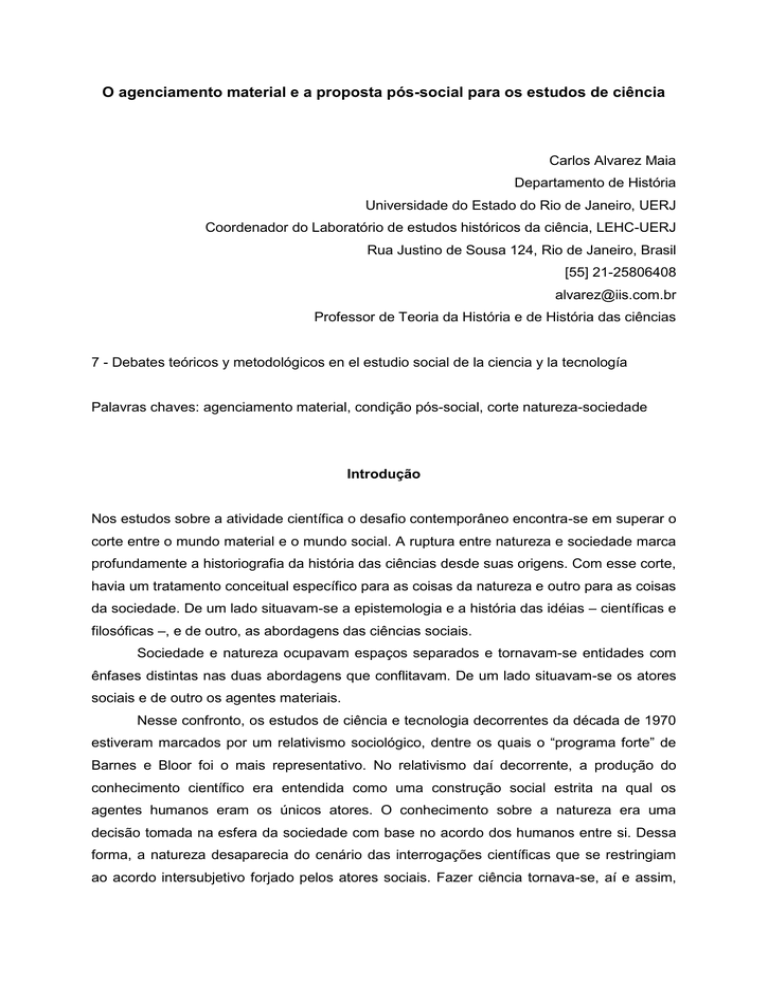
O agenciamento material e a proposta pós-social para os estudos de ciência
Carlos Alvarez Maia
Departamento de História
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ
Coordenador do Laboratório de estudos históricos da ciência, LEHC-UERJ
Rua Justino de Sousa 124, Rio de Janeiro, Brasil
[55] 21-25806408
[email protected]
Professor de Teoria da História e de História das ciências
7 - Debates teóricos y metodológicos en el estudio social de la ciencia y la tecnología
Palavras chaves: agenciamento material, condição pós-social, corte natureza-sociedade
Introdução
Nos estudos sobre a atividade científica o desafio contemporâneo encontra-se em superar o
corte entre o mundo material e o mundo social. A ruptura entre natureza e sociedade marca
profundamente a historiografia da história das ciências desde suas origens. Com esse corte,
havia um tratamento conceitual específico para as coisas da natureza e outro para as coisas
da sociedade. De um lado situavam-se a epistemologia e a história das idéias – científicas e
filosóficas –, e de outro, as abordagens das ciências sociais.
Sociedade e natureza ocupavam espaços separados e tornavam-se entidades com
ênfases distintas nas duas abordagens que conflitavam. De um lado situavam-se os atores
sociais e de outro os agentes materiais.
Nesse confronto, os estudos de ciência e tecnologia decorrentes da década de 1970
estiveram marcados por um relativismo sociológico, dentre os quais o “programa forte” de
Barnes e Bloor foi o mais representativo. No relativismo daí decorrente, a produção do
conhecimento científico era entendida como uma construção social estrita na qual os
agentes humanos eram os únicos atores. O conhecimento sobre a natureza era uma
decisão tomada na esfera da sociedade com base no acordo dos humanos entre si. Dessa
forma, a natureza desaparecia do cenário das interrogações científicas que se restringiam
ao acordo intersubjetivo forjado pelos atores sociais. Fazer ciência tornava-se, aí e assim,
uma atividade meramente sociológica. O objeto natural perdia seu estatuto de fonte das
afirmações e validações científicas. A sociedade “decidia” como o mundo devia ser.
Como reação aos impasses daí advindos, Callon-Latour apresentaram um princípio
de simetria generalizada entre a sociedade e a natureza que resgata para o cenário das
participações os elementos naturais ao lado dos sociais. Porém, neste princípio, humanos e
não-humanos estabelecem uma simetria que configura uma paridade ontológica entre as
coisas e as pessoas tal que desfigura a especificidade do humano como um ser
historicamente constituído. Coisas e humanos tornam-se equivalentes na ação. Trata-se de
uma simetria que exige um papel volitivo e animista para as coisas.
Para ultrapassar essas dificuldades convoco a hipótese de “pós-social” – introduzida
por Karin Knorr Cetina – que inclui os objetos, naturais ou manufaturados, como agentes
materiais ao lado dos típicos agentes humanos, sem a necessidade de qualquer simetria. O
termo “pós-social” indica a necessidade de se expandir a nomenclatura de “social”, e claro,
os conceitos e percepções a ela associados. O social, não mais se restringe à percepção de
humanos isolados entre si, afastados do ambiente natural no qual se inserem. Assim,
desfaz-se a ruptura entre sociedade e natureza e promove-se sua síntese explicativa em
uma sócio-natureza.
Um problema sociológico: o relativismo e a separação entre o social e o material,
entre natureza e sociedade
A história das ciências nasceu com uma perspectiva objetivista e realista na qual o sujeito
em posição passiva meramente descobria os fatos da Natureza. A Natureza é que era a
produtora – ativa – de fatos. Imperava então o modelo epistemológico sujeito-objeto, ambos
supostos como independentes, e que separava a Natureza e a Sociedade, como entidades
ontológicas. O conhecimento científico, logo verdadeiro, era reflexo da Verdade da
Natureza, das Leis da Natureza. O cientista era um mero leitor – neutro e objetivo – do Livro
da Natureza.
Durante o século XX este modelo, sujeito-objeto, foi duramente criticado. Mostrouse quanto o sujeito é um agente construtor, ativo, que interfere no produto do conhecer.
Especialmente com o aparecimento do “programa forte de sociologia do conhecimento” de
David Bloor e S. B. Barnes, na década de 1970, consolida-se um olhar construtivista radical.
Este programa “forte”, caracterizado por seu “princípio de simetria” (Bloor, 1991),
expõe a necessidade de tanto o conhecimento considerado verdadeiro quanto o falso serem
construções sociais e torna-se o alicerce da nova sociologia do conhecimento científico –
sociology of scientific knowledge, SSK, base dos social studies of science, SSS. Assim se
implode o lugar de confinamento em que a sociologia da ciência estava aprisionada até esse
instante, somente autorizada a tratar dos desvios da verdade e da objetividade científicas, a
posição madrasta da “sociologia do erro”.1
A partir de então, também as análises sobre os sucessos científicos tornavam-se
questões sociais – coisa impensável anteriormente onde o saber verdadeiro e objetivo da
ciência pertencia tão somente à esfera lógico-epistemológica.
Nessa nova sociologia, os fatos científicos são colocados entre aspas – “fatos” –
devido à insurgência da sociedade, do social. É a era da “construção social da realidade”.
Com isso abriu-se a arca das fantasmagóricas alternativas relativistas e as subjetividades
alçam vôos soturnos. A realidade passa a ser vista como uma construção, a objetividade é
encarada não mais como uma aura do objeto “real” mas como um acordo entre sujeitos, um
consenso intersubjetivo. É a fase do “construtivismo sociológico” que parece prescindir de
qualquer referência ao mundo.
Repare que nesse contexto o termo “social” está designando a ação estrita dos
atores humanos entre si. Trata-se de um momento em que o corte natural-social está bem
estabelecido mas o acordo entre as subjetividades parece suplantar a necessidade do aval
da realidade material para constituir uma verdade.
Ao lado dessa sociologia, surge um novo componente, a linguagem como questão,
o que radicaliza ainda mais esse processo construtivista. O caráter discursivo de uma
prática se apresenta como a forma textual, literal, pela qual a realidade é efetivamente
constituída. Ocorre aí a fratura total da clássica trilogia significante-significado-referente que
amparava a certeza das palavras falarem sobre o “real”. A palavra não mais se conecta
univocamente às coisas do mundo. O referente de um discurso desaparece do horizonte
material, concreto. Nem mesmo o seu significado é bem determinado e os significantes
entrelaçam-se entre si, sem um pouso no “real”. Assim, a realidade, linguística e societária,
esfumaça-se e o realismo científico é olhado com desconfiança e ceticismo. O referente
emudece. Não há mais como distinguir a realidade da ficção e, doravante, tudo se mostra
como discurso, “o mundo é texto”, diz-se; “tudo é texto”, clama-se, nesse construtivismo
linguístico.
1
Esta foi uma denominação corrente dos estudos de ciência entre as décadas de 1940 e de 1970. Já
a proposta do “programa forte” produz um deslocamento radical na sociologia da ciência de linhagem
mertoniana e promove um resgate do olhar mannheimiano, da sua sociologia do conhecimento.
Até esse momento, a verdade e a objetividade científica não solicitavam explicações sociológicas,
bastavam a análise do conteúdo lógico-conceitual e o tratamento epistemológico para compreender
as razões e resultados do conhecimento verdadeiro e objetivo da ciência. Já os enganos, as fraudes
e os fracassos científicos, não, estes estariam sob a responsabilidade da análise sociológica.
Somente quando os elementos sociais imiscuíam-se no fazer científico é que a sociologia era
convocada para explicar o erro que – certamente – ocorrera. Estávamos na era da “sociologia do
erro”, retratada no pensamento: “o erro deve-se à ingerência das questões sociais, pertence à
sociedade, e a verdade decorre da compreensão lógica da natureza”.
E mais uma vez, a realidade material está fora do jogo compreensivo.
A solução do humanoide de Callon-Latour
Dos múltiplos e diferenciados herdeiros dessa “revolução paradigmática”, há uma reação
que se tornou notável e diferenciada. Essa reação, capitaneada por Bruno Latour e Michel
Callon, mostra-se bastante crítica dos relativismos sócio-linguísticos e termina por rejeitar a
nomenclatura de “social” – tomada como algo restrito aos atores humanos – para marcar
seu afastamento dessas correntes. Isso justifica uma outra designação: estudos de ciência e
tecnologia – science and technology studies, STS.2 O cerne da questão é escapar dos
arroubos relativistas sem recair na antiga tradição da objetividade que emerge das coisas
em si, dos fatos da natureza, dos eventos que compõem a realidade do mundo. Seu alvo é
enfrentar tanto o construtivismo sociológico como o linguístico, advogando algum “neorealismo” que dê às práticas científicas o direito de estarem falando sobre o mundo, mas
que simultaneamente também o construam. Assim, a realidade persiste como construção
societária mas é igualmente um agente ativo, com alguma autonomia dos sujeitos. A
orientação de Callon-Latour resgatou o compromisso com um realismo redesenhado que
salta do mero realismo cientificista e incorpora matizes construtivistas.
Entretanto, esses autores, no clima da polêmica com o “programa forte”, adotam a
nomenclatura diferencial de Bloor com a finalidade de mostrar sua superação, de que foram
mais além e o ultrapassaram. Assim estabelecem um outro “princípio de simetria” – agora,
“generalizado” –, situado entre sociedade e natureza. Pretendem que o mesmo tratamento
analítico dado para as questões sociais deva também ser dado aos “objetos” naturais.
Dessa forma, relativismo e realismo, grosso modo, embaralham-se sem que nenhum deles
alcance uma posição absoluta.
Daí emerge uma útil e renovada apreciação para a antropologia, doravante
designada como “antropologia simétrica”, habilitada para tratar com equidade o mundo
social e o natural. Uma antropologia focada agora nas sociedades contemporâneas e que
observa “os cientistas em ação” como seus “nativos”. São cientistas-nativos submetidos
igualmente tanto aos ditames da natureza quanto aos da sociedade. Delineia-se uma
postura metodológica bastante produtiva baseada na análise etnográfica que segue os
passos efetivos dos agentes na produção do conhecimento – os chamados “estudos de
laboratório”.
2
Ver a excelente síntese do período realizada em Andrew Pickering (1992), que expõe inúmeras
avaliações recíprocas entre as principais correntes de então. A discussão marcante, para nosso
propósito, é a que ocorre entre Latour e seus críticos: Collins e Yearley.
Porém se esta etnografia dos laboratórios mostra-se adequada para historicizar a
produção do conhecimento – ao invés de submetê-la aos cânones epistemológicos dados a
priori –, há uma questão decorrente do léxico usado no enfrentamento com Bloor e que se
mostra bastante problemática. A adoção do termo “princípio de simetria” apresenta algumas
implicações nefastas para uma história das relações estabelecidas e que gera malentendidos.
Quando esses autores designam “sociedade” e “natureza” como estados simétricos
não expressam tanta ambiguidade – estão se referindo a uma situação típica para a
antropologia quando esta se aplica às sociedades “frias” –, afinal a compreensão
característica da antropologia para as sociedades “selvagens” é exatamente esta: tratar
como de igual importância tanto o mundo natural quanto o mundo social. Dir-se-ia mundos
“simétricos”. Neste sentido, ao se utilizarem da antropologia para estudar as nossas
sociedades, a sociedade moderna, e ao denominarem esta “nova” antropologia de
“simétrica” eles não produziram nenhuma “revolução”, estão simplesmente sendo rigorosos
e consistentes com o próprio suporte teórico-metodológico da antropologia, com as suas
exigências conceituais, que solicitam igualdade de tratamento para os objetos naturais e os
eventos culturais. Afinal o termo “cultura” já abarca a materialidade. Nada demais, em
sentido estrito. Assim, a inovação trazida pelo termo “antropologia simétrica”, efetivamente,
nada mais é do que um pleonasmo e tão somente um pleonasmo. A novidade, é claro,
encontra-se no uso da antropologia para analisar a nossa sociedade moderna e não a
deles, as sociedades “frias” dos eternos nativos, como era usual. A grande novidade está
em olhar esse objeto “ciência” como um objeto antropológico, em transformar cientistas em
nativos.
Até aí, não há maiores divergências, pode-se aceitar o uso do termo “simetria”
como uma metáfora pouco problemática que simplesmente expressa uma vontade
metodológica e epistêmica de dar o tratamento equipolente para a análise tanto da Natureza
quanto da Sociedade em nosso mundo contemporâneo.
Porém, quando esses autores trasladam esse binômio Sociedade/Natureza para
outro formado por seus pretensos elementos constitutivos, o par humanos/não-humanos, a
situação fica bem mais complexa e imprecisa. O que quer dizer um “princípio de simetria
entre humanos e não-humanos”? O tal “princípio” – até por ser um princípio – impõe uma
certa equivalência ôntica, entre os “atores humanos e não-humanos”, no dizer desses
autores, e assim a etnografia fica submetida a um “princípio” que contrabandeia uma
ontologia para seus domínios. A metáfora da simetria entre os dois tipos de agentes, os
“atores humanos e não-humanos” sugere que se trata de uma distinção entre estados de
ser, estados simétricos. E isso é problemático.
Como descrição da ação interativa entre os agentes seria mais próprio dizer
agenciamento recíproco do que postular um princípio e uma simetria. Para ser fiel ao olhar
etnográfico essa questão ficaria melhor colocada se esses autores observassem que há
uma interação – e que é recíproca, enfatizo – entre os agentes em vez de proporem uma
simetria entre estados hipotéticos, já cristalizados, para os dois tipos de entidades que
atuam na cena científica. E mais, antes de serem olhados como estados estáveis inatos
essas categorias de “humanos” e “não-humanos”, por coerência, deveriam ser observadas
como produções que ganharam estabilidade societária – tornaram-se “fatos naturalizados” –
justamente através desse mesmo agenciamento recíproco.
Afinal, esta é a boa novidade callon-latouriana – o agenciamento recíproco entre
coisas e humanos –, mas que infelizmente fica assim ofuscada pela disputa mertoniana
com Bloor. O embate com Bloor foi a fonte originária de inspiração para Callon-Latour
proporem o seu princípio “generalizado” e a sua nomenclatura de estados simétricos para os
seres. Envolvidos nesse combate, a compreensão mais precisa de uma etnografia das
relações entre agentes, tal como expressa o termo “agenciamento recíproco”, é ocultada. É
mascarada por um “princípio generalizado” que foi “politicamente” mais útil para “derrotar”
Bloor, para superar o antigo “princípio de simetria” que era tanto o baluarte quanto o
estandarte do “programa forte” de Bloor. Esse aspecto de disputa acadêmica por prestígio
causa danos à teoria.
Se aí poderia se encontrar uma bela solução o que efetivamente houve foi um
grave problema, Callon-Latour introduzem clandestinamente uma aporia ao privilegiarem
sua luta política contra Bloor. Afinal, naquele momento a proposta de Bloor tornara-se a
grande novidade e a simetria blooriana – entre verdade e erro – era a ousadia mais notável
no circuito dos estudos de ciência.
Entra-se assim num labirinto. Latour toma como fato – sua noção de simetria entre
humanos e não-humanos – aquilo que necessita de explicação etnográfica: como ocorre o
agenciamento recíproco? Por essa razão os textos da dupla Callon-Latour, por muitas
vezes, se contenta com descrições das “volições” das coisas do mundo, nas quais as vieiras
ou o ácido lático assemelham-se a humanos voluntariosos – e assim, parecem “confirmar” a
tal da simetria generalizada. Em vez de meramente supor uma relação animista entre
coisas e humanos há que descrever como é que este agenciamento ocorre –
concretamente, de fato – através de uma etnografia que responda à questão: “como as
coisas efetivamente atuam sobre os humanos?” Latour substitui essa questão por uma
ontologia fantástica na qual os “não-humanos” expressam volitivamente – em “simetria” com
os “humanos” – suas “intenções”.
E, por tal questão não ser posta, outras ainda mais instigantes são impedidas de
aparecer, como a que se pergunta sobre que humano é esse. Será uma essência biológica
ou será uma condição histórica? E também aquela que mais interesse desperta para a
antropologia: como e o que é que transforma um indivíduo biológico em uma pessoa,
humana? Ou seja, como se obtém o tal humano como um artefato? Afinal, o que é uma
pessoa?
Mas nossos autores insistem no tema da equidade entre humanos e não-humanos,
em sua simetria. Na orientação callon-latouriana há uma forte inspiração da semiótica
estruturalista de Greimas. O “Princípio de simetria generalizada” mostra-se um reflexo da
simetria greimasiana. Greimas já operava com a ação de actantes – fossem quais fossem
suas medidas ontológicas, coisas ou seres humanos – como agentes equivalentes entre si,
simétricos, no texto. Ora, no projeto de uma semiótica estruturalista as posições funcionais –
as posições actanciais – são agenciamentos textuais “simétricos”, tratam-se de agentes
linguísticos que atuam NO texto. Já em Callon-Latour o que ocorre é uma efetiva paridade
entre agentes que se transformam em agentes materiais que atuam NO mundo. Os
actantes textuais ficam, assim, ontologizados. Bactérias, portas, ácido láctico, enfim, as
coisas tornam-se agentes “simétricos” aos humanos, de funções textuais transformam-se
em entidades volitivas no mundo. Como simples texto, literal, esses humanos e nãohumanos eram posições “simétricas” referidas ao quadrado de oposições binárias,
estruturais, de Greimas. Mas, ao utilizarem o “quadrado de Greimas” no mundo material, dáse o embaraço: esses actantes não-humanos transmudam-se em seres com arbítrio. As
coisas do mundo são antropomorfizadas em narrativas animistas, em relatos hilozoístas. Ao
invés de explicarem etnograficamente como as coisas interagem com os humanos, CallonLatour produzem uma retórica que simula este agenciamento. Para constituir a simetria,
todos se transformam em agentes humanoides, são entes antropoformes, e assim,
“simétricos”.
Humanos e não-humanos simétricos – como Latour se apraz em designar – e que
considero mais adequado se tivessem dito: agentes recíprocos de uma nova teoria da
ação. Uma teoria da ação, esta seria a boa novidade, que escaparia da circunscrição das
subjetividades socializadas, de seus jogos de linguagem sem referente no mundo. Penso
que esse aspecto seria decisivo e inesperado. Teríamos um novo salto compreensivo que
inauguraria novas sendas de trabalho para as ciências históricas do homem ao lado de
tantos outros atrevimentos que norteiam os STS. Teríamos a proposta de agência para
coisas, um agenciamento recíproco, material.
Assim, para vencer Bloor, um princípio “generalizado” mostra-se uma ótima
estratégia; afinal, sua nomenclatura amplia aquela do princípio blooriano, mais simples. Mas
é uma tática desnecessária. A proposta de uma “nova teoria da ação”, mesmo que
postulada ad hoc, já seria suficiente para o propósito desse embate acadêmico. Mas CallonLatour optaram por uma denominação enganosa.
Há dois problemas aí e estão articulados:
1 – a noção de um agenciamento recíproco – para ter utilidade – solicita que se explicite
como tal interação efetivamente ocorre. É necessária uma explicação antropológica que
mostre o modo concreto pelo qual as coisas interagem com os humanos. Mas, pelo uso
da “simetria”, ela fica sem demonstração e isso é grave. Este é o nó górdio e nossos
autores não o desatam, ou melhor, eles simplesmente simulam fazê-lo, através de um
jogo retórico;
2 – trata-se da qualidade dessa simulação, dessa retórica. A idéia de “simetria” mascara o
que efetivamente ocorre. Simula uma explicação da forma de agenciamento recíproco e
substitui a demonstração dessa reciprocidade por relatos animistas. A interação com as
coisas é apresentada por uma falácia anímica. A oratória hilozoísta substitui a
necessária explicação etnográfica, que é omitida. A antropologia, assim, é conduzida
por uma antropolatria “generalizada” para o mundo. No lugar de uma “teoria da ação”,
inovadora, Callon-Latour enredam-se em um velho animismo medieval redivivo.
Esses problemas criados por Callon-Latour merecem mais atenção aqui. Há
necessidade de se compreender como os objetos do mundo efetivamente atuam – a
agência material das coisas – e também aquilo que Callon-Latour insistem em omitir sobre a
diferença entre humanos e não-humanos. Na ânsia de mostrarem a equidade e semelhança
entre esses agentes omitem um aspecto fundamental: a condição histórica do homem que
invalida uma “simetria ontológica generalizada”. Há uma distinção entre humanos e coisas
que não pode ser desconhecida pela atividade histórico-sociológica.
Os humanos: seres inatos ou pessoas históricas?
Esse aspecto revela uma grave lacuna na antropologia desenhada por Callon-Latour. Eles
não se perguntaram “que humano é este?” e no correr de seus textos persiste um uso
ambíguo do termo “humano”, ele é empregado de forma bastante indefinida e genérica.
Como veremos, é justamente por se constituírem em pessoas que os ditos “humanos”
podem interagir em geral com as coisas. E reciprocamente, as coisas podem atuar sobre as
pessoas. Sem sua condição de pessoa, na maioria dos casos, essa interação deixa de
acontecer.
Penso que “humano” seja uma condição do ser – dada em cada indivíduo
historicamente constituído – e não uma qualidade estática, uma essência intrínseca à
biologia do ser. Essa condição de humanidade ocorre ao se configurar na categoria de
pessoa. Pessoa é uma condição adquirida pelos indivíduos biológicos decorrente de seu
agenciamento recíproco no mundo. Essa é a sua condição histórica, a pessoa é constituída
historicamente e não biologicamente. A pessoa não nasce como tal, é um artefato
construído ao longo de sua história em seus agenciamentos recíprocos com as coisas do
mundo. Esta é a ontogenia de cada indivíduo que se reconhece e é reconhecido como tal,
como uma pessoa.3
Mas, o que falta ao humanoide de Latour?
A proposição de simetria termina por fazer a equivalência ontológica entre os
agentes. Essa noção de simetria entre humanos e não-humanos parece um nonsense para
historiadores que se perguntam “que humano é este de que fala Latour?”.
Ao delinear sua narrativa no estilo de um drama pitoresco, como instrumento de
sua ação política para derrotar Bloor, Latour define uma estratégia pessoal de produção de
impacto e diferenciação autoral, que surpreende o leitor com seu relato de apelo dramático,
coisa que sem dúvida esse autor realiza com sucesso e elegância. Porém o enredo explícito
nos embates entre os actantes – por sua dramaticidade textual e ênfase teatral – monta um
cenário implícito de antropóides-agentes, pictóricos. Se por denotação são meros actantes
funcionais da e na linguagem, já por sua conotação dramática, emergem como entidades
“vivas”. Os actantes semióticos de Greimas – mediadores como funções discursivas –
transmudam-se em seres, tornam-se equivalentes ontológicos na ação. As funções
discursivas moldam seres, substâncias com propriedades existenciais. Por suas
associações estilísticas, o drama descrito por Latour sugere uma leitura realista. Na
conotação, de maneira implícita, a narrativa dramatúrgica latouriana eleva ontologicamente
aquela simetria de lugares textuais expondo-a como ontologia simétrica efetiva entre as
bactérias e Pasteur, entre humanos e não-humanos. E aí – nessa descrição de um realismo
implícito – cria-se um problema e um embaraço. Não há como um historiador tomar
bactérias e coisas como equivalentes ontológicos a humanos. O humano de Latour
apresenta ambiguidades e dissonâncias, e sua simetria ontológica com não-humanos
simplesmente as amplifica.
No cenário da vida, o humano é uma distinção construída. Cada ser humano é um
artefato produzido no seu particular devir histórico. Não se nasce humano, torna-se. Em
história entende-se que cada indivíduo biológico, dito “humano”, não nasceu assim. Ele
tornou-se humano através de suas relações coletivas, societárias, em suas interações com
o mundo. O humano não é um estado existencial biológico dado por uma tipologia inata ao
ser. O humano é uma condição – uma condição histórica – do ser.
O ser torna-se humano ao se sujeitar ao processo histórico de humanização, um
processo de vir-a-ser que o caracteriza e particulariza através da convivência e contágio
com os demais humanos. Humanização que inscreve cada indivíduo biológico no evolver
3
Tim Ingold. “Humanidade e Animalidade” in Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1999, no. 28.
constitutivo da humanidade. Aqui se confundem dois conceitos homônimos: humanidade
como algo historicamente constituído – uma condição –, e humanidade como conjunto de
indivíduos que formam uma espécie – uma taxonomia de essências. O ser biológico
denominado Homo Sapiens é insuficiente para definir a qualidade humana que somente se
dá no devir histórico, na existência concreta de cada indivíduo.
A animalidade do homem sofreu duas grandes transformações específicas. A
primeira ocorreu na instância filogenética, de sua hominização biológica como antropóide,
uma mutação física ocorrida durante milhões de anos que produziu uma espécie nova no
gênero homo. Este animal, assim constituído, ingressou em um outro processo – mais
recente, cerca de trinta mil anos – que instituiu a possibilidade de sua humanização.
Enquanto que a hominização é de ordem material, genética, já na humanização há um tipo
inaugural de mutação que ocorre na ordem simbólica. É uma “filogênese histórica” e
desde então o animal Homo Sapiens frequenta a história e conquista a condição de sua
humanidade. Há uns trinta mil anos o animal meramente biológico inventou a história e nela
vem se desenvolvendo.
Mas para que esse processo amplo ocorra na espécie é necessário que cada
indivíduo receba o batismo da história, durante sua vida societária, e que, assim, se torne
um sujeito simbólico, isto é, que participe – na instância ontogenética, individual – da
herança histórica depositada em sociedade. A humanização de cada indivíduo é
consequência de sua historicidade, de sua vivência simbólica em uma cultura. Cada bebê
humano somente se constituirá como tal se seus primeiros anos de vida permitirem sua
entrada no registro simbólico, se a sua convivência com os humanos já constituídos lhe abrir
as portas de uma historicidade constitutiva de sua humanização. Não importa qual a cultura,
o indivíduo somente se faz humano ao se tornar um sujeito histórico, ao estabelecer laços
societários com os demais.
Este laço social é um vínculo instaurado no espaço simbólico da cultura que coage,
sujeita os indivíduos e os torna sujeitos. Assim o animal humano se constitui em uma
pessoa humana. A categoria de “pessoa” é básica para caracterizar a humanidade desse
ente simbólico-material.(Ingold, 1999) Mas o que é uma pessoa? A pessoa possui uma
história de vida, uma nacionalidade, fala um idioma, admite um conjunto de crenças e
valores, ingressa no plano ético, é identificada por um nome, enfim, se humaniza. A
categoria de “pessoa” retira os indivíduos do espaço meramente biológico. A pessoa é a
condição de humanidade adquirida pelos indivíduos biológicos decorrente de seus
agenciamentos no mundo, é um constructo social que garante a humanização de cada
indivíduo. A pessoa não nasce como tal, é um artefato construído ao longo de sua história.
Ingressa no registro simbólico e torna-se um falante que se expressa simbolicamente. Cada
pessoa fala. Fala um idioma. Fala para outra pessoa. Pessoa é uma entidade simbólica,
uma habitante do espaço-tempo cultural, um falante. Uma entidade que habita o espaço da
linguagem e através dela interage com o mundo e suas coisas, com as demais pessoas
desse mundo.
Mas, certamente, Latour não desconhece nada disto, e sua insistência em permitir
a leitura ambígua de seu texto decorre da estratégia narrativa de, provavelmente, causar
impacto na mídia acadêmica, como agenciamento político que demarca seu espaço autoral
próprio, em seu embate com Bloor, o que evidentemente alcançou com mestria.
O que defendo aqui é que devido a tal “simetria de humanos e não-humanos”,
tomada literalmente, Callon-Latour apagam as diferenças entre esses agentes, perdem as
particularidades dos humanos – a produção das subjetividades, a incitação ao agir coletivo,
os jogos políticos, as proposições éticas etc. – como um vir-a-ser histórico. Histórico
entendido como seres que somente se definem em sociedade, em coletividades, que
interagem com o seu meio ambiente e sofrem o agenciamento das coisas. Essa agência
material fica dissimulada no animismo de Callon-Latour. Com isso, a sociologia perde a
oportunidade de tratar de forma efetiva a agência material e suas consequências. Dessas
omissões, a mais notável é não entrar no espaço simbólico que nos faz humanos, que nos
torna pessoas, e assim deixar de ver a linguagem como laço societário fundamental que se
realiza na prática concreta dos humanos. A prática humana não se desvincula do espaço
simbólico. É na linguagem que a prática se realiza. Uma linguagem, não como produto
mental dos seres racionais, mas que é ela mesma agência, que emerge da interação dos
humanos com o mundo. Linguagem como prática, como convocação do outro, como apelo
de vínculo social, como elo efetivo, como forma tipicamente humana de intervenção
concreta no mundo, linguagem como ação material e política. Uma linguagem como
agenciamento produtor de sentidos que afetam e transformam, e não como um mero
produto de mentes excepcionais destinado a comunicar algo. Na simetria a história e seu
fundamento, a linguagem-enlace-ação, desaparece e o que é específico do humano
emudece. A simetria entre sociedade e natureza não as integra e confunde sua articulação.
Preparando uma alternativa à simetria em direção ao “pós-social”:
a agência material e a integração sociedade-natureza.
A “teoria da ação” que percebo como subentendida no imbróglio da simetria callonlatouriana é, na sua essência, equivalente a desvendar as maneiras concretas pelas quais
as coisas atuam sobre os humanos, ou seja, reconhecer o agenciamento para os objetos do
mundo: a agência material. Uma agência material – entre coisas e sujeitos humanos –
ocorre sempre que o objeto afetar (Derrida, 1999) um humano. “Afetar” é equivalente em
semiologia a produzir um sentido para aquele sujeito. Isto é, se aquele evento ou coisa afeta
ao sujeito então esse sujeito extrai uma significação dessa coisa ou evento, o sujeito é
afetado. Assim se configura a agência desse objeto ou evento, a sua produção de sentido.
Por esses instrumentos, a linguagem – na qual os sentidos se cristalizam – torna-se um
elemento essencial dos agenciamentos.4
Estamos tão habituados a entender o agenciamento como um ato volitivo de
humanos – mas, insisto, a agência não se define pelas intenções mas, sim, pelos efeitos de
sentido produzidos – que as mais óbvias e cotidianas ações materiais passam
despercebidas, tornam-se invisíveis. Tal como a exercida pelo ar que respiramos. Ou as
mais impactantes coerções realizadas pelo mundo natural – como as que são produzidas
pelo sol e pelos elementos climático-meteorológicos. A rotina do movimento solar aparente
no horizonte é uma das mais primárias determinações dos ciclos diários do nosso
metabolismo e da vida em geral. Essas formas de agência material afetam diretamente a
constituição da história humana.
Imagine-se uma forma mais sutil de agência, seja o homem primitivo em suas
andanças e que se depara ante a presença de uma gruta protetora ao cair de uma noite fria
e chuvosa. Esse abrigo imprevisto é o resultado de uma agência material sobre o indivíduo
nômade. A natureza afetou, apresentou sua sugestão de uso, fez sua indicação de uma
aplicação prática para aquela gruta. Cabe ao indivíduo captar a “recomendação” feita e
simplesmente
usá-la.5
A
agência
material
“recomenda”
seletivamente
algumas
transformações para o viver social.
Uma clara evidência de como a agência material atua encontra-se em cada
ferramenta e utensílio fabricado desde os tempos mais arcaicos. O mesmo pode ser
encontrado nos instrumentos e aparelhos técnicos mais recentes. Cada artefato produzido é
uma consequência, um produto acabado do agenciamento ocorrido. A ferramenta decorre
da interação homem-natureza, ela é uma produção humana porém também é
simultaneamente um produto natural. Cada ferramenta captura sentidos do mundo como
também inscreve significações nesse mundo.
4
Evidentemente que linguagem, nessa semiologia de objetos e coisas, vai além do literal e ocorre
sempre que haja uma significação, um sentido. O termo “sentido”, ainda nessa semiologia, difere do
termo “significado” da linguística, bem mais restrito em sua associação estritamente literal e que
independe da presença de um sujeito. Em lingüística fala-se do significado da palavra, independente
da ação de um sujeito. Já o “sentido” introduz e articula um sujeito a um texto, literal ou não.
5 Um grupo social passa de nômade a sedentário impulsionado por certas condições materiais. A
pecuária e a agricultura foram “recomendações” de possibilidades extraídas pelos humanos em suas
interações com a natureza. Lisa Asplen (2006) dá ênfase a esta noção de “recomendação”
observando seu caráter não determinístíco: “Under this perspective, the agency of “nature” is
recognized as a causally important, but in no way deterministic, factor in understanding socioenvironmental relations. As Soper (1995) explains, material agency “may ‘recommend’ certain types
of action, and it will always have its say in determining the effects of ours actions, but it does not
enforce politics” (p. 327).” Asplen cita a obra de Kate Soper. 1995. Feminism and Ecology: Realism
and Rhetoric in the Discourses of Nature. Science, Technology, and Human Values. 20: 311-31.
Desvenda-se a agência fazendo a etnografia desses artefatos, uma etnografia da
fabricação e das utilizações das ferramentas.6 Assim, cada ferramenta fornece o “corpo”, a
materialidade de uma agência, e representa também uma habilidade humana situada
historicamente e decorrente do nosso enfrentamento ao agenciamento material.
O aspecto positivo da tentativa de Callon-Latour foi indicar uma lacuna
compreensiva nas ciências sociais decorrente do uso do conceito substantivado de “o
social”. Esse conceito separa a materialidade do mundo, ou a Natureza, da sociedade.
Simbólico e material tornam-se regiões desconexas. Nessa separação há uma dificuldade
para a sociologia tratar as coisas materiais, em geral, e os objetos tecnológicos, em
particular. O relativismo mostra uma inconsistência da sociologia ao focar as questões da
ciência. Na crítica à simetria de Callon já a traduzo – e assim a transformo em algo palatável
para as ciências históricas do homem – como equivalente à proposta de agenciamento
recíproco que adiciona a agência material aos agenciamentos ditos “sociais”, dos atores
humanos. E aí se encontra o núcleo do argumento da proposta – introduzida por Karin
Cetina7 – de “pós-social”: há necessidade de ampliar-se a noção de ator social. Essa
proposta opõe-se fortemente à ruptura sociedade-natureza – refletida no corte socialmaterial. Com ela, não se separa a instância simbólica da material, a prática simbólica é
também uma prática material. Assim, incluem-se os objetos, naturais ou manufaturados,
como agentes materiais ao lados dos típicos agentes humanos, e resgata-se uma
integração dos humanos no mundo vencendo a separação entre natureza e sociedade.
A separação entre sociedade e natureza é uma representação social. Uma
representação que já demonstra um esgotamento de sua utilidade. Em sua essência, ela é
um mero reflexo de uma outra representação, igualmente restritiva das percepções
contemporâneas sobre o mundo social. Trata-se da ruptura entre mente e corpo.
Se já houve alguma importância útil nesta separação entre o físico e mental, ela
está confinada ao século de Descartes. No século XXI, após tantas críticas – pelo menos do
marxismo, da psicanálise e do estruturalismo antropológico – não há mais condições, nem
lógicas nem históricas, para sua sobrevivência.
Aquelas “nobres” atividades consideradas tipicamente (das mentes) humanas, tais
como a música, as artes, a linguagem ou o conhecimento, são atividades que possuem um
6
Uma etnografia da fabricação e uso das ferramentas e utensílios é o passo fundamental para
mostrar como a agência entre homem e natureza é interativa. Acompanhar em seus detalhes
mínimos a produção dos artefatos é desvendar como há uma dupla participação – do indivíduo e do
meio natural – na solução de um problema. Ao produzir, por exemplo, uma lâmina cortante a partir do
polimento de um osso, o agente humano teve que levar em consideração as possibilidades que a
peça bruta de osso oferecia, e teve que respeitar os limites materiais impostos por essa peça
originária. O planejamento e a confecção de uma faca de origem óssea depende desses dois
agentes: o homem e o osso.
7 Ver Karin Knorr Cetina (1997, 2000) e Scott Lash (2001) que trata de formas tecnológicas de vida,
uma necessidade para a hipótese “pós-social”.
aspecto mental, servem de demonstrativo da excepcionalidade das qualidades psíquicas
humanas, de sua razão e sensibilidade. Mas este é só um aspecto. Não há música, pintura,
ciência ou até mesmo a linguagem como puras expressões das mentes de indivíduos
isolados, sem lhes anexar um outro aspecto, o material. Essas atividades só ganham
realidade após sua materialização, ao se transformarem em objetos materiais no mundo.
Nada – dentre as realizações humanas – é exclusivamente mental, nem o “pensador de
Rodin”. Aquilo que se julga como atividade estritamente mental é uma forma interativa de
ação que envolve o psíquico e sua realização física, material.
Como as coisas atuam sobre os humanos: as agências intra-ativas
Esta é a motivação para se convocar o conceito de “prática”, a prática como a agência
humana. É a maneira pela qual os humanos realizam suas ações, simultaneamente mentais
e materiais. A prática envolve interativamente mente e corpo, espírito e matéria, é uma ação
de intervenção no mundo. A prática é pensamento e ação e que ocorrem em situações
historicamente determinadas. A prática é a maneira pela qual as existências se realizam no
mundo. As vivências, os hábitos e costumes são concretizações das práticas rotineiras que
estabelecem a historicidade de cada indivíduo. A prática nunca é um ato isolado que reflete
um agente solitário, sempre atua em algo e situa-se em um contexto de ação. É através da
prática que as percepções do indivíduo sobre si e sobre o mundo se fazem. É o ponto de
encontro da subjetividade com a objetividade. A prática é uma ocorrência no mundo. Sherry
Ortner já fazia sua defesa nos idos da década de 1980 e propunha que o estudo da prática
seria o estudo de todas formas de ação humana.
“Argumentarei que um novo símbolo chave de orientação teórica está aparecendo,
e que pode ser chamado “prática” (ou “ação” ou “praxis”). Nem sequer é una teoria
ou um método em si, mas, como eu disse, um símbolo, o nome sob o qual uma
variedade de teorias e métodos estão sendo desenvolvidos.”(Ortner, 1984: 126,
tradução minha)
Nesse envolvimento com a perspectiva da prática, já promovemos um
deslocamento para os bastidores compreensivos das teorias representacionais. Uma
representação mental nunca é estritamente mental. Mas decorre de uma prática societária
que a autoriza e enforma. As representações são produtos de formas de vida,8 organizam e
dão sentido às existências. As representações emergem de práticas vivenciais e reafirmam
essas vivências. As representações, mentais ou não, são sintomas. Sintomas de algo que
8
As formas de vida wittgeinstenianas formam um conceito vinculado ao de prática, ver Lash (2001).
se realiza no mundo concreto em que as sociedades se localizam. São meros sintomas de
práticas.
Dentre todas representações, uma que solicita mais atenção é a que se refere ao
conhecimento. O saber mostrado como uma “teoria” – uma representação – é um dos
maiores aliados da visão mentalista que fraciona o humano entre o intelecto, o cerebral, por
um lado, e o corpo físico pulsional, por outro. A teoria é suposta como pura expressão da
atividade intelectual, da razão. Assim trabalham uma história das idéias filosóficas ou uma
história das teorias científicas. Ambas são úteis para compreender o evolver das idéias
como idéias, porém anacrônicas e ineficientes como história propriamente dita. Seu modelo
explicativo está centrado na figuração anedótica de que o progresso civilizacional estaria
demonstrado através de uma pirâmide de “grandes homens”, geniais, uns apoiados sobre
os outros. “Gigantes sobre os ombros de outros gigantes”. Einstein sobre Laplace que
estaria sobre Newton que se apoiaria em Galileo.
Mas, o conhecimento é um saber que decorre de um viver, de um fazer.
Especialmente o saber científico é um conhecimento eminentemente decorrente de
interações com o mundo, de intervenções concretas no mundo. O saber da ciência é um
fazer. Tratam-se de observações, de ingredientes empíricos, de medidas e de testes
experimentais. Se falarmos das ciências naturais então essa situação interativa ainda ganha
outro viés mais esclarecedor dos prejuízos e absurdos compreensivos impostos pela
partição mente-corpo ou, de sua generalização, a partição sociedade-natureza. Afinal é um
saber produzido em sociedade porém que atua sobre a natureza. Para compreender as
ciências naturais seria um nonsense manter a separação entre sociedade e natureza. Essas
partes mantidas separadas estão integradas na sua prática de produção.
Estou aqui defendendo dois suportes para entender melhor a atividade científica,
são dois suportes interligados. Um é que a ciência será compreendida de forma
empobrecida se meramente a supormos como uma teoria, uma forma de representação. A
ciência é, de fato, não um produto da introspecção mental de seres “geniais”, mas um fazer
interativo com o mundo e suas coisas. Ciência como uma prática produzida por sujeitos
empiricamente entrelaçados com o mundo. Não há como manter a separação entre
produção intelectual e intervenção material. O outro suporte compreensivo vem da
caducidade de ainda supormos a separação sociedade-natureza. Ciência é a denominação
para uma forma de interação entre sociedade e natureza. É uma ação dos homens sobre o
mundo natural.
E isto, sem falar no seu produto mais invasivo do tecido societário e de uma
constituição material intensa: a tecnologia. Os produtos técnicos e tecnológicos são a maior
demonstração do amálgama entre sociedade e natureza. Desde as mais simples
ferramentas há uma integração efetiva entre o social e o natural. O próprio corpo de cada
artefato produzido retrata essa coexistência entre sociedade e natureza. A natureza invade
a sociedade através dos produtos naturais socialmente constituídos. Isso solicita que se
avalie o conceito de agência como uma qualidade estrita dos humanos. Há uma agência
material. As coisas atuam e afetam os humanos. Penso que há uma vantagem explicativa
se utilizarmos o conceito de agência material para designar a forma pela qual as coisas do
mundo material atuam sobre os humanos. Devo ampliar minha concepção de agência –
como aquilo que é somente oriundo das intenções e decisões humanas – e expandi-la para
as coisas materiais, evidentemente sem dar às coisas propriedades animistas de uma
pseudo-vontade intencional. Como já disse, penso agência simplesmente como a
propriedade de afetar. A agência é sempre interativa, entre dois, e ambos são afetados pela
presença do outro. Tal como o artefato tecnológico afeta tanto a natureza quanto a
sociedade.9
E essa produção de artefatos é em si, também, uma produção de uma “nova”
sociedade. A sociedade muda por intermédio das interações que os seres sociais
estabelecem com o mundo. Assim, na pré-história, saiu-se da pedra lascada para a polida e
daí para a era dos metais. Novos artefatos, novas sociedades. Essa prática interativa é
produtora de novas entidades. Mudam o mundo social e o natural. A natureza não é mais a
mesma desde que milhares de anos de interações com os humanos a transformaram
radicalmente, que o digam os ambientalistas. Nem a sociedade permanece imutável, após
cada “revolução” tecnológica. Hoje, não há mais espaço para a sobrevivência da separação
mítica entre sociedade e natureza, nem entre mente e corpo. Até mesmo no marxismo
originário estavam lá “forças produtivas” e “relações de produção” como caracterizações
desse dueto de envolvimento mútuo.
Nesse sentido, ciência é muito mais do que uma representação mental de como os
humanos compreendem o mundo, um mero conhecimento. Ciência é a forma pela qual os
humanos transformam o mundo, tanto o social quanto o natural. Mais do que simplesmente
um conhecer representacional, é um fazer. Uma prática interativa.10
Karen Barad apresenta uma notável hipótese para as agências em sua “teoria” da
prática. Ela usa a expressão “intra-ativo” para designar o caráter interativo, porém trata-se
de uma interação entre partes e que é simultaneamente constitutiva dessas partes. É mais
do que simplesmente interativo, é “intra-ativo” pois produz novos sujeitos.11 Exatamente
9
Karen Barad é uma analista ativa nessa orientação, ver especialmente Barad (1999, 2003).
Andrew Pickering e Karen Barad são dois autores dedicados a analisar as atividades da ciência
através do conceito de prática. Ambos são fundamentais para o entendimento da proposta aqui
traçada.
11 Ver Karen Barad (1999, 2001, 2003, 2007).
Ver, por exemplo, “The notion of intra-action (in
contrast to the usual “interaction,” which presumes the prior existence of independent entities/relata)
represents a profound conceptual shift. It is through specific agential intra-actions that the boundaries
10
como ocorre entre natureza e sociedade por ação da tecnologia, ou do saber científico. A
tenociência é uma prática “intra-ativa” pois produz uma nova sociedade e uma nova
natureza.12 Os sujeitos se fazem sujeitos – transformados – enquanto interagem. Assim uma
agência pretensamente isolada sempre supõe sua recíproca, ela é constitutiva dos sujeitos.
Dessa forma, aquilo que denominamos de humano nada mais é do que o produto
de longas interações – “intra-ações” – dos diversos grupos primitivos com o ambiente
natural, “intra-ações” que fizeram o sujeito homo sapiens, reconhecido há trinta mil anos. “O
processo de tornar-se homem efetua-se na correlação com o ambiente (...) que é ao mesmo
tempo um ambiente natural e humano.” (Berger et al, 1974: 71) Não nascemos como homo
sapiens, nos tornamos – através das práticas “intra-ativas”.
Chegamos enfim a nosso último tópico de combate, o mais árduo. Já falei como as
representações estavam apoiadas na linguagem, e esta servia de garante para se privilegiar
o universo mental e suas produções como que encerradas em si mesmas. A linguagem em
sua clausura. Daí o linguistic turn brandiu sua bandeira da “ficção total” contra a história e
contra todas narrativas com alguma pretensão realista. A base de seus argumentos
encontra-se na “visão mentalista da linguagem” – como o traço diferencial humano que o
pressupõe como “o ser autônomo da linguagem”, posto que, racional. Exatamente esta
idealização torna-se a proposição a ser demolida aqui. Invisto contra a idéia de linguagem
como elaboração mental e, apoiado no conceito de prática, acompanho a linguagem como
enlace “intra-ativo” que conjuga o material e o simbólico. As chamadas práticas discursivas
abrangem mais do que o caráter literal de um discurso, efetivamente são práticas simbólicomateriais.
No impasse erigido pelo confronto entre realismo e relativismo há que se resgatar o
que faz sentido em ambos e, simultaneamente, descartar os seus equívocos. Para tanto, há
necessidade de incorporar os fatores materiais às práticas denominadas restritivamente de
discursivas. Minha alternativa vai em direção do encontro da materialidade com a
literalidade. Trata-se de uma proposta de agência material decorrente da pragmática, do uso
da linguagem. É na prática concreta das ações humanas que se ultrapassa o dilema
realismo-relativismo.
Barad, também alinhada com a preocupação de vencer esse dilema, propõe seu
“agential realism” e adota uma compreensão para as atividades científicas como “práticas
material-discursivas”.(Barad, 1999: 2) Compreendo que tanto o realismo quanto o
and properties of the “components” of phenomena become determinate and that particular embodied
concepts become meaningful.” (Barad, 2003: 815)
12 Quando um indivíduo confecciona uma lança a partir de um galho de arbusto ele está em agência
com o arbusto e a ontologia desse ramo de árvore transforma-se na de um artefato, uma arma; já o
simples indivíduo agora é um caçador. Caçador e arma são novas entidades constituídas pela
agência. Existem – são sujeitos – por estarem em interação através da agência.
relativismo padecem de um limite comum: não percebem a materialidade da linguagem que
é uma forma de agência material-discursiva intra-ativa.13
Linguagem como agência
Para simplificar, vou diretamente ao núcleo do argumento em favor da materialidade da
linguagem. Há anos, 1964, foi formulada uma hipótese antropológica baseada em uma
etnografia dos instrumentos humanos pré-históricos de intervenção no mundo. Esta hipótese
fornece uma outra explicação, bem diferente, para a formação da linguagem entre os
humanos. Ela não ganhou a merecida audiência devido ao contexto hostil que então
predominava – e ainda hoje predomina – de uma ortodoxia que se refugia dogmaticamente
na visão mentalista da linguagem.
A hipótese se apóia na noção de que as agências humanas socializadas são
práticas compartilhadas14 que se associam a significações igualmente partilhadas em
cada grupo societário. Leroi-Gourhan, seu autor, investiga o modo pelo qual o homem
primitivo realizava suas intervenções no mundo através da confecção de ferramentas e
utensílios. Cada artefato produzido segue uma sucessão de passos encadeados, de etapas
necessárias para seu fabrico. São operações encadeadas – “cadeias operatórias” –
associadas à cada agência específica, à cada utensílio/ferramenta. Assim, produzir uma
“faca” a partir de uma pedra lascada solicita que se obedeça a uma certa lógica de
confecção: encontrar a pedra adequada, saber quebrá-la segundo uma clivagem
determinada que deixe uma lâmina cortante à mostra, e saber usá-la. O objeto assim
produzido vai além de sua concretude material, ele solicita a apreensão de sua “sintaxe
operatória”, da sua lógica de fabricação e manuseio, para se transformar em objeto utilitário
comum e de uso continuado no grupo social.(Leroi-Gourhan, 1990: 116-117) Apreender a
sintaxe, a lógica de produção daquele artefato, é uma operação simbólica que implica em
reter a significação expressa naquele fabrico. Aquele artefato somente ingressará na
sociedade se sua significação for capturada e partilhada, comunicada entre os pares. O
objeto, ao se constituir como artefato, não se separa de sua significação. Há necessidade de
que cada artefato seja acompanhado de sua expressão simbólica. Evidentemente o nível de
sofisticação simbólica é bem diferente entre uma simples pedra lascada e um outro artefato
Barad propõe uma “ontologia” que designa aquilo que os historiadores denominam de “realidade
histórica” como “agential reality”.(Barad, 1999: 7) Dessa forma fica afastada a idéia de um Real
metafísico que desconhece a pragmática das ações humanas. Só temos contacto com essa “agential
reality” – a realidade contra a qual nós intra-atuamos e nos constituímos como entes.(idem)
14 Em nossa percepção pragmática é central o entendimento de que as práticas compartilhadas
definem a atividade humana. Veja também o conceito de “comunidade de práticas” em Ahearn, 2001:
127.
13
mais complexo ou uma técnica mais elaborada, como a produção de uma ferramenta de
metal para arar a terra. O nível de demanda simbólica necessária para expressar a sintaxe
operatória de fabricação e uso de um arado metálico é bastante superior ao de lascar uma
pedra.
Assim, Leroi-Gourhan nos conduz para a hipótese da produção simultânea da
linguagem e do uso das técnicas instrumentais. “O homem fabrica utensílios concretos e
símbolos, uns e outros resultantes do mesmo processo”.(Leroi-Gourhan, 1990: 116) Afinal,
para Gourhan, “não há razão para separar, nos estádios primitivos dos antropídeos, o nível
da linguagem do utensílio”, e no evolver histórico do homem “o progresso técnico está ligado
ao processo dos símbolos técnicos da linguagem”, no qual parece haver uma articulação
sincrônica entre a linguagem e as técnicas utilizadas, que se desenvolvem interativamente,
em unidade, como um conjunto, e assim pode-se associar “aos australopitecos e aos
arcantropos uma linguagem de nível correspondente ao dos utensílios”. (Leroi-Gourhan,
1990: 117, grifos meus)15 Evidentemente que ao chegarmos na idade dos metais já nos
aproximávamos de uma linguagem bem mais complexa do que aquela empregada pelos
antropídeos primitivos.
A ligação entre técnica e linguagem ocorre pois “a técnica é simultaneamente gesto
ou utensílio, organizados em cadeia por uma verdadeira sintaxe que dá às séries
operatórias a sua fixidez e sutileza.” (Leroi-Gourhan, 1990: 117). Fabricar ferramentas e
utensílios é também “fabricar” um procedimento de comunicação simbólica o qual
denominamos de linguagem.
Não conheço outra hipótese explicativa mais consistente para a formação da
linguagem do que esta proposta etnográfica que a situa como prática histórica efetiva. O
modelo mentalista para a linguagem carece de qualquer fundamentação histórica. É uma
representação erigida na Antiguidade e que se fortaleceu na Idade Média, uma
representação que precisa ser revisada e que possui todas as características de um mito.
Um mito que exige um movimento iconoclasta para desvencilhar as ciências sociais do seu
último e derradeiro reduto que propõe a ruptura entre o mental e o material, entre a natureza
e a sociedade. A linguagem se constituiu em uma prática coletiva de interação com o mundo
natural. É uma prática discursiva, é uma prática e também um discurso. “Práticas
15
A proposta sincrônica da linguagem e da técnica de Leroi-Gourhan segue de perto a do
antropólogo russo V. V. Bounak, L’origine du langage, in Les processus de l’hominisation. Colloques
Internationaux du CNRS, Les Sciences Humaines (Paris 19-23 mai 1958), Paris 1958, 99-111. Ver
Leroi-Gourhan, 1990: 116-119, 220. Esta associação entre utensílios, práticas e linguagem funda a
compreensão de que há uma “cadeia operatória” que organiza gestos, representações simbólicas e
os utensílios – em sua fabricação e uso – em uma “sintaxe operatória”. Esta lógica operacional
associada aos artefatos e que constitui a técnica encontra-se fundida com o próprio uso da
linguagem.
discursivas produzem, mais que meramente descrevem, o “sujeito” e o “objeto” das práticas
de conhecimento”. (Barad, 2003: 818, tradução minha)
“As práticas discursivas e os fenômenos materiais não estão em uma relação de
exterioridade, um para o outro; ou melhor, o material e o discursivo implicam-se
mutuamente pela dinâmica da intra-atividade. Mas não são redutíveis um ao outro.
A relação entre o material e o discursivo é de implicação recíproca (...) matéria e
significação estão em articulação mútua. Nem as práticas discursivas nem os
fenômenos materiais são ontologicamente ou epistemologicamente prévios.
Nenhum pode ser explicado em termos do outro. Nem possui status privilegiado na
determinação do outro.” (Barad, 2003: 822, tradução minha)
Esse conjunto de argumentos sintetiza aquilo que designo como pós-social. O
termo “pós-social” indica a necessidade de se expandir a nomenclatura de “social”, e claro,
os conceitos e percepções a ela associados. O social tal como era compreendido
classicamente nas ciências sociais: um social que se satisfaz com a percepção de humanos
isolados entre si e que implica na separação entre sociedade e natureza, uma sociedade
extraída do seu contexto, do ambiente no qual ela própria e as pessoas se reificam. Mas isto
é uma ficção. Não existe a sociedade composta exclusivamente por humanos. Sempre há
um ambiente, um contexto material contra o qual a sociedade reage e os humanos tecem
suas vidas concretas. A história e a sociologia estão habituadas a conceituar o social como
a relação entre os homens – isolados e desencarnados de suas práticas materiais – e aí se
situarem comodamente. É uma simplificação grosseira. É uma semântica equivocada – o
social deve incorporar o cenário no qual os homens vivem, o ambiente no qual se
desenvolvem as relações humanas, suas intra-atividades com o mundo. As relações
humanas são amplas e variadas em suas inúmeras facetas. Há relações estritamente
interpessoais e há relações promovidas com as coisas, ambas são vitais. O corte naturezasociedade produz diversos equívocos e dá sinais de seu esgotamento. Hoje há tendências
em história e em sociologia que já despertaram para essa lacuna conceitual, mas ainda são
marginais. Tratam-se de uma história e de uma sociologia ambiental.16
Quando Knorr Cetina lançou a hipótese do “pós-social” ela estava avaliando nosso
momento de aceleradas transformações nas quais, cada vez mais, os humanos estão
envolvidos com relações objetais e constituem o que Lash denomina de novas “formas
tecnológicas de vida” (Lash, 2001). As relações materiais das pessoas são crescentes e
solicitam uma mudança de perspectiva em ciências sociais:
16
Ainda que o movimento ambientalista da década de 1970 tenha induzido o aparecimento de uma
História Ambiental, hoje as perspectivas tanto em sociologia quanto em história, ambientais, estão
atentas para renovações teóricas e mostram a inclusão das relações materiais nas chamadas
relações sociais. Estamos cada vez mais envolvidos com a agência material das coisas do mundo.
“a noção de uma sociabilidade com objetos requer uma extensão, se não uma
ampliação da imaginação sociológica e do vocabulário. Se o argumento sobre uma
transição pós-social contemporânea estiver correto, essas extensões deverão ser
necessárias em vários aspectos; fazê-las é possivelmente o principal desafio que
confronta a teoria social hoje.” (Cetina, 1997: 2, tradução minha)
Conclusão
A sociologia, em geral, e a sociologia do conhecimento científico, em particular, encontra-se
ante uma dificuldade. Ao delimitar o social como substantivo específico para os atores
sociais, humanos, ela produz o relativismo que gera a impossibilidade de explicar as
práticas efetivas que ocorrem no mundo. A separação entre material e simbólico, entre
natureza e sociedade, é a base contraditória dessas análises.
Para escapar desse dilema, a orientação por um “princípio de simetria
generalizada” dada por Callon-Latour termina por gerar outros. Ao propor que as coisas
também atuem ao lado dos humanos, esses autores caem em um animismo retórico e
deixam de mostrar como efetivamente ocorre o agenciamento material.
A solução advogada aqui decorre da proposta “pós-social” – originariamente
desenvolvida por Knorr Cetina – que busca a integração do simbólico e do material, de
natureza e sociedade, através da análise das práticas efetivas que ocorrem no mundo e,
assim, incorporem as agências materiais interativamente com a ação dos clássicos atores
sociais. Dessa forma, fica o apelo para as ciências sociais incluírem o agenciamento
material em sua rotina de trabalho que toma como objeto os jogos, ditos, sociais no cenário
de uma sócio-natureza. São jogos pós-sociais, são jogos simultaneamente simbólicomateriais.
Referências bibliográficas
AHEARN, Laura M. “Language and agency”. Annual Review of Anthropology. 30, 2001.
109–37.
ASPLEN, Lisa. “Decentering Environmental Sociology: Lessons from Post-Humanist Science
and Technology Studies”. paper presented at the annual meeting of the American
Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada, Aug
10, 2006.
Retido em 18/11/2008 de <http://www.allacademic.com/meta/p104647_index.html>
BARAD, Karen. “Agential realism: feminist interventions in understanding scientific practices”
in Mario Biagioli (ed.). The science studies reader. New York: Routledge, 1999. 1-11.
__________. “Re(con)figuring space, time, and matter” in Marianne Dekoven (ed.). Feminist
locations; global and local, theory and practice. New Brunswick: Rutgers, 2001. 75-109.
__________. “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes
to Matter”. Signs: Journal of Women in Culture and Society. vol. 28, no. 3, 2003. 801-831.
__________. Meeting the universe halfway. Durham & London: Duke Un. Press, 2007.
BERGER, Peter e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. Petrópolis:
Vozes, 1974.
BLOOR, David. Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
[1976]
CETINA, Karin Knorr. “Sociality with Objects: Social Relations in Postsocial Knowledge
Societies”. Theory Culture Society. vol 14 (4), 1997. 1-30.
CETINA, Karin Knorr and BRUEGGER, Urs. “The Market as an Object of Attachment:
Exploring Postsocial Relations in Financial Markets”. Canadian Journal of Sociology. 25,
2, 2000. 141-168.
DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo: Perspectiva, 1999.
DOMÈNECH, Miquel e TIRADO, Francisco Javier (comps.). Sociología simétrica. Barcelona:
Gedisa, 1998.
INGOLD, Tim. “Humanidade e Animalidade”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. no. 28,
ano 10, junho de 1999. 39-53.
LASH, Scott. “Technological Forms of Life”. Theory, Culture & Society. Vol. 18(1), 2001.
105–120.
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.
___________. A esperança de Pandora. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2001.
LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra. Técnica e linguagem. Lisboa: Edições 70,
1990.
MAIA, Carlos A. “A materialidade da linguagem na história e na ciência”. In Lingüística
Textual, Pragmática etc. Cadernos do CNLF. Rio de Janeiro: Círculo Fluminense de
Estudos Filológicos e Lingüísticos, 2006. v. X, no. 13, p. 45-56.
___________. “Diferença, traço e inscrição: Derrida e a escritura cognitiva do mundo”. In:
Análise do Discurso - Cadernos do CNFL. Rio de Janeiro: Círculo Fluminense de Estudos
Filológicos e Lingüísticos., 2008., vol XI, n. 07, p. 144-151.
ORTNER, Sherry B. “Theory in Anthropology since the Sixties”. Comparative Studies in
Society and History. 26, 1984. 126-166.
PICKERING, Andrew (ed.). Science as practice and culture. Chicago: The University of
Chicago Press, 1992.
PICKERING, Andrew. The mangle of practice: time, agency, and science. Chicago: The
University of Chicago Press, 1995.