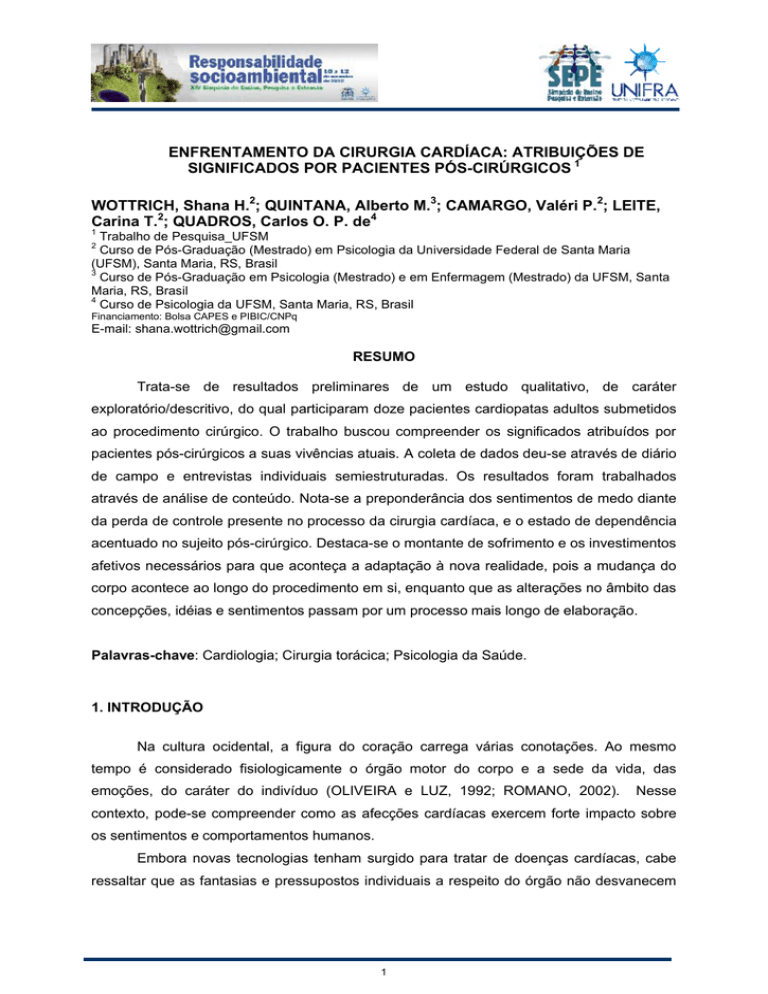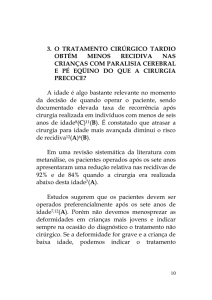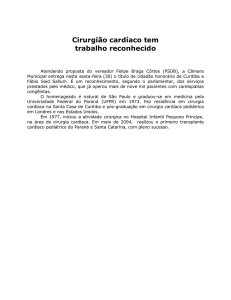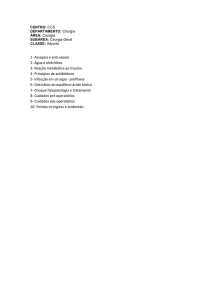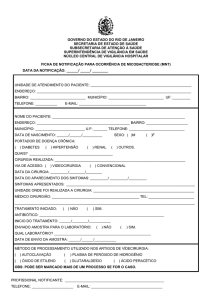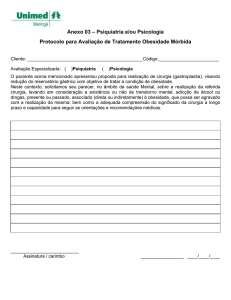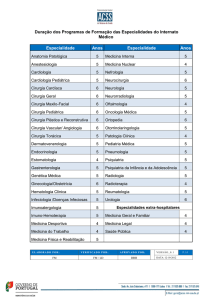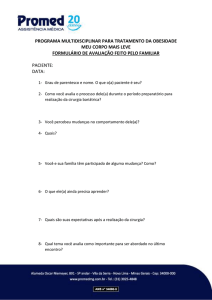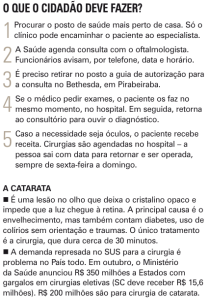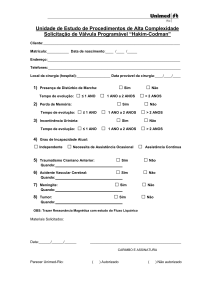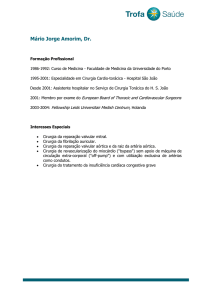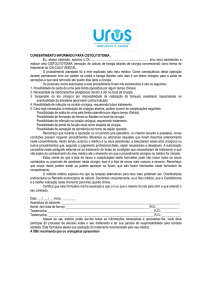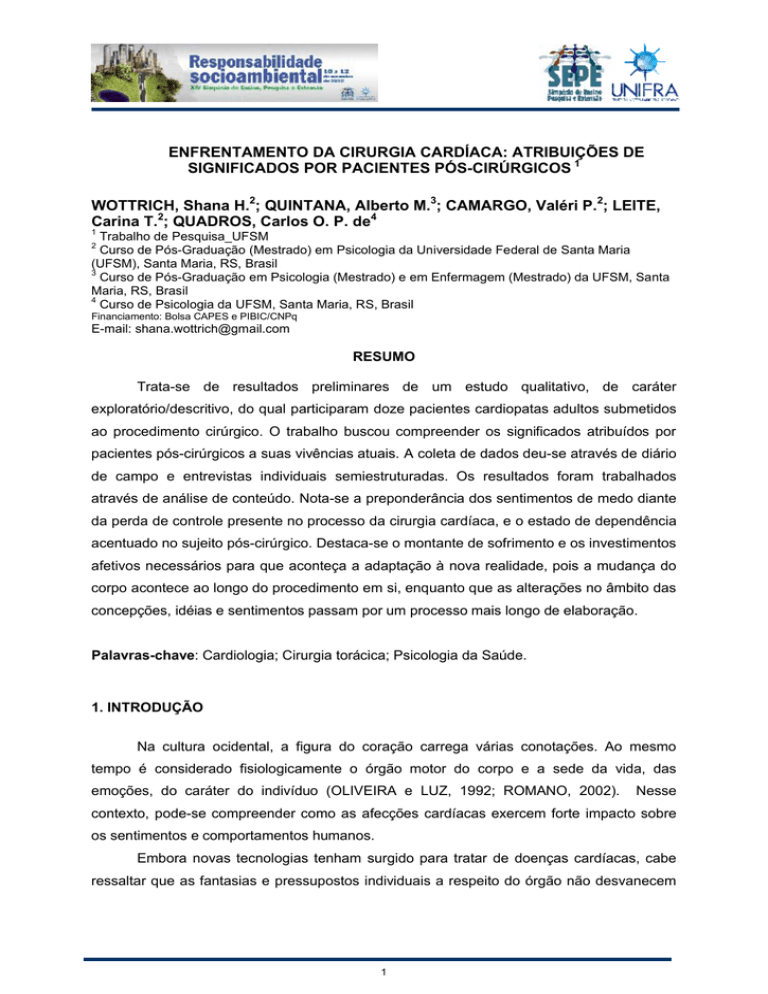
ENFRENTAMENTO DA CIRURGIA CARDÍACA: ATRIBUIÇÕES DE
SIGNIFICADOS POR PACIENTES PÓS-CIRÚRGICOS 1
WOTTRICH, Shana H.2; QUINTANA, Alberto M.3; CAMARGO, Valéri P.2; LEITE,
Carina T.2; QUADROS, Carlos O. P. de4
1
Trabalho de Pesquisa_UFSM
Curso de Pós-Graduação (Mestrado) em Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), Santa Maria, RS, Brasil
3
Curso de Pós-Graduação em Psicologia (Mestrado) e em Enfermagem (Mestrado) da UFSM, Santa
Maria, RS, Brasil
4
Curso de Psicologia da UFSM, Santa Maria, RS, Brasil
2
Financiamento: Bolsa CAPES e PIBIC/CNPq
E-mail: [email protected]
RESUMO
Trata-se de resultados preliminares de um estudo qualitativo, de caráter
exploratório/descritivo, do qual participaram doze pacientes cardiopatas adultos submetidos
ao procedimento cirúrgico. O trabalho buscou compreender os significados atribuídos por
pacientes pós-cirúrgicos a suas vivências atuais. A coleta de dados deu-se através de diário
de campo e entrevistas individuais semiestruturadas. Os resultados foram trabalhados
através de análise de conteúdo. Nota-se a preponderância dos sentimentos de medo diante
da perda de controle presente no processo da cirurgia cardíaca, e o estado de dependência
acentuado no sujeito pós-cirúrgico. Destaca-se o montante de sofrimento e os investimentos
afetivos necessários para que aconteça a adaptação à nova realidade, pois a mudança do
corpo acontece ao longo do procedimento em si, enquanto que as alterações no âmbito das
concepções, idéias e sentimentos passam por um processo mais longo de elaboração.
Palavras-chave: Cardiologia; Cirurgia torácica; Psicologia da Saúde.
1. INTRODUÇÃO
Na cultura ocidental, a figura do coração carrega várias conotações. Ao mesmo
tempo é considerado fisiologicamente o órgão motor do corpo e a sede da vida, das
emoções, do caráter do indivíduo (OLIVEIRA e LUZ, 1992; ROMANO, 2002).
Nesse
contexto, pode-se compreender como as afecções cardíacas exercem forte impacto sobre
os sentimentos e comportamentos humanos.
Embora novas tecnologias tenham surgido para tratar de doenças cardíacas, cabe
ressaltar que as fantasias e pressupostos individuais a respeito do órgão não desvanecem
1
(ROMANO, 2002). Nesse sentido, podem ser consideradas as representações e fantasias
que são trazidas pelos pacientes em momento de adoecimento ou necessidade de
tratamento cirúrgico, já que elas poderão repercutir na forma de enfretamento das situações
impostas pela doença e/ou tratamento.
A cirurgia pode ser representada como um procedimento agressivo, que traz
incertezas quanto ao prognóstico e remete a limitações físicas, causando certa ruptura com
o meio (LAMOSA, 1990). Remete, pois, ao risco concreto de morte, estando vinculada a
crises de ansiedade, quadros depressivos e negação. É concebida, portanto, como uma
experiência desorganizadora, causadora de sofrimento psíquico (D’AMATO, 2008).
O medo mostra-se presente e pode estar vinculado ao desamparo diante da perda
de controle vislumbrada na situação cirúrgica. Tal desamparo tem seu protótipo na situação
da anestesia para a realização da cirurgia. Ou seja, é necessário que o paciente “se
entregue” nas mãos da equipe médica, perdendo o controle sobre seu destino. Há a
possibilidade real de não mais acordar a partir da indução anestésica, que inclui a perda dos
sentidos (OLIVEIRA e LUZ, 1992).
Diante desse cenário, cabe pensar-se acerca das implicações da situação de
internação hospitalar, sempre subjacente à necessidade de submissão a um procedimento
cirúrgico. ANGERAMI-CAMON (2006) destaca, dentre as reações à hospitalização, a
situação de despersonalização do paciente. Há uma série de perdas, pois a rotina deixa de
ser
maleável e personalizada e o sujeito fica submisso a atividades e regras pré-
estabelecidas. Dessa forma, o doente seria colocado em situação passiva frente aos fatos e
perspectivas existenciais, deixando de ter significado próprio, para representar a si mesmo a
partir de diagnósticos e procedimentos médicos.
Nesse contexto, a vivência do momento pós-operatório poderia ser dividida a partir
de três perspectivas distintas: os períodos pós-operatório imediato, mediato e tardio.
As
vivências
intrinsecamente
da
ligadas
recuperação
ao
ambiente
na
da
Unidade
de
Tratamento
unidade
de
recuperação
Intensivo
são
pós-cirúrgica.
Considerando esse como um ambiente com sons, cheiros e ruídos incomuns, pode-se
pensar em seu caráter assustador na vivência dos sujeitos, de certa forma, mostrando-se
psiquicamente desorganizador (ROMANO, 2002). Nesse período, portanto, o paciente
encontra-se mais debilitado e dependente. Sai do sono anestésico e toma consciência de si
mesmo e de seu estado. Mantém-se em estado alterado de consciência, amarrado ao leito,
ligado a sondas, cateteres e drenos (OLIVEIRA e ISMAEL, 1990; OLIVEIRA, SHAROVSKY
e ISMAEL, 1995).
2
Há todo um cuidado vinculado à cicatrização da ferida cirúrgica. O significado de tal
cicatrização constitui-se a partir da realidade física concreta da ferida, mas também do
processo de “cicatrização” emocional do momento vivenciado, ou seja, deve ser
considerada a elaboração psíquica das vivências e das novas condições de vida após o
procedimento (DUTRA e COELHO, 2008). Assim, conforme afirma ROMANO (2001): “O
paciente cirúrgico coronariano se reporta ao fato de ser aberto ‘como um pedaço de carne’,
enquanto sua alma, sua essência vaga pela sala de cirurgia ou vai até o céu encontrar-se
com seus mortos” (p. 114).
Os sinais físicos da cirurgia remeteriam a certo estranhamento do sujeito.
Representariam o fato de que o indivíduo já não é o mesmo, remetendo a alguns atributos:
vulnerabilidade ou coragem (OLIVEIRA e LUZ, 1992). A incisão cirúrgica confere ao
paciente certo status, pois sua cicatriz representaria a marca de que é um sobrevivente do
procedimento. Em certa medida, remeteria a uma experiência de renascimento (ROMANO,
2002).
Segundo ROMANO (2001), a transferência para a enfermaria no momento pósoperatório mediato traria sentimentos conflitivos. Por um lado haveria a euforia, vinculada à
certeza da sobrevivência; mas por outro lado estaria o medo, pois o estado de alerta é
menos constante por parte da equipe neste setor. Ainda, a constrição das atividades físicas
nesse momento do processo operatório continuaria a confrontar o paciente com sua
impotência e vulnerabilidade. Nesse sentido, apresenta-se o medo de que ao movimentar-se
o paciente possa “desfazer-se” como uma costura em tecido, configurando-se uma situação
de estranhamento do corpo por parte do paciente. Diante da recuperação da cirurgia, o
paciente é obrigado a “fazer uma cirurgia em seu próprio coração”, “abrindo seu coração
para si mesmo” (ROMANO, 2001, p. 70). Assim, através da violação do corpo, a cirurgia
cardíaca permite simbolicamente mexer em aspectos relativos ao psiquismo.
Para ROMANO (2001) o primeiro ano após a cirurgia é o período crítico para
recuperação no que diz respeito à estabilidade emocional do paciente diante das
adaptações à rotina de vida. Ainda, afirma que a submissão a estresses ambientais (cirurgia
propriamente dita, mudanças no trabalho e papéis familiares, dificuldades de adaptação às
limitações, comorbidades, dentre outros) no momento pós-cirúrgico mantém base propícia
para o aparecimento e/ou desenvolvimento de quadros psicopatológicos. Portanto, o êxito
cirúrgico seria medido pela correção anatômica, mas também pela reconstrução lenta e
processual da qualidade de vida.
Tal fase de adaptação traz algumas especificidades para os pacientes coronarianos.
Conforme refere ONGARO (2002), o paciente coronariano tem na negação o instrumento de
3
domínio e conservação da imagem que faz de si mesmo. Para isso, freqüentemente,
“concorre” com a doença. Desafia sua concretude, tentando burlar ou desconsiderar os
cuidados com relação à reabilitação, que teria duas direções: o impedimento da renúncia
dos investimentos sociais e profissionais e a aceitação e respeito às prescrições médicas, e
abandono dos hábitos prejudiciais e revisão de atitudes (ONGARO, 2002).
Esses apontamentos remetem à importância da consideração dos sujeitos que se
submetem à cirurgia cardíaca em seus aspectos biopsicossociais. A equipe de saúde
responsável pelos cuidados a tais pacientes deve estar atenta, portanto, no sentido de
contemplar uma assistência integral a eles, que culmine com uma recuperação mais efetiva.
Quanto aos objetivos, o presente trabalho buscou compreender os significados que
pacientes pós-cirúrgicos cardíacos atribuem a suas vivências atuais.
2. METODOLOGIA
Trata-se
resultados
preliminares
de
um
estudo
qualitativo,
de
caráter
exploratório/descritivo. Entende-se que este viés, ao estudar a qualidade do objeto e se
deter aos sentidos e significações dos fenômenos, é o que melhor serve para a análise das
vivências subjetivas dos indivíduos entrevistados (TURATO, 2003).
Participaram desta pesquisa doze pacientes cardiopatas adultos que se submeteram
ao procedimento cirúrgico, sendo oito homens e uma mulher, com idade superior a 18 anos,
residentes na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul e com período de realização da
cirurgia não superior a um ano. A escolha por este período específico deve-se aos dados
trazidos pela literatura, a partir dos quais se verifica que o primeiro ano após a cirurgia é
crítico no que diz respeito à estabilidade do ponto de vista psicológico considerando as
conseqüências, tanto físicas quanto psicológicas, do procedimento (ROMANO, 2001).
Tais pacientes foram referenciados a partir das consultas ambulatoriais do Hospital
Universitário de Santa Maria. Os participantes foram acessados mediante contato pessoal
nas consultas ambulatoriais pós-cirúrgicas, após atendimento da equipe de saúde. O
número de entrevistados segue o critério de saturação da amostra, segundo o qual, quando
os dados coletados deixam de ser novos e configuram estrutura comum sobre o tema
estudado, finaliza-se a coleta de dados (MORAES, 2003, FONTANELA, RICCA eTURATO,
2008).
Ainda, para atingir os objetivos da pesquisa, os dados foram coletados através de
diário de campo e entrevistas individuais. Desde o começo do trabalho de campo, todas as
impressões, contradições e questões suscitadas por tal trabalho foram registradas,
conforme as orientações de MINAYO (2008). Segundo as pontuações dessa autora, o diário
4
é um acervo de impressões e notas sobre as falas, comportamentos e relações, no qual
devem constar ambivalências e contraditoriedades observadas. O uso desse instrumento
deve, portanto, complementar os dados oriundos dos demais instrumentos de pesquisa,
favorecendo a qualidade e a profundidade das análises.
Nessa pesquisa, o formato da entrevista utilizado foi semi-estruturado, posto que a
característica de flexibilidade desse tipo de entrevista permite que o campo da mesma seja
constituído por variáveis da personalidade do participante, retratando suas experiências,
concepções, atitudes e comportamentos (BLEGER, 1980).
Considerando-se os apontamentos de HAGUETTE (1995) acerca da obtenção de
informações, as entrevistas foram conduzidas a partir de tópicos estabelecidos de acordo
com a problemática de interesse. A entrevista não constou de perguntas estruturadas, mas
sim de pontos norteadores a serem utilizados para possibilitarem os participantes a falarem
sobre as suas vivências. Os tópicos abordados foram: o diagnóstico da doença; a indicação
cirúrgica; o processo de preparação para a cirurgia; o paciente antes da cirurgia; a situação
familiar antes da cirurgia; as expectativas diante da cirurgia; a sexualidade; a cirurgia; a
recuperação; a situação familiar depois da cirurgia; as atividades cotidianas; o
relacionamento social.
Por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, optou-se por utilizar como referência
para a análise do material transcrito, a técnica da análise de conteúdo proposta por BARDIN
(1977) e TURATO (2003). Tal análise de conteúdo remete à transformação das falas
relevantes em unidades de análise, visando à descoberta de conteúdos que estão implícitos
nos conteúdos manifestos. Visa-se, pois, tecer uma relação entre estruturas semânticas
(significantes) e estruturas sociológicas e psicológicas (significados) a partir dos enunciados
trazidos pelos sujeitos (BARDIN, 1977). Assim, a partir da leitura flutuante do material
transcrito, foram categorizados os tópicos emergentes segundo os critérios de relevância e
repetição (TURATO, 2003). Dessa forma, a partir da análise emergiram categorias e
subcategorias
temáticas
que
contemplam
elementos,
idéias
e
expressões
com
características comuns e relacionadas entre si. A descrição das categorias é seguida de
falas ilustrativas de participantes da pesquisa, que são identificadas com a seguinte
legenda: H (homem); M (mulher); idade; tempo de pós-operatório (P.O.) quando foi realizada
a entrevista.
Foram seguidos os preceitos da Resolução de 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde que normatizam as condições da pesquisa que envolve seres humanos, sendo o
projeto de pesquisa registrado e submetido ao Comitê de Ética da instituição em que foi
realizado, sendo aprovado sob nº CAAE 0174.0.243.000-09.
5
Considerando-se que a pesquisa ainda está em andamento, cabe salientar que a
etapa de análise dos dados ainda não foi concluída. Apresenta-se, portanto, uma das
categorias prévias oriundas desse trabalho, “A cirurgia cardíaca: uma ‘serra’ que corta o
peito” e “Vivendo na dependência: reminiscências da cirurgia cardíaca”.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A primeira categoria a ser descrita diz respeito ao significado agressivo que o
procedimento cirúrgico pode adquirir na perspectiva do paciente (LAMOSA, 1990). Tal
significado aparece atrelado a fantasias vinculadas à morte e à falta de controle (D’AMATO,
2008).
Me dava um tremor de saber que o cara ia me serrar, que assim, só de
saber. Eu tive consultando com o cirurgião, com ele mesmo, ali, uns 15 dias
antes. Aí, ele até botou o dedo aqui (mostra com o indicador o início da
cicatriz, logo abaixo do pescoço, no peito) – risos – “Vou começar por aqui,
assim e pá, pá, pá.” (H, 67 anos, 7 meses P.O.)
Nesse sentido, também é presente o significado da cirurgia como algo invasivo, que
fere a integridade do corpo do paciente e da imagem que tem de si.
Sempre pensei que era uma cirurgia que resolveria. Eu sabia que um dia
teria que fazer. Mas não queria colocar nada estranho dentro de mim. (H, 75
anos, 1 ano P.O.)
Sabia, como diz o outro, sempre na operação, tem que abrir o peito, não
tem outra volta. O Dr. me explicou bem, né? Não tem outra volta. Se é
assim, se o Sr. sabe, vamos fazer o serviço, né? (H, 72 anos, 3 meses P.O.)
Dessa forma, o procedimento pode ser percebido como inevitável, muito embora
desperte medo e angústia. Se a submissão à cirurgia representa a iminência da morte
(OLIVEIRA e LUZ, 1992), por outro lado, também se configura como uma possibilidade de
vida (SOUZA, MANTOVANI e LABRONICI, 2006). Considerando que o sujeito não tem
controle sobre o que lhe acontece ao longo do procedimento e que deve entregar-se nas
mãos da equipe cirúrgica, o primeiro contato com a realidade concreta da cirurgia acontece
no momento em que visualiza e sente as cicatrizes em seu corpo. Tal realidade pode gerar
estranhamento (OLIVEIRA e LUZ, 1992, ROMANO, 2001), ao mesmo tempo que exige do
sujeito a apropriação de sua condição.
... Mas aí, depois quando vieram fazer o curativo assim, eu me assustei.
Cheio de pontos aqui, né? (H, 62 anos, 1 ano P.O.)
Algumas falas remetem ao enfrentamento do “corte” cirúrgico de forma mais evasiva.
Ou seja, os entrevistados não mencionam ter questionado a equipe sobre o procedimento
6
em si, talvez na intenção de negar a realidade iminente. Por outro lado, outras pessoas
referem ter enfrentado o momento de forma contrafóbica (FENICHEL, 2000), ou seja,
deparando-se com a realidade outrora temerosa de forma a confrontá-la de forma direta.
Essa forma de enfrentamento pode ser recoberta de um significado de onipotência que o
sujeito atribui a si mesmo, na intenção de “superar” as adversidades e a morte no momento
cirúrgico.
Aí lá dentro eu pedi pra enfermeira me mostrar qual é o aparelho que ia me
serrar o peito no meio, queria ver. [...] “quero ver, porque um dia se eu me
perguntar o que é que me corta no meio, eu sei o que que é. Se eu morrer
eu fico sabendo o que é. E se eu não morrer eu conto pros outros o que é”.
Aí me mostraram. (H, 49 anos, 5 meses P.O.)
Pode-se pensar que, no âmbito da cirurgia cardíaca, o ato de “serrar o peito” figura,
portanto, como uma metáfora. Tal vivência parece “serrar” a vida dos sujeitos em dois
momentos bem definidos, com sentimentos diversos, de forma a marcar um novo processo
de vida, que pode ser entendido em suas potencialidades e limitações.
A segunda categoria do presente estudo refere-se ao aspecto de dependência
presente no enfrentamento da cirurgia cardíaca. A doença e a hospitalização em si geram
um panorama em que o sujeito encontra-se assujeitado a outro que o cuida (ANGERAMICAMON, 2006). Esse assujeitamento, diante de um indivíduo maduro, conforma uma
situação que favorece mecanismos regressivos, isto é, a atualização de um modo de
funcionamento ligado a etapas mais precoces do desenvolvimento (BOTEGA, 2006).
A minha senhora ajuda a me dar banho, eu tomar banho. Não dá pra tomar
banho sozinho. (H, 65 anos, 1 mês P.O.)
Principalmente depois da cirurgia, né. “Mãe, o que tu tá comendo? [...] Mãe,
não fica enfiada no quarto, mãe, vem pra cá, vamos conversar, não te
isola.” [...] Daí eu fico mais tranqüila, por isso eles dizem isso pra mim, né.
Porque se depender de mim, eu só quero ficar trancada em casa, não tenho
vontade de sair. Aí eles “mãe, tu tem que sair, tu não pode entrar nessa de
cair em depressão, de ficar quieta aí. (M, 60, 4 meses P.O.)
Tal funcionamento é necessário e profícuo, principalmente diante uma situação em
que o sujeito precisa colocar-se nas mãos da equipe médica e deixar-se cuidar. No entanto,
quando tal postura é prolongada, ao longo do tratamento, pode ser prejudicial à
recuperação, na medida em que retarda a convalescença (BOTEGA, 2006).
Assim, como na última fala descrita, alguns sujeitos permanecerão em situação mais
regressiva em função do lucro secundário que advém da relação construída com seus
cuidadores e familiares. Ou seja, trata-se do aproveitamento de situações de vida adversas,
tais como a doença, às custas do restabelecimento da saúde do indivíduo (TURATO, 2003).
7
Por outro lado, outros indivíduos enfrentam a dependência esperada de uma
situação pós-cirúrgica de forma a negá-la, muitas vezes “concorrendo” com a própria
doença almejando “vencer” as restrições advindas dela (ONGARO, 2002).
Não, não pra dizer que um serviço moleza, principalmente por que se trata
de poço, a gente forceja bastante, difícil que não se forceja, nem que seja,
um pouco, né. E já voltei a faze, né, o serviço de novo, por que precisa né, e
não notei diferença assim, né, eu sei o que, o limite que eu posso... (H, 54
anos, 5 meses P.O.)
Nesse sentido, nota-se também um boicote ao tratamento, na medida em que o
sujeito, mesmo sabendo das limitações a que deveria se assujeitar, extrapola os limites de
sua capacidade física, acabando, muitas vezes, por acentuar a doença.
4. CONCLUSÔES
A partir das considerações tecidas, percebe-se a relevância dos significados
atribuídos à cirurgia cardíaca no que concerne aos aspectos psicoemocionais de
enfrentamento. Destacam-se, dentre essas implicações, a preponderância dos sentimentos
de medo diante da perda de controle presente no processo. O ato de “serrar o peito”, nesse
âmbito, parece adquirir o significado de que uma mudança significativa será instalada na
vida dos sujeitos. Tal alteração diz respeito à impossibilidade de restaurar a integridade
anterior do corpo, trata-se da confrontação “concreta” com a finitude da vida.
Nesse sentido, a cirurgia, constitui-se, de fato, em um momento em que o estado de
dependência do sujeito pós-cirúrgico se acentua. Se, por um lado, é necessário que a
regressão se instale inicialmente, a fim de que a inevitável dependência se mantenha, por
outro, sabe-se que, se tal postura permanece por muito tempo, a recuperação é mais
morosa. Ainda, em outras circunstâncias, há sujeitos que se recusam a permanecer em uma
atitude mais passiva diante do período de recuperação, confrontando a realidade com
posturas desafiadoras de seus próprios limites corporais, como que os testando.
Independentemente da situação presente, destaca-se o montante de sofrimento e
investimentos afetivos necessários para que a adaptação à nova realidade aconteça.
Aparentemente, a mudança do corpo acontece ao longo do procedimento em si, enquanto
que as alterações no âmbito das concepções, idéias e sentimentos necessitam passar por
um processo mais longo de elaboração. Tal processo, idealmente, deve culminar em uma
realidade em que se possa significar a cirurgia em seus aspectos limitadores e de
potencialidades. São justamente esses aspectos a serem considerados pelos profissionais
das equipes de saúde responsáveis pelos cuidados pós-cirúrgicos, concomitantemente a um
8
entendimento do caráter biopsicossocial do ser humano.
REFERÊNCIAS
ANGERAMI-CAMON, V.A. O psicólogo no hospital. In: ______ (Org.). Psicologia hospitalar
teoria e prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. p. 15-28.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 1977.
BLEGER, J. Temas de psicologia: entrevista e grupos. Tradução: Rita Maria Manso de
Moraes; revisão de Luís Lorenzo Rivera. São Paulo: Martins Fontes, 1980.
BOTEGA, N.J. Reação à doença e à hospitalização. In: _______. Prática psiquiátrica no
hospital geral: interconsulta e emergência. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 49-66.
D’AMATO, C.V.S. Mortes, perdas e luto em cardiologia. In: ALMEIDA, C.P. de; RIBEIRO, A.
L. A. (org.). Psicologia em cardiologia: novas tendências.Campinas, SP: Editora Alínea,
2008. p. 199-208.
DUTRA, C.M.P.; COELHO, M.J. O tempo de cicatrização do coração: cuidar e os cuidados
do cliente para superar as dificuldades após cirurgia cardíaca. Enfermería Global, n. 12, p.17, 2008. Disponível em: http://revistas.um.es/eglobal/article/viewFile/1081/1131. .Acesso em:
30 Abril 2010.
FENICHEL, O. Teoria psicanalítica das neuroses. São Paulo: Atheneu, 2000.
FONTANELLA, B. J. B.; RICCA, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em
pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cadernos de Saúde Pública, v. 24,
n. 1, p. 17 – 27, 2008. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n1/02.pdf> Acesso
em: 22 Jun. 2009.
HAGUETTE, T. M. F. Metodologias qualitativas na sociologia. 4. ed. Petrópolis: Vozes,
1995.
LAMOSA, B.W.R. As peculiaridades de atenção psicológica dispensada em unidades
hospitalares de cardiologia. In: LAMOSA, B.W.R. (Org.). Psicologia aplicada à cardiologia.
Fundo Editorial Bik, 1990. p.36-44
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São
Paulo: Hucitec, 2008.
MORAES, R. Uma tempestade de luz: uma compreensão possibilitada pela análise textual
9
discursiva. Ciência & Educação, v.9, n. 2, p.191-211, 2003.
OLIVEIRA, M. F. P.; ISMAEL, S. M. C. Aspectos psicológicos do paciente coronariano. In:
LAMOSA, E.W. (Org.). Psicologia aplicada à cardiologia. São Paulo: Fundo Editorial Bik,
1990.
OLIVEIRA, M. F. P; LUZ, P. L. O impacto da cirúrgica cardíaca. In: MELLO FILHO, J.
Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1992. p. 253-257.
OLIVEIRA, M. F. P., SHAROVSKY, L. L.; ISMAEL S. M. C. Aspectos emocionais do
paciente coronariano. In: OLIVEIRA, M.F.P; ISMAEL, S.M.C. (org.). Rumos da psicologia
hospitalar em cardiologia. Campinas: Papyrus Ed., 1995.
ONGARO, S. O doente coronariano e seus dinamismos psíquicos. In: ROMANO, E. W. B.
(Org.). A prática da psicologia nos hospitais. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.
p.55-66.
ROMANO, B. W. Aspectos psicológicos e sua importância na cirurgia das coronárias.
In:_______. Psicologia e cardiologia: encontros possíveis. São Paulo: Casa do Psicólogo,
2001.p. 111-144.
ROMANO, B. W. Por que considerar os aspectos psicológicos na cirurgia de
revascularização do miocárdio. In: ROMANO, E. W. B. (Org.). A prática da psicologia nos
hospitais. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. p.55-66.
SOUZA, R. H. S.; MANTOVANI, M. F.; LABRONICI, L. M. O vivido pelo cliente em préoperatório de cirurgia cardíaca. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 5, n. 2, 2006.
Disponível em: <http://www.uff.br/objnursing/index.php/nursing/article/view/403/97>
Acesso em: 26 Set. 2008.
TURATO, E.R. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa. Petrópolis: Vozes,
2003.
10