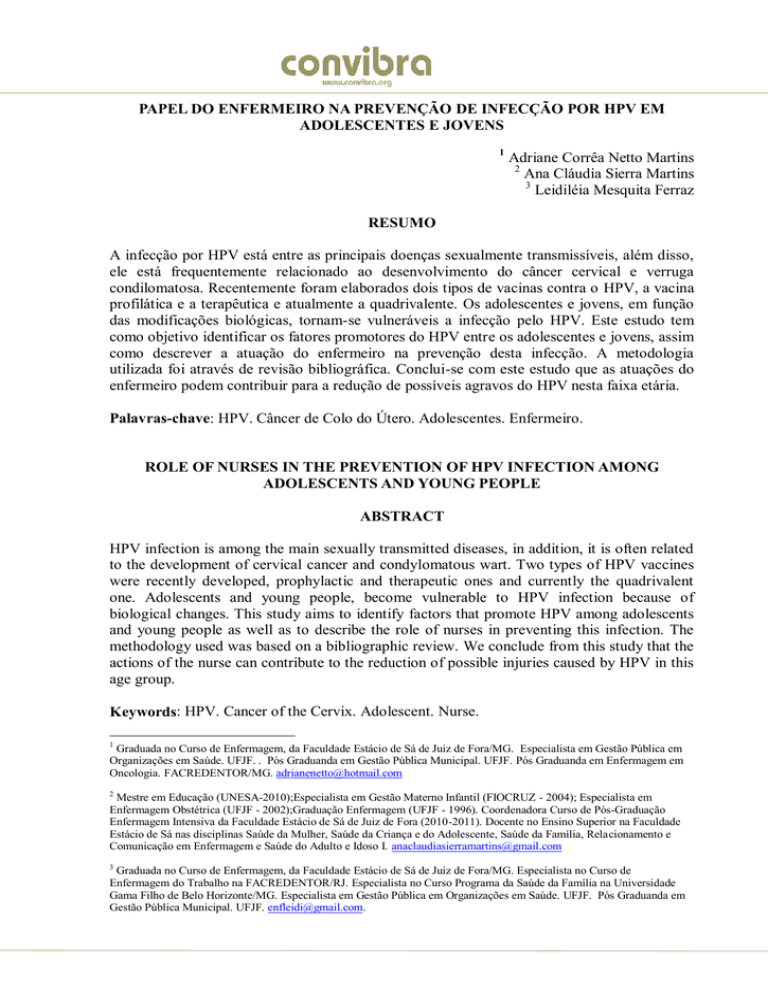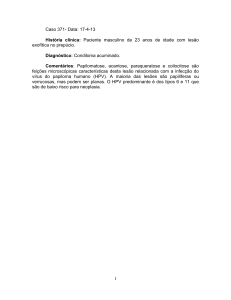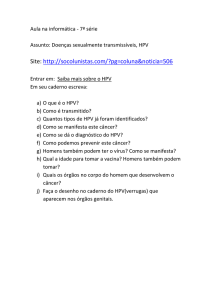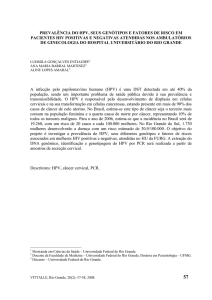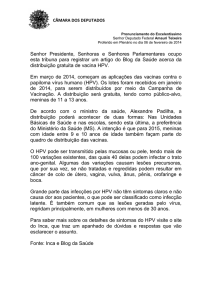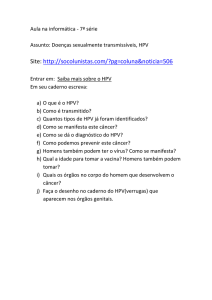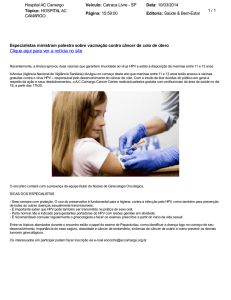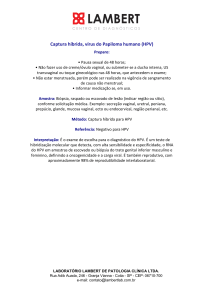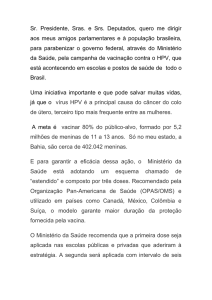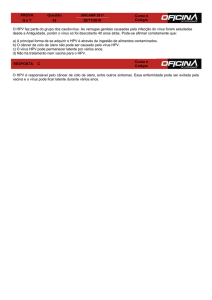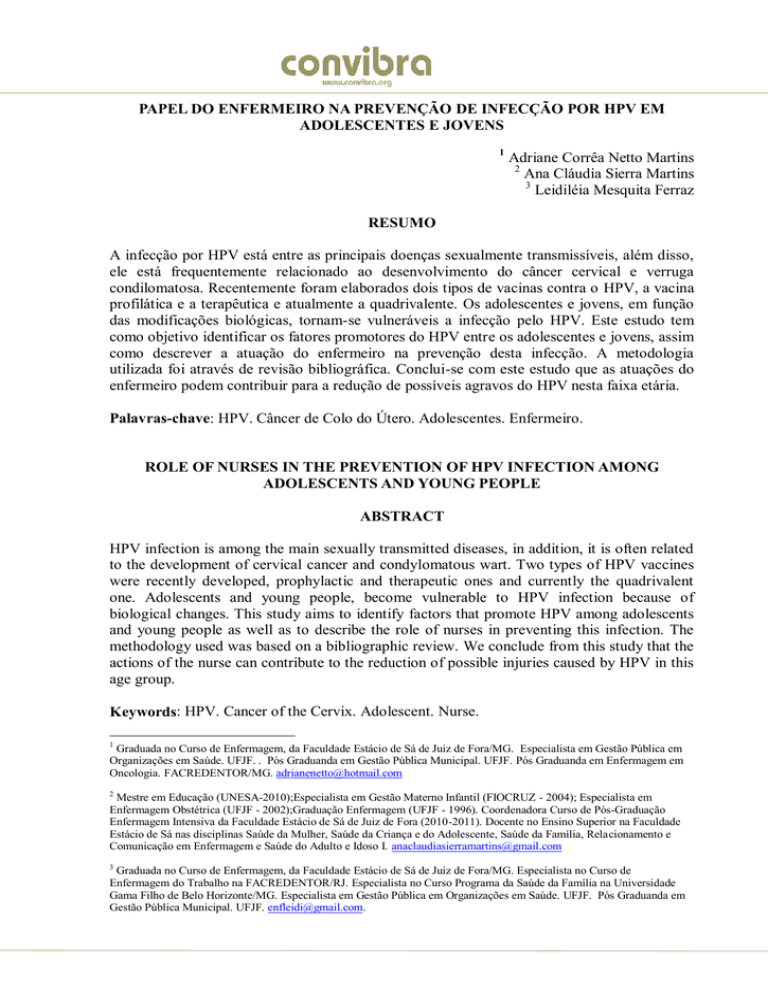
PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO POR HPV EM
ADOLESCENTES E JOVENS
1
Adriane Corrêa Netto Martins
2
Ana Cláudia Sierra Martins
3
Leidiléia Mesquita Ferraz
RESUMO
A infecção por HPV está entre as principais doenças sexualmente transmissíveis, além disso,
ele está frequentemente relacionado ao desenvolvimento do câncer cervical e verruga
condilomatosa. Recentemente foram elaborados dois tipos de vacinas contra o HPV, a vacina
profilática e a terapêutica e atualmente a quadrivalente. Os adolescentes e jovens, em função
das modificações biológicas, tornam-se vulneráveis a infecção pelo HPV. Este estudo tem
como objetivo identificar os fatores promotores do HPV entre os adolescentes e jovens, assim
como descrever a atuação do enfermeiro na prevenção desta infecção. A metodologia
utilizada foi através de revisão bibliográfica. Conclui-se com este estudo que as atuações do
enfermeiro podem contribuir para a redução de possíveis agravos do HPV nesta faixa etária.
Palavras-chave: HPV. Câncer de Colo do Útero. Adolescentes. Enfermeiro.
ROLE OF NURSES IN THE PREVENTION OF HPV INFECTION AMONG
ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE
ABSTRACT
HPV infection is among the main sexually transmitted diseases, in addition, it is often related
to the development of cervical cancer and condylomatous wart. Two types of HPV vaccines
were recently developed, prophylactic and therapeutic ones and currently the quadrivalent
one. Adolescents and young people, become vulnerable to HPV infection because of
biological changes. This study aims to identify factors that promote HPV among adolescents
and young people as well as to describe the role of nurses in preventing this infection. The
methodology used was based on a bibliographic review. We conclude from this study that the
actions of the nurse can contribute to the reduction of possible injuries caused by HPV in this
age group.
Keywords: HPV. Cancer of the Cervix. Adolescent. Nurse.
1
Graduada no Curso de Enfermagem, da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora/MG. Especialista em Gestão Pública em
Organizações em Saúde. UFJF. . Pós Graduanda em Gestão Pública Municipal. UFJF. Pós Graduanda em Enfermagem em
Oncologia. FACREDENTOR/MG. [email protected]
2
Mestre em Educação (UNESA-2010);Especialista em Gestão Materno Infantil (FIOCRUZ - 2004); Especialista em
Enfermagem Obstétrica (UFJF - 2002);Graduação Enfermagem (UFJF - 1996). Coordenadora Curso de Pós-Graduação
Enfermagem Intensiva da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora (2010-2011). Docente no Ensino Superior na Faculdade
Estácio de Sá nas disciplinas Saúde da Mulher, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Família, Relacionamento e
Comunicação em Enfermagem e Saúde do Adulto e Idoso I. [email protected]
3
Graduada no Curso de Enfermagem, da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora/MG. Especialista no Curso de
Enfermagem do Trabalho na FACREDENTOR/RJ. Especialista no Curso Programa da Saúde da Família na Universidade
Gama Filho de Belo Horizonte/MG. Especialista em Gestão Pública em Organizações em Saúde. UFJF. Pós Graduanda em
Gestão Pública Municipal. UFJF. [email protected].
1. INTRODUÇÃO
O papiloma vírus humano (HPV) está entre as principais patologias infecciosas do
trato genital de mulheres de vida sexual ativa (BURCHELL et al., 2006). O papiloma vírus
(HPV) pertence à família Papovaviridae e classificam-se de acordo com sua espécie de
origem, sendo o Papiloma vírus humano (HPV) oriundo da espécie humana (BURD, 2003).
Atualmente, estão identificados mais de 100 tipos distintos de HPV, sendo os tipos 16 e 18 os,
frequentemente, relacionados ao desenvolvimento do câncer cervical (BURCHELL et al.,
2006).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008) o câncer cervical, tem uma
incidência mundial de cerca de 500.000 casos por ano, desta forma é caracterizado como um
dos mais graves problemas de saúde pública, correspondendo a aproximadamente 10% de
todos os casos de câncer em mulheres no mundo, sendo a segunda causa mais comum de
morte por neoplasia, depois do câncer de mama (SNIJDERS et al., 2006). No Brasil ocorrem
20.000 casos de câncer cervical e 4.000 mortes por ano, com um risco estimado de 19 a cada
100.000 mulheres (BRASIL, 2008).
Sendo o HPV causador frequente do câncer cervical a infecção por este vírus é um
grande problema de saúde pública (WRIGHT et al., 2002). No Brasil, estudos nacionais
registraram um perfil de prevalência da infecção por HPV de alto risco, nas mulheres na faixa
etária abaixo dos 35 anos de 17,8 a 27%. Esta prevalência sofre uma redução para 12 a 15%
em mulheres entre 35 a 65 anos (RAMA et al., 2008).
Mundialmente são detectados 32 milhões de novos casos de verrugas genitais a cada
ano, sendo 70% dos casos associados ao HPV tipo 6 e 20% associados ao tipo 11 (SADJADI,
2003).
O risco de aquisição de infecção por HPV durante a vida, para homens e mulheres
sexualmente ativos, é de no mínimo 50%. Aos 50 anos, pelo menos 80% das mulheres terão
adquirido a infecção genital pelo HPV (CENTER, 2004).
Em pesquisa, para identificação do HPV, entre 3.463 jovens sexualmente ativos,
mostram que 17,3% desses, tiveram positividade para o HPV após iniciar a vida sexual
(ROTELLI-MARTINS et al., 2007).
Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, 2005), cerca de 5 a
15% das mulheres não infectadas serão contaminadas com qualquer tipo de HPV de alto risco,
sendo que 25% destes novos casos envolverão jovens entre 15 e 19 anos.
O objetivo desse estudo foi identificar os fatores promotores do HPV entre os
adolescentes e jovens, assim como descrever a atuação do enfermeiro na prevenção desta
infecção.
A motivação para o desenvolvimento deste estudo deu-se por observar através da
vivência profissional grande incidência do HPV entre os adolescentes e jovens. Este estudo
torna-se relevante, pois busca refletir junto aos enfermeiros e acadêmicos de enfermagem, a
importância das orientações do enfermeiro junto aos adolescentes e jovens, quanto à
prevenção das infecções do HPV, a fim de evitar maiores agravos.
2. METODOLOGIA
A escolha do tema deu-se em função de grande incidência do HPV entre adolescentes
e jovens, que nos leva a refletir sobre a importância da Educação em Saúde, através da
atuação do enfermeiro. A presente pesquisa baseou-se em uma busca de artigos científicos e
manuais do Ministério da Saúde. O acesso a esta revisão bibliográfica ocorreu entre os meses
de agosto a outubro de 2010. Os critérios de inclusão para esta revisão foram: os artigos mais
citados em estudo abordando HPV pelo caráter inédito das informações e relevância, assim
como, as publicações mais recente. Os artigos foram selecionados em bancos de dados
científicos disponíveis on-line, como Scientific Electronic Library Online SciELO, BIREME
e revistas científicas impressas.
3. DISCUSSÃO
3.1 PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV)
O papiloma vírus é um membro da família papovavirida que infectam o epitélio de
alguns animais, incluindo o homem (DE VILLIERS et al., 2004). Já foram identificados
aproximadamente 100 tipos de papiloma vírus que acometem o ser humano, entre estes cerca
de 50 tipos que atingem a mucosa do aparelho genital já tiveram seu ácido
desoxirribonucléico (DNA) seqüenciado (DE VILLIERS et al., 2004).
O HPV é não envelopado, sendo o seu material genético constituído por uma molécula
de DNA duplo com cerca de 8.000 bases pareadas (BURD, 2003). O HPV pode interagir com
a célula infectada progredindo como uma infecção produtiva ou não produtiva (PASSOS et
al., 2008).
Esclarecendo ainda mais Passos et al. (2008), diz que a infecção produtiva é
caracterizada pela produção de algumas substâncias pelo vírus que estimularão a mitose
resultando em lesões benignas. Na infecção não produtiva, o vírus ao infectar a camada
germinativa tem o seu material genético integrado ao material genético da célula infectada,
esta integração leva a uma supressão funcional no gene de regulação viral E2, responsável
pela repressão de oncoproteínas do HPV, que agora passam a ser expressas.
As manifestações clínicas causadas pelo HPV podem ser classificadas como verrugas
cutâneas ou mucosas, localizadas na região ano genital. Estas verrugas podem ficar latentes
ou causar lesões exofíticas (verrugosa, papulosa ou plana) na pele ou mucosas, estas lesões
são conhecidas como condiloma acuminado ou crista de galo (PASSOS et al., 2008).
O vírus do HPV foi classificado como de baixo risco (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70,
72, 81) ou alto risco (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66, 73 e 82) em relação ao
desenvolvimento do câncer. A área ano genital é infectada por mais de 45 tipos de HPV, os
responsáveis pela maioria das lesões são os de baixo risco oncogênico 6 e 11 e os de alto risco
oncogênico 16 e 18 (MUNOZ et al., 2003).
O HPV está frequentemente relacionado ao desenvolvimento de neoplasias intraepitelial cervical (NIC), neoplasia intra-epitelial de vulva (NIV), neoplasia intra-epitelial de
ânus (NIA), neoplasia intra-epitelial de vagina (NIVa) e neoplasia intra-epitelial de pênis
(NIP) (BRENTJENS et al., 2006).
Segundo o Ministério da Saúde (2006), o diagnóstico da infecção por papiloma vírus
humano deve ser clínico, utilizando o exame cito patológico papanicolau como instrumento
de triagem de pacientes possivelmente infectadas por HPV. O diagnóstico definitivo da
infecção pelo HPV deve ser feito por exames laboratoriais específicos que detectem a
presença do DNA viral, como o teste de hibridização molecular, reação de polimerase em
cadeia (PCR) e captura híbrida (BRASIL, 2009).
As pacientes com lesão cervical devem de 3 em 3 meses, nos 6 primeiros meses após o
tratamento, submeter-se ao exame papanicolau, após este primeiro semestre a paciente pode
realizar o exame duas vezes durante 1 ano, nos próximos anos a paciente realizará este exame
1 vez a cada 12 meses (BRASIL, 2006).
De acordo com o Ministério da Saúde (2008), o tratamento da infecção pelo HPV tem
por objetivo principal remover as verrugas condilomatosas. O tratamento pode ser
influenciado pelo tamanho, número e local da lesão. O Quadro abaixo exibe as vantagens e
desvantagens das diferentes modalidades de tratamento.
QUADRO1. VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS DIFERENTES MODALIDADES
TERAPÊUTICAS DO HPV
Tratamento
Tipo
Vantagens
Cirurgia
Antitumor
- Rápida resolução da lesão
Eletro
cautério
Antitumor
- Menos sangramento que
o tratamento cirúrgico,
rápida resolução da lesão
Laser terapia
Antitumor
Crio terapia
Antitumor
Agentes
químicos
Antitumor
- Boa eficácia na resolução
da lesão
- Menos sangramento
Interferons
Antiviral
- Não requer procedimento
cirúrgico
- Potencializa a eficácia de
outros tratamentos, reduz a
taxa de recorrência
- Melhor tolerabilidade,
Imiquimode Antiviral
eficácia com a redução da
taxa
de
recorrência,
autoaplicável
Fonte: Passos et al., 2008, p. 118.
Desvantagens
- Alta taxa de recorrência,
associa-se
a
sangramentos,
infecções na ferida e formação de
cicatriz
- Alta taxa de recorrência, pode
deixar cicatriz no local do
procedimento, dor
- Alta taxa de recorrência, dor,
alto custo, pode deixar cicatriz
no local da aplicação
- Alta taxa de recorrência, dor,
alto custo, menor taxa de
resposta que a cirurgia, pode
deixar cicatriz no local da
aplicação, requer várias sessões
- Alta taxa de recorrência, dor,
pode causar irritação local
importante,
com
processo
inflamatório,
ulceração
e
formação de crosta, requer várias
sessões
- Requerem várias sessões, alto
custo,
eventos
adversos
sistêmicos, dor com injeção
intralesional
- Alto custo, resultados diferentes
em homens, irritação local
Recentemente foram elaborados dois tipos de vacinas contra o HPV, a profilática e a
terapêutica. A vacina profilática baseia-se na estimulação da resposta imunológica humoral,
utilizando antígenos do capsídeo viral, que são produzidas em laboratório pela tecnologia
recombinante, estas partículas são denominados (VLP) vírus like particules (LOWY, 2003).
A vacina terapêutica estimula a resposta imune celular, sensibilizando células
imunocompetentes para atuar no combate à infecção viral (BUBENIK, 2008).
A vacina profilática evita a infecção pelo HPV e as doenças a ela associada, por outro
lado a vacina terapêutica induz a regressão das lesões pré-cancerosas e remissão do câncer
invasivo (LOWY, 2003; BUBENIK, 2008).
A vacina profilática para HPV 16 e 18 mostrou-se segura, com efeitos adversos leves,
sendo imunogênica e eficaz por até 6.4 anos, com mais de 98% de soro positividade e 100%
de eficácia na prevenção de lesão cancerígena mais grave (NIC 2+) (GIRALDO et al., 2008).
A vacina quadrivalente anti-HPV é composta por uma mistura de quatro tipos de VLP
para os HPV 6, 11, 16, 18 (BLOCK et al., 2006). Em estudo do efeito da vacina quadrivalente
em adolescentes entre 9 a 15 anos mostraram que a vacina apresenta uma excelente resposta
imunogênica na produção de anticorpos do tipo neutralizantes contra o HPV 6, 11, 16 e 18,
superior inclusive em relação a mulheres jovens entre 16 e 26 anos, desta forma a vacina
demonstra mais eficácia quando administrada antes do início da atividade sexual. Com base
nestes resultados a vacina já foi aprovada para adolescentes entre 9 e 15 anos em 46 países
tendo, portanto, os adolescentes e pré-adolescentes como alvos para as campanhas de
vacinação (GIRALDO et al., 2008).
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2006), a vacina
contra HPV foi regulamentada em agosto de 2006 no Brasil, espera-se que com o uso
disseminado da vacinação, 70% dos cânceres cervicais sejam evitados assim com outras
doenças ano genitais associadas à infecção pelo HPV (GARLAND, 2006).
3.2 A INFECÇÃO PELO HPV EM ADOLESCENTES E JOVENS
No Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) de 1990 estabelece que deve ser
denominado adolescente aquela pessoa que está entre a faixa etária dos 12 aos 18 anos de
idade (BRASIL, 2001). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2000), jovem é aquela pessoa que está entre a faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade.
População esta que vem crescendo de forma expressiva nas últimas décadas, de 8,3 milhões
em 1940 passou para cerca de 34,1 milhões de jovens no ano de 2000.
Os adolescentes em função das modificações biológicas tornam-se vulneráveis a
infecção pelo HPV, sendo também a gravidez, hábito de fumar, método anticoncepcional e
infecção genital fatores que de alguma forma, estão relacionados à infecção por este vírus
(MURTA et al., 2001).
Embora a faixa etária de maior incidência de câncer de colo uterino seja entre 25 e 60
anos, os adolescentes formam uma população vulnerável, na medida em que o início da vida
sexual os aproxima de problemas de saúde da ordem reprodutiva (SILVA et al., 2005;
CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010).
O HPV é encontrado no diagnóstico de 2,3% das adolescentes com doenças
sexualmente transmissíveis. Ainda de acordo com (CIRINO et al., 2010), os adolescentes na
sua primeira relação sexual nem sempre utilizam métodos contraceptivos que os protejam,
facilitando, portanto, que ocorra no início da vida sexual a contaminação por HPV.
Barros (2006) demonstra que a incidência de HPV em adolescentes é de 27%, sendo
que destas 28,5% apresentam contaminação pelo HPV de alto risco oncogênico.
Neste sentido, Wanderley et al. (2000), explica que na avaliação de 210 prontuários de
meninas com até 18 anos do Hospital Universitário de Brasília (HUB), detectaram entre as 62
pacientes de vida sexual ativa pelo menos 6 com diagnóstico confirmativo para o HPV na
região perineal.
No dizer de Oliveira et al. (2010), realizaram um estudo da infecção por HPV em uma
população de mulheres jovens entre 14 e 24 anos de idade no estado do Rio de Janeiro. Neste
estudo a prevalência do HPV foi de 27,4%, incluindo 13 oncogênicos, sendo que o HPV 16
foi o mais prevalente (6,2%). Entretanto, não encontraram associação entre a iniciação sexual,
variáveis demográficas e número de parceiros na prevalência do HPV (OLIVEIRA et al.,
2001). Em contraste com este resultado, outros estudos mostram uma relação entre a infecção
por HPV e as condições socioeconômicas, culturais e multiplicidade de parceiros (ALEIXO
NETO, 1991; CALDAS; TEIXEIRA; RAFAEL, 2010).
O fumo também tem sido relacionado à infecção por HPV, devido à imunossupressão
que permite com maior facilidade a penetração do vírus na célula (MURTA et al., 2001).
Segundo Cavalcanti et al. (2000), assim como, Naud et al. (2006) observaram que as
mulheres fumantes apresentam maior risco de desenvolvimento de câncer cervical por HPV,
muito provavelmente pelos componentes presentes no cigarro.
O hábito de fumar tem sido relacionado com grande incidência e permanência da
infecção pelo HPV e neoplasia pré invasiva e invasiva, em um estudo realizado por Murta et
al. (1997) mostrou que as mulheres fumantes, apresentaram maior incidência de HPV que as
não-fumantes, entretanto, o hábito de fumar parece não ser um fator importante nas infecções
pelo HPV em adolescentes.
Murta et al. (1998) estabeleceu uma importante relação entre o uso de
anticoncepcional oral e a infecção por HPV. Entretanto, em 1998 os autores acima citados,
demonstraram que o método contraceptivo apesar de ser um fator de risco na infecção por
HPV, não é um fator para a persistência dessa infecção (MURTA et al., 1998). Os autores
consideram que a relação entre anticoncepcionais e a infecção por HPV, pode estar associada
a uma maior liberdade sexual e consequente aumento do número de parceiros sexuais
(MURTA et al., 1997).
Outro fator apontado como capaz de predispor a infecção para o HPV é a gestação,
entretanto, Murta et al. (2001) não observaram relação entre a gestação e a frequência da
infecção pelo HPV em adolescentes, em contraste com dados previamente encontrados na
literatura. Schneider et al. (1987) apontam a gravidez como um fator predisponente à infecção
por HPV devido à imunomodulação ou influências hormonais. A contradição entre os dados
por eles encontrados e as informações disponíveis na literatura, deva ser em função da faixa
etária dos indivíduos analisados, uma vez que o grupo estudado pelos autores acima citados
era exclusivamente de adolescentes e talvez a gravidez não seja um fator predisponente para a
infecção dentro desta faixa etária.
Além dos fatores citados anteriormente é importante ressaltar que as mulheres
adolescentes e jovens estão mais predispostas a infecções tanto por HPV como por outros
agentes patológicos, em função da imaturidade biológica da cérvice uterina e da exposição do
epitélio colunar da endocérvice (MURTA et al., 2001).
3.3 ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DO HPV
A principal atribuição do profissional enfermeiro é a prevenção, tarefa fundamental
para diminuir taxas de infecções pelo HPV. O profissional deve focar na prevenção primária
para não deixar que a doença evolua para uma infecção secundária, acompanhando as
melhorias no rastreamento e capacitação de identificar lesões suspeitas no exame de colpos
copia (PRIMO, 2008).
Durante a realização dos colposcopia oncótico o enfermeiro deve observar se há
sangramento ao exame e lesões locais, proporcionando conforto para a paciente na realização
do mesmo (RAMA et al., 2008).
O enfermeiro é um profissional capacitado para realizar ações de educação em saúde
sobre a infecção pelo vírus HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis,
conscientizando o indivíduo do sexo seguro, uso do preservativo do início ao fim do ato
sexual oral, anal e vaginal. Orientar para que a mulher diminua o número de parceiros, pois
quanto mais parceiros sexuais, maior o risco da infecção pelo HPV (RAMA et al., 2008).
Primo et al. (2008), expõe a importância do enfermeiro no desenvolvimento das
consultas de enfermagem, em visitas domiciliares para esclarecer dúvidas sobre a doença,
acolhendo o paciente, respeitando seus sentimentos e aflições, formando um vínculo de
confiança onde o mesmo retornará a consulta para dar continuidade ao tratamento periódico.
Alem disso acredita-se que o enfermeiro tem capacidade de promover ações para mudanças
de comportamento sexual entre adolescentes e jovens e capitação precoce dos casos suspeitos
de HPV.
Além disso, o enfermeiro deve incentivar as adolescentes e jovens a realizarem o
exame preventivo papanicolau, pois o medo, desconforto, vergonha e a falta de informação
são os principais motivos a não adesão ao exame (PINHO et al., 2003). Dentro do contexto o
enfermeiro poderá oferecer materiais educativos para reforçar as informações sobre a
infecção, forma de contágio e tratamento do HPV. O profissional enfermeiro também pode
estar envolvido em atividades de grupo desenvolvidas na unidade, convidar os adolescentes e
jovens a participar e informá-los sobre os locais oficiais de distribuições de preservativos
(BRASIL, 2007).
O enfermeiro deve elaborar planos de educação permanente para capacitar
profissionais de saúde (técnicos de enfermagem e agente de saúde), mobilizando para uma
educação permanente, principalmente na pré-adolescência e adolescência potencializando
entre homens e mulheres a possibilidade de negociação do sexo seguro entre parceiros. O
enfermeiro deve estimular a equipe, acolher o adolescente e jovem de uma forma humanizada
para que eles sejam ouvidos com atenção e respeito (BRASIL, 2006).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A adolescência é uma etapa complexa da vida onde os indivíduos estão descobrindo a
sexualidade, sendo estes considerados vulneráveis à infecção por HPV. A vulnerabilidade do
adolescente e jovem deve-se as mudanças emocionais e comportamentais desta faixa etária,
mas também as mudanças fisiológicas que os tornam susceptíveis a agentes biológicos como
o HPV.
Em função destes fatores é de extrema importância que o adolescente tenha um
acompanhamento durante esta etapa de iniciação sexual tanto de seus familiares como de toda
a equipe multidisciplinar de saúde, em especial o enfermeiro, um profissional qualificado para
a elaboração de atividades de prevenção e orientação sexual, pois através de uma relação
aberta, é que se torna possível, levar as informações necessárias para os adolescentes,
evitando-se assim problemas indesejáveis.
Dentro deste contexto, o estudo que foi desenvolvido, busca reunir informações
relevantes da característica, rastreamento, diagnóstico, tratamento e fatores de riscos
associados à infecção pelo HPV, do tipo 6 e 11 relacionadas às verrugas condilomatosas e 16
e 18 que provocam o câncer cervical. A principal estratégia utilizada para detecção precoce do
câncer do colo do útero é através do rastreamento que significa realizar o exame preventivo
Papanicolau, já que as lesões cervicais não apresentam nenhum sintoma e se não forem
tratadas precocemente podem progredir para o câncer do colo do útero.
Espera-se que estas informações cheguem aos adolescentes, sendo necessário o
interesse e respeito por parte do enfermeiro, respeitando sua individualidade. O enfermeiro
deve estar capacitado para alcançar os objetivos, porém é necessário que haja uma
conscientização dos adolescentes e jovens.
REFERÊNCIAS
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, 2006. Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br/DIVULGA/imprensa/clipping/2006/agosto/300806.pdf. acesso em:
30 de outubro de 2010.
ALEIXO NETO, A. Aspectos epidemiológicos do câncer cervical. Revista de Saúde
Pública, v. 25, n.5, p. 326-33, 1991.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo
Demográfico 2000. Disponível em:
http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/2345/1/Jovens_Brasil.pdf. Acesso em:
17 de outubro de 2010.
BARROS, L. D. F. Infecção genital pelo papiloma vírus humano (HPV) em adolescentes diagnóstico biomolecular. Tese de Doutorado. Maceió (AL): Universidade Federal de
Alagoas, 2006.
BLOCK, S. L.; NOLAN, T.; SATTLHER, C. et al. Comparison of the immunogenicity and
reactogenicity of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16 and 18)
L1 virus-like particle vaccine in male and female adolescents and young adult women.
Pediatrics, v. 118, p. 2135-45, 2006.
BRASIL. Lei nº. 8.069 de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente. Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações. 3a ed. Brasília, 92 p.,
2001. Disponível em: http://redesocialsaopaulo.org.br/downloads/ECA.pdf. Acesso em: 17 de
agosto de 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Controle das Doenças Sexualmente
Transmissíveis – DST. 4a ed. Brasília: Programa Nacional de DST/AIDS, 2006.
BRASIL. Ministério da Saúde: Secretaria de atenção à saúde. Departamento de ações
programáticas estratégicas. Saúde de Adolescente e Jovem – Módulo Básico. 2ª ed. Brasília
– DF, 2007.
Disponível em: portalsaudeleospyder. blogspot.com/.../saude-de-adolescente-e-jovensmodulo.html. Acesso em: 25 de agosto de 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Estimativas 20082009: incidência do Câncer no Brasil. Rio de Janeiro (Brasil): INCA, 2008. Disponível em:
http://www.inca.gov.br/estimativa/2008. Acesso em: 23 de Agosto de 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias. Guia de Bolso. 7ª ed.
Revista. Brasília - DF, 2008. Disponível em:
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_bolso_7_edicao_web.pdf
BRENTJENS, M. H.; YEUNG-YUE, K. A.; LEE, P. C. et al. Human papillomavirus: a
review. Dermatol Clin, v. 20, p. 315-331, 2006.
BUBENIK, J. genetically modified cellular vaccines for therapy of human papilloma virus
type 16 (HPV 16) - associated tumours. Curr Cancer Drug Targets, v. 3, n. 8, p. 180-6,
2008.
BURCHELL, N. A.; WINER, R. L.; SANJOSÉ, S. et al. Epidemiology and transmission
dynamics of genital HPV infection. Vaccine, v. 24, n. 3, p. 52-61, 2006.
BURD, E. M. Human papillomavirus and cervical cancer. Clinical Microbiology Reviews,
v. 16, n. 1, p. 1-7, 2003.
CALDAS, I; TEIXEIRA, S. M.; RAFAEL, R. M. R. O papiloma vírus humano como fator
preditor do câncer do colo uterino: estudo de atualização sobre as ações preventivas de
enfermagem. Revista de Enfermagem, 2010.
CAVALCANTI, S. M.; ZARDO, L. G.; PASSOS, M. R. et al. Epidemiological aspects of
human papillomavirus infection and cervical cancer in Brazil. Journal Infect,
v. 40, n.
1, p. 80-7, 2000.
CENTER FOR DISEASE CONTROLE AND PREVENTION. Genital HPV infection Fact
Sheet. National Prevention Information Network, 2004. Disponível em:
http://www.cdc.gov/std/hpv/hpv.pdf. Acesso em: 15 de setembro de 2010.
CIRINO, F. M. S. B.; NICHIATA, L. Y. I; BORGES, A. L. V. Conhecimento, atitude e
práticas na prevenção do câncer de colo uterino e HPV em adolescentes. Revista de
Enfermagem, v. 14, n. 1, p. 126-34, 2010.
DE VILLIERS, E. M.; FAUQUET, C.; BROKER, T. R. et al. Classification of
papillomaviruses. Virology, v. 1, n. 324, p. 17-27, 2004.
GARLAND, S. M. Human papillomavirus vaccines: challenges to implementatation. Sex
Health, v. 3, n. 2, p. 63-5, 2006.
GIRALDO, P. C.; SILVA, M. J. P. M. A.; FEDRIZZI, E. N. et al. Prevenção da infecção por
HPV e lesões associadas com o uso de vacinas. Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, v. 20, n. 2, p. 132-140, 2008.
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER – IARC. Handbooks on
Cancer Prevention: Cervix cancer Screening. Lyon, IARC, 2005.
LOWY, D. R.; FRAZER, I. H. Prophylactic human papillomavirus vaccines. Journal Natl
Cancer Inst Monogr, v. 71, p. 111-6, 2003.
MUNOZ, N.; BOSCH, F. X.; DE SANJOSE, S. et al. Epidemiologic classification of human
papillomavirus types associated with cervical cancer. The New England Journal of
Medicine, n. 384, p. 518-27, 2003.
MURTA, E. F. C; SOUZA, M. A. H.; LOMBARDI, W. et al. Aspectos epidemiológicos da
infecção pelo papilomavírus humano. Jornal Brasileiro de Ginecologia, v. 107, p. 95-9,
1997.
MURTA, E. F. C.; SOUZA, M. A. H; ADAD, S. J. et al. Persistência da infecção por
papilomavirus humano: análise da idade, sexarca, cor, hábito de fumar e método
contraceptivo. Jornal Brasileiro de Ginecologia, v. 108, p 117-20, 1998.
MURTA, E. F. C.; SOUZA, M. A. H.; ADAD, S. J. et al. Infecção pelo papilomavírus
humano em adolescentes: relação com o método anticoncepcional, gravidez, fumo e achados
citológicos. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4,
maio 2001.
NAUD, P.; MATOS, J.; HAMMES, L. et al. Factors predicting intermediate endpoints of
cervical cancer and exposure to human papillomavirus (HPV) infections in young women
screened as potential targets for prophylactic HPV vaccination in south of Brazil. Eur
Journal Obstet Gynecol Reprod Biol, v. 124, n. 1, p. 110-8, 2006.
OLIVEIRA, L. H. S.; FERREIRA, M. D. P. L.; AUGUSTO, E. F. et al. Human
papillomavirus fenotypes in asymptomatic Young women from public chools in Rio de
Janeiro, Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 43, n. 1, p. 4-8,
2010.
PASSOS, M. R. L.; ALMEIDA, G.; GIRALDO, P. C. et al. Papilomavirose humana em
genital, Parte I. Jornal Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis, v. 20,
n. 2,
p. 108-124, 2008.
PINHO, A. A.; FRANÇA JÚNIOR, I.; SCHRAIBER, L. B. et al. Cobertura e motivos para a
realização ou não do teste de Papanicolaou no Município de São Paulo. Caderno de Saúde
Pública, v. 19, s. 2, s. 303-13, 2003.
PRIMO, C. C; BOM, M.; SILVA, P. Atuação do enfermeiro no atendimento à mulher no
Programa Saúde da Família. Revista de Enfermagem, UERJ, v. 16, n. 1, p. 76-82, 2008.
RAMA, C. H.; ROTELI-MARTINS, C.; DERCHAIN, S. et al. Prevalência do HPV em
mulheres rastreadas para o câncer cervical. Revista de Saúde Pública, v. 42, n. 1, p. 123-130,
2008.
ROTELLI-MARTINS, C. M.; LONGATO FILHO, A.; HAMMES, L. S. et al. Associação
entre idade ao início da atividade sexual e subseqüente infecção por papilomavirus humano:
resultados de um programa de rastreamento brasileiro. Revista Brasileira de Ginecologia e
Obstetrícia, v. 29, n. 11, p. 580-7, 2007.
SADJADI, A.; MALEKZADEH, R.; DERAKHSHAN, M. et al. Cancer occurrence in
ardabil: results of a population-based cancer registry from Iran. Int Journal Cancer, v. 107,
n.1, p. 113-8, 2003.
SCHNEIDER, A.; MEINHARDT, G.; DE VILLERS, E. M. et al. Sensitivity of the cytologic
diagnosis of cervical condyloma in comparison with HPV-DNA hydridization studies. Diagn
cytopathol, v. 3, p. 250-5, 1987.
SILVA, P.; OLIVEIRA, M. D. S.; MATOS, M. A. et al. Comportamento de risco para as
doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes escolares de baixa renda. Revista
Eletrônica de Enfermagem, v. 7, n. 2, p. 185-9, 2005.
SNIJDERS, P. J.; STEENBERGEN, R.; HEIDEMAN, D. A. et al. HPV-Mediated cervical
carcinogenesis: concepts and clinical implications. Journal Pathol, v. 208, n. 2, p. 152-64,
2006.
WANDERLEY, M. S.; MAGALHÃES, E. M. S; TRINDADE, E. R. Avaliação clínica e
laboratorial de crianças e adolescentes com queixas vulvovaginais. Revista Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia, v. 22, n. 3, p. 147-152, 2000.
WRIGHT, T. C.; COX, J. T.; MASSAD, L. S. et al. 2001 consensus guidelines for the
management of women with cervical cytological abnormalities. JAMA, v. 16, n. 287,
p. 2120-9, 2002.