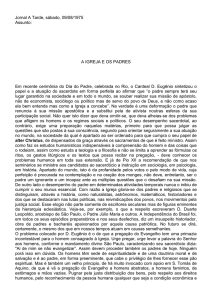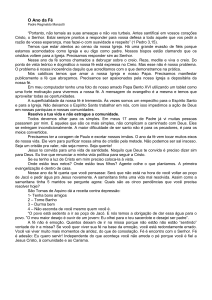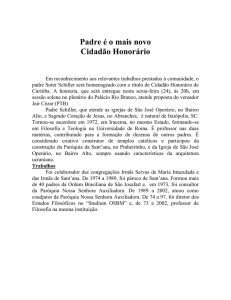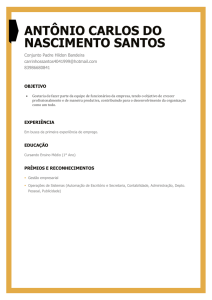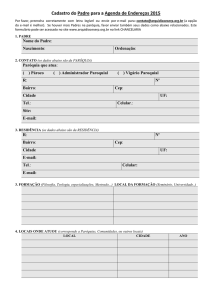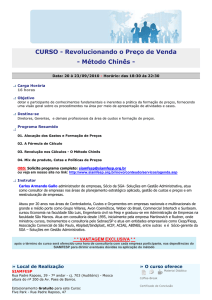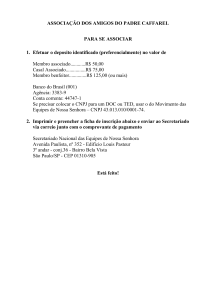PREFÁCIO
Não é bem um prefácio, é mais uma evocação: cinco anos que
prometiam muitos...
O João Seabra chegou no começo daquele Outono. Eu acabara
de entrar no Seminário dos Olivais, onde (con)vivemos um lustro.
Acabara eu de arrumar as coisas e olhar pela janela. De súbito, a
porta abriu-se e ali estava ele, magro então e de barbas, já de mão
estendida: «Olá! Tu és o novo?! Eu sou o João Seabra!». Desde essa
tarde, nunca deixou de me aparecer assim, imediato e incisivo.
Estávamos em 1973. O país não estava já, procurava-se. A Igreja,
mais proximamente em Lisboa, reencontrava-se. Devagar, mesmo
que em tensão. Tinha por patriarca, havia dois anos, a figura discreta e lúcida de D. António Ribeiro, que ia nos quarenta e cinco
anos e escrevera esse ano, pelo Episcopado português, uma notável carta pastoral no décimo aniversário da Pacem in Terris, reclamando mais atenção aos direitos humanos e às liberdades cívicas.
No seminário era reitor o padre José Policarpo, ainda nos trinta,
sereno e claro. Com a sua equipa – padres Carlos Paes e José Vicente – conseguia, pouco a pouco, reconstruir a obra que quase
desaparecera pouco antes: das duas centenas de seminaristas dos
–5–
anos 60 passara-se à escassa dúzia que nem éramos em 1973...
Mas havia um clima e, apesar de tudo, respirava-se futuro.
O João Seabra trazia de Lisboa o contágio e a notícia do
que se passava e iria passar. Trazia-a como hoje os traz, com
entusiasmo e cor. A partir de Abril de 1974, porém, os acontecimentos nacionais eram sempre maiores do que as previsões e os
relatos, com sinais contraditórios. E o João contava, ilustrava, encenava até. Com a abertura que trouxera de lides políticas anteriores.
E muita informação de pessoas e ligações, duma e outra banda.
As vicissitudes públicas repercutiam-se na vida interna do seminário, da Faculdade de Teologia e da Igreja de Lisboa. Recordo-me
dele a «moderar» as assembleias escolares a seguir à revolução,
refreando ímpetos, canalizando as coisas, tanto quanto. Recordo-me dele nas sessões de esclarecimento para católicos, logo a seguir, no Coração de Jesus, não faltando à polémica, apresentando-se
assim (carregando os erres): «João Seabra, seminarista do Patriarcado!». Era algo insólito então, mas libertador. Não éramos com ele
o resto de nada, mas o recomeço de tudo.
Ainda que entre nós o debate fosse vivo: teologia, pastoral, política, etc., etc. Recordo-me de um dia em que o nosso reitor teve de
ir a Évora para falar do cristão e da política. Convidou-nos aos dois
– ao João e a mim – para o acompanharmos. Mas sobretudo para
«discutirmos» o tempo todo e ele não adormecer a conduzir... E muita
coisa mais: como a ida a Roma, ao Jubileu de 1975, cheia de peripécias; ou à Terra Santa, em 1977, viajando a cinquenta graus; ou as
expedições de Verão às igrejas românicas e aos castelos medievais...
Mas aqui importa dizer que os textos agora recolhidos, afirmativos sempre, formam um todo com o jovem seminarista e padre
dos anos 70. E que o Seminário dos Olivais, a Universidade Católica, a Igreja de Lisboa, os movimentos a que se foi sucessivamente
ligando – em especial Comunhão e Libertação –, não seriam exactamente o que são sem o vento forte que ele nos trouxe, ao seu
modo próprio, mesmo que em contraste. Eu não seria, decerto.
Obrigado, padre João Seabra.
Manuel Clemente
–6–
APRESENTAÇÃO
Como todos os padres da minha geração, aprendi a pregar
pregando. Longe iam os tempos das aulas de Oratória Sagrada com
o cónego Neves, e do exame de Homilia, pregada «ao vivo» na Missa de Santa Maria dos Olivais – dessas coisas ouvíamos falar como
se de lendas se tratassem. A nós, uma vez ordenados, mandaram-nos pregar, e cada um o fez a seu jeito.
No meu jeito de pregar, não sei identificar o que devo aos pregadores das minhas infância e juventude: os meus párocos, o padre
Pietra e o padre Armindo, o padre Rocha e Melo, pregador dos retiros que me formaram, o padre Resina, na Missa da tarde da minha
paróquia, os padres do seminário, o padre Policarpo e o padre Carlos Paes. Mas reconheço expressamente alguns mestres – mesmo
se não se desse o caso de eles se reconhecerem na minha pregação.
O padre José Ferreira deu-me poucas aulas, pregou-me algumas homilias, ensaiou-me muitos cantos, sobretudo conversámos muito: com
ele aprendi a amar a Escritura como a Igreja a lê, a enroupar salmos,
episódios bíblicos, versículos com a riqueza da leitura dos padres e
do uso litúrgico. Na minha primeira peregrinação à Terra Santa encontrei Monsenhor Gélin, director da Maison d’Abraham, que me
–7–
mostrou como a leitura crítica da Bíblia, árida e arduamente aprendida com os meus professores de Exegese, se tornava uma fonte de
alegria espiritual e um lugar de encontro com Cristo. O padre José
Craveiro sj, em sucessivos exercícios espirituais, contou-me o Evangelho como uma história viva e nova, e deixou-me o desejo de ser
capaz de o contar como ele. Nos meus dez primeiros anos de padre,
foram estas as referências da minha pregação; e fui percebendo que
o Senhor queria fazer algum bem com ela: na homilia da Missa e em
retiros, fui vendo, comovido e espantado, a Palavra de Deus dar
fruto na vida de muita gente.
Era eu já um padre adulto (quase dez anos de ordenação, quase
quarenta de idade) quando conheci Monsenhor Luigi Giussani. Nunca ninguém me falara de Cristo como ele me falava: na sua amizade, e
na companhia que ela gerou e gera na história, verifiquei a verdade
do Evangelho como resposta ao desejo mais veemente do meu ser
homem. Comecei então a desejar pregar como ele – com a paixão
pelo humano, a abertura cultural, a certeza de Cristo presente, o
amor à Igreja que repassam cada uma das suas palavras; tentei imitá-lo, na escolha dos temas, nos autores e passagens citados, até na
entoação. Parecerá pueril a quem não tem a graça de poder na vida
seguir assim um mestre e um pai. A mim, sei que me ajudou a pregar
melhor – e é a menor das coisas em que me ajudou.
Muitas vezes, ao longo dos anos, me perguntaram: «Tem isto
escrito?» Mas eu só escrevi uma homilia, a da minha Missa Nova,
todas as outras foram de cor. «Devia gravar!», diziam-me aqueles
amigos que têm sempre mais uma ideia para nos fazer trabalhar:
algum, mais generoso, chegou mesmo a oferecer-me um gravador, que
nunca usei. Foi em 1997 que uma amiga de muitos anos, a Dr.ª Margarida Moreau Caiado Ferreira, me pediu para gravar as minhas homilias paroquiais, em Santos-o-Velho. Disse-lhe que sim, desde que
não me desse trabalho. Domingo após domingo, durante quase cinco anos, a Margarida gravou, passou a limpo, corrigiu, dividiu em
capítulos, imprimiu, fotocopiou e distribuiu pelos amigos as minhas
homilias. A maior parte do trabalho que aí vai é dela. A minha gratidão pela sua amizade e o seu empenho, assim como a minha admiração pelo seu talento e a sua capacidade de trabalho, estão para
–8–
além de expressão possível. Das dezenas e dezenas de homilias que
editou, o padre Duarte da Cunha seleccionou as que aí vão e, com a
Dr.ª Ana Isabel Marques, corrigiu o português (e, quando se impôs,
o conteúdo). A amizade do Dr. Henrique Mota entendeu que a matéria era publicável. D. Manuel Clemente consentiu em escrever o prefácio. A todos agradeço, desvanecido e confundido.
A publicação destes textos deixa-me muitas dúvidas: são datados, nascem de circunstâncias concretas, muitas já esquecidas; a
forma é excessivamente oral (mesmo se uma crítica à minha pregação é o facto de ser excessivamente literária); sobretudo muitas
afirmações, teológicas, filosóficas, históricas, políticas, literárias, científicas, podem suportar-se na veemência da oralidade, mas o académico que em mim dormita hesita em pô-las em letra de forma
sem um batalhão de notas de rodapé.
Mas do que se trata é propriamente da minha pregação: um
testemunho vivo da vida de uma comunidade cristã, em Lisboa,
nos anos do fim do milénio, conduzida, educada, catequizada segundo a clara proposta de um carisma eclesial, o carisma de Comunhão e Libertação. Por isso o livro não é a proposta de uma tese
ou de uma interpretação do mundo ou da História. É o relato de um
acontecimento – a fé vivida, partilhada, testemunhada diante de
uma comunidade, numa comunidade, com uma comunidade, durante treze anos da minha vida.
Quis agradecer a quem me ensinou a pregar, e a quem trouxe a
público a minha pregação. Mas o agradecimento maior que devo é a
quem me escutou. Um padre prega para ser ouvido, para que Cristo
seja conhecido, amado e seguido. Os olhos escancarados, as cabeças que acenam, as lágrimas, os risos, as pessoas que vêm no fim
comentar ou agradecer, o eco da pregação na vida que depois se
encontra no confessionário ou no testemunho, directo ou indirecto –
é isso que torna a pregação uma aventura, de anúncio, comunicação
e vida partilhada. Por isso quero agradecer aos que, nestes vinte e
cinco anos, me escutaram, e deixando-se tocar pelo anúncio de Cristo, me encheram a vida de responsabilidade e letícia.
Há uns anos D. Albino Cleto, então bispo auxiliar de Lisboa e
hoje bispo de Coimbra, conversava, durante a visita pastoral, com
–9–
o conselho pastoral de Santos-o-Velho, uma vintena dos meus paroquianos mais responsáveis. Um pouco de parte e em silêncio, eu
escutava o diálogo, vivo e interessante. A certa altura, o bispo perguntou: «Na paróquia há duas realidades sociais muito diferenciadas, Lapa e Madragoa, por assim dizer: isso não cria dificuldades
na vida da comunidade?». Um paroquiano antigo, Gabriel Martins,
respondeu: «Sim, cria dificuldades, mas não é o assunto mais importante da nossa vida, porque o prior educa-nos na fé.»
Talvez me fique mal contar isto: faço-o também como homenagem ao Gabriel, que Deus chamou a si ainda no tempo da minha
paroquialidade. Não sei se o mereço; sei que é o único juízo que
desejo merecer: o de ser um prior que educou na fé.
– 10 –