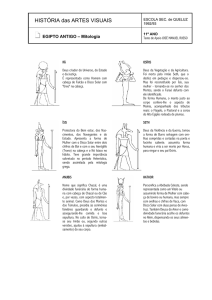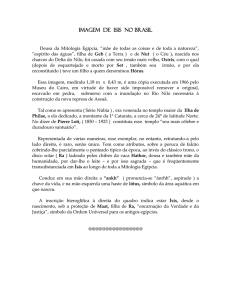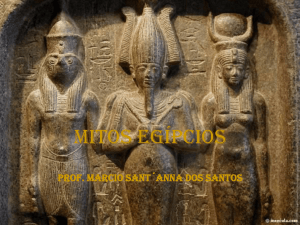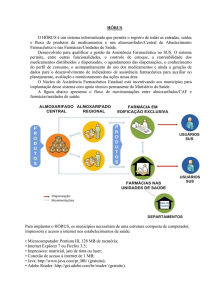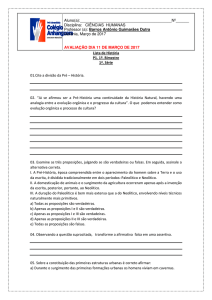TOT
Excelso lótus de névoas diamantinas, irresistivelmente perfumado pelo mais
místico delirar da poesia, que um ósculo da Via Láctea, lascivamente eivado
de feitiçaria pagã, semeara nos lábios constelados do Infinito, a Lua saciava
a sede de Tot com o orvalho de magia cósmica que as pétalas de seu corpo
astral rociava, docemente. Seu refulgente olhar de feitiços de prata,
supremo vidente dos enigmáticos oráculos do Universo, convidava-o a colher o fruto de
imortalidade que abençoava o seu paraíso de luz imaculada, etereamente recamado de nascentes
de sapiência ancestral, que se ofereciam, na magnificência de seu esplendor secular, a todos
aqueles que se proponham a errar pela noite da vida, guiados pela estrela peregrina do
conhecimento, eterna pedra filosofal, esculpida por Tot no apogeu da Criação, que convertia as
trevas plúmbeas da ignorância, qual abismo onde somente o caos se manifestava, na luz
transcendental, inebriante brisa de ouro, que acariciava o nascimento do jardim da humanidade, a
fim de nele depositar a semente da sabedoria divina. Com efeito, Tot era proclamado, pelos
fervorosos teólogos de Hermopólis, eterno imo do seu culto, como o lídimo Ourives da Criação,
que, qual demiurgo universal incarnara uma íbis, a fim de chocar o ovo do mundo, tingindo de
seguida na tela do universo vítreo, a excelso pintura da vida, numa obra de arte ímpar apenas
concebida
pela
magnificência
do
som
de
sua
voz.
Esta cosmogonia esculpe no ouro da sua identidade a personificação da
inteligência divina, imprescindível naquele que não era senão uma
deidade criadora e auto- criada, indigitando-o assim líder da Ogdóade de
Hermopólis, um grupo de oito deuses, mais exactamente de quatro
casais, sendo os homens facilmente reconhecidos através das suas
cabeças de rã, em contraste com as suas esposas que ostentavam
cabeças de serpente. Este grupo divino incarnava os pilares que haviam
sustido a fundação do Universo: o casal original, isto é, aquele que Nun,
personificação do oceano primordial, e Nunet, espaço celeste suspenso
sob o abismo, constituíam; o casal Hehu e Hehet, ou seja, os espaços
imensuráveis e impossíveis de destinguir subjacentes ao caos; o casal
Keku e Keket, fruto das trevas e obscuridade; e por fim Ámon e
Amaunet, símbolos do desconhecido, ou seja, dos enigmas que haviam
nimbado o caos. A cidade edificada em honra destes oito deuses, actualmente denominada de ElAchmunein, era conhecida primitivamente por Khemenu, ou, na realidade, “A cidade dos oito
deuses”. Todavia, a identificação vinculada entre Tot e Hermes, permitiu aos gregos apelidaremna de Hermopólis, epíteto que se difundiu e estabeleceu através do tempo e das civilizações. Não
obstante a noite pejada de obscuridade que vela o seu nascimento (determinadas fontes afirmam
que Tot nasceu do crânio de Set, enquanto outras proclamam que o deus- íbis floresceu do
coração do criador num momento de melancolia), indubitável é a sublimidade da chama de
sabedoria divina, ateada pela suas invejáveis sagacidade e perícia, que dança na alma do arguto
deus- íbis. Como soberano do fecundo reino do conhecimento, Tot sentiu ser vital a difusão dos
insignes tesouros que este em sua imensidão guardava, pelo que abraçou a resolução de inventar
um instrumento apto a garantir a transmissão perpétua das ciências por ele cultivadas: a escrita.
Qual primeiro raio de luz bailando nos jardins dos céus, a escrita fende o luto da noite, a fim de
passear pelas fragrantes rosas dos hieróglifos, de brincar na árvore da comunicação, que o Verbo
e a Palavra, doce frutos dos deuses, coroavam num halo de fastígio.
A poesia, primeira manhã do mundo das almas, é cálice de Sol vertido pela taça de sua sapiência.
Os livros, alimento do intelecto, seu testemunho. Em harmonia com esta ideologia, os Egípcios
aludiam aos seus hieróglifos como medu- netjer, ou seja, “palavras do deus”, numa flagrante
oblação ao deus- íbis. Enquanto fautor da escrita, perpétua arauta do pensamento, Tot conquistou
o epíteto de neb medu- netjer, em português “O Soberano das Palavras Mágicas”. Ao integrar a
elite do panteão egípcio, Tot converte-se em depositário das confidências do excelso soberano dos
deuses, equivalente ao faraó na terra, garantindo assim a denominação de “Ré disse; Tot
escreveu”. Não constitui, deste modo, qualquer surpresa constatar que, num ápice, Tot alcançou a
preeminente posição de guardião dos arquivos divinos, emissário e escriba dos deuses. No seio da
comunidade celestial, é o deus- íbis quem abraça a incumbência de permitir que a praia de luz,
formada pelos cristais de luz das etéreas almas dos deuses egípcios, seja docemente banhada pelo
mar da harmonia cósmica. Por conseguinte, era ele que, através da análise das inúmeras regras
ditadas pelo criador na fundação do Universo, procura solucionar todas as querelas e desaires
semeados na sociedade dos céus. Desta forma, buscando a aplicação das leis estabelecidas
aquando da excelsa matriz da vida, os deuses reuniam-se em assembleias, marcando o início de
morosos julgamentos que, com frequência, se prolongavam durante alguns anos. Escutadas e
interpretadas todas as vozes envolvidas nos debates e recontros, Tot evoca a sua sapiência e sela
o julgamento com uma decisão apta a implantar a paz, onde outrora o caos reinara. Resolução
alguma
deverá
sem
perpetrada
sem
o
consentimento
do
escriba
divino.
A polivalência intelectual de Tot faculta-lhe a prerrogativa
de invadir e conquistar todo o reino das ciências, pelo que
ele é igualmente o deus das matemáticas, o calculador
primordial e imbatível. Dominando a criatividade e a razão,
o deus- íbis ousou estipular sozinho os limites dos nomos e
as
fronteiras
das
terras,
concebendo
assim
“o
ordenamento do País Duplo (Egipto) e a organização das
províncias; e não hesitou em erguer todos os santuários
dos deuses, dado possuir o monopólio do traçado e das
plantas. Além de oferecer-lhe o título de “Arquitecto
Divino”, esta liberdade tornou-o também patrono dos escribas, dos médicos, dos mágicos e dos
arquitectos. Vestido pelo sumptuoso cetim de prata que o luar tece na magia do Infinito, Tot
preside igualmente ao festim de feitiços e sonhos, oferecido pela noite no seu excelso palácio de
abismos constelados. Incarnação da Lua, eterna maga de fantasias pagãs, Tot fendia a mortalha
de trevas e pez que sufocava a essência da noite com a luz imaculada de sua adaga de feitiçaria
divina. No cosmos do tempo, a intemporal estrela de um mito imortaliza com seu fulgir ofuscante
o incidente que inspirou ao deus- íbis a poesia da Lua. Segundo este, Ré, cujo coração exânime,
dilacerado pelos infindáveis conflitos da humanidade, naufragava nos mares da exaustão do sentir
e do querer, cede à tentação de abdicar parcialmente da sua existência na terra, em prole de uma
vida serena nas alturas celestes. O seu auto- exílio lança o tempo no abismo do caos, visto que
doravante o astro- rei somente abençoaria a os seus súbditos terrenos durante o dia,
abandonando-os, por conseguinte, às trevas e ao caos, no decorrer da sua viagem pelo mundo
subterrâneo. Receando pela sorte da alma humana, Ré evoca então Tot, a fim de o indigitar seu
substituto. O poderoso regente dos céus proclamou então: “ Farei com que rodeies os dois céus
com tua beleza e claridade. E assim nascerá a Lua”. O seu passeio compassado pelos vales dos
céus privilegiou-o com outro dos céus díspares epítetos: “Touro entre as estrelas”. Esta vertente
de substituto do Sol durante a noite justificou igualmente que, durante a Época Baixa, o
apelidassem de “Áton de prata”.
Tornado Senhor do Tempo e das Estrelas, Tot ou “Governante dos anos” sonhara
igualmente o calendário, permitindo uma distinção entre os dias, os meses, as
estações e os anos. De facto, o deus íbis cometeu a audácia de reinventar o
conceito de tempo, a fim de prestar auxílio à deusa Nut, incarnação do céu, que,
seu o consentimento de Ré se havia unido a Geb, personificação da terra, em
lustrais núpcias divinas, fomentando assim a ira do regente supremo dos deuses,
que, irado, coagiu Chu a apartar os dois amantes clandestinos, num ímpio desaire:
Nut, grávida de cinco meses, jamais poderia dar à luz no espaço de tempo
compreendido pelo calendário oficial. Por conseguinte, Tot, saboreando o néctar de
criatividade que resvalava do fruto de sua extasiante inteligência, propôs-se a
jogar aos dados com a lua, na ânsia de obter cinco dias suplementares, isto é, a
septuagésima segunda parte da sua luz, que acolhessem o nascimento dos cinco
filhos de Nut (Osíris, Set, Ísis, Néftis, e Horús, o Antigo). Outra flor de míticos
encantamentos, vogando sem rumo na corrente do translúcido Nilo da mitologia egípcia, insinuase em nossos sentidos, através do seu perfume de quimeras ancestrais, convidando-nos a
presenciar um dos mais ferozes recontros que opôs Hórus a seu tio Set e que culminou com o
dilacerar do olho esquerdo do deus falcão (personificação da Lua, em contraste com o olho direito
que simbolizava o Sol). Prontamente, Tot ofereceu-lhe os seus préstimos, restaurando a visão a
Hórus, ao substituir o olho dilacerado pelo amuleto uadjet, o que restituiu a harmonia ao cosmos e
a
magia
ao
deusfalcão.
Coroado pela sua beatífica sabedoria regente do generoso éden do
conhecimento, Tot esculpira o seu trono na prata da Lua e o seu ceptro na jóia
rara da magia suprema. Efectivamente, encontramos em Hermopólis, sua
morada eterna, um tempo luxuriante, cujas criptas acolhiam papiros místicos,
redigidos por aquele que constituíra o primeiro dos mágicos, venerado e imitado
por todos os seus devotos discípulos. Estes, na ânsia de desbravarem a floresta
proibida do conhecimento, em cujo coração pulsava a essência da magia,
elevavam preces a Ré, crentes de que este conduziria Tot até eles: “Ó velho que
rejuvenesceu no seu tempo, velho que se tornou criança, possas tu fazer com
que Tot venha até mim, respondendo ao meu chamado”. A mitologia egípcia
atribui-lhe a autoria das díspares fórmulas mágicas e textos simbólicos que o
morto, ou melhor, o maé- kheru (justificado) ou maet- kheru (justificada) pronunciavam ao
franquear as portas do Além e, mais exactamente, no decorrer do julgamento celestial, presidido
por Osíris. Suspiros do passado confiam-nos que Tot legou também à eternidade um livro de
magia e quarenta e dois volumes, que testemunhavam, sustinham e renovavam toda a magia do
cosmos. Por conseguinte, prestar culto ao deus- íbis revelava-se incontornável e, na realidade,
capital, para qualquer sábio. De facto, todos os escribas que ornavam de sabedoria a alma do
Egipto, desde os mais humildes aprendizes, ou em egípcio, sebati, ao mais proeminente mestre
(sebá) ritualizavam a sua devoção, derramando algumas gotas de tinta numa notória oblação a
Tot.
Por último, Tot tece, juntamente com inúmeras outras deidades, o destino dos inumados no Além,
exercendo a função de escriba divino e arauto dos deuses fúnebres. Desta forma, é ele quem
introduz o defunto no recinto celestial onde será julgado, para, após a pesagem do coração deste,
registar, nas tabuinhas sagradas, o veredicto proferido por Maet. Os sonhos de amor que a
existência semeava no coração de Tot eram cultivados e ditados pela noite da geografia e pelas
veleidades e metamorfoses da alma humana, pois em Hermopólis, o deus- íbis era proclamado
esposo da sagaz Sechat, deusa dos anais e da história, que lhe ofereceu um
filho de nome Hornub, enquanto que em Heliópolis Nehemetauai, isto é,
“aquela que erradica o mal” era tomada por sua mulher, concebendo com ele
Hornefer. Alguns devaneios da mitologia revelam que Tot desposou
igualmente Maet, a etérea filha de Ré, versão suplantada por aquela que
consignava a união de Tot e Tefnut, resultante da fuga do Olho de Ré para a
Núbia, sob a forma da graciosa deusa. Incumbido de a restituir ao seu
legítimo proprietário, o deus– íbis não terá resistido aos seus encantos,
desposando-a no seu retorno ao Egipto. Porém, enquanto entidade
intelectualmente
superior,
abençoada
pela
consciência
da
incomensurabilidade da sua sagacidade, Tot bebe da fonte da pretensão,
tornando-se terrivelmente enfadonho, displicente e com uma hedionda
propensão a exibir a sua inteligência através de uma retórica prolixa, escrava
de uma abominável e excessiva facúndia, tal como sugere um determinado episódio do mito
osírico: Na ânsia de escapar à pravidade do deus Seth, Ísis, sustendo nos braços seu filho Hórus,
toma os pântanos de Chemnis, como seu refúgio de eleição. Coagida pela escassez de alimentos,
a deusa abandona todas as manhãs o seu filho, a fim de assegurar a subsistência de ambos.
Contudo, uma noite, ao retornar de mais uma extenuante peregrinação em busca de géneros
alimentares, Ísis deparou-se com Hórus inconsciente e, desesperada, evocou Rá, que, por seu
turno, não hesitou em solicitar a Tot que restituísse a saúde à criança. Após examinar
cuidadosamente o enfermo, o eloquente deus- íbis lançou-se em abstractas cogitações,
extravasadas sob a forma de praguejos pontuais e monólogos facundos e muito pouco
apropriados. Exasperada com a sua inércia, Ísis arrebata Tot aos seus devaneios, admoestando-o
severamente por “sábio ser o seu coração, mas terrivelmente demoradas as suas resoluções”.
Detalhes
e
vocabulário
egípcio:
Tot era designado, em egípcio, por Djehuti, numa hipotética alusão a Djehut, a décima quinta
província do Baixo Egipto, cuja denominação evocava o íbis, um dos seus animais sagrados.
Tal como já referido, o insigne mestre do Verbo era representado como um homem com cabeça
de íbis, ornada pelo disco da Lua ou por uma coroa atef com o disco, uraeus e chifres. Em suas
mãos, Tot sustém um cálamo e uma paleta de escriba. É sob esta forma que o deus- íbis regista
os nomes dos faraós nas folhas da divina árvore persea, aquando da sua ascensão ao imponente
trono do Egipto. Todavia, Tot surge-nos igualmente enquanto íbis ou, eventualmente, sob a forma
de
um
babuíno.
Emissária das leis cósmicas, a magia, ciência divina personificada por Tot, é soberana do
universo egípcio, instituindo um reinado de coesão espiritual que encontra na “mulher sábia” uma
das suas maiores depositárias,. Tal como nos sugerem os arquivos de Set Maet, “Lugar de
Verdade”, povoação alguma, independentemente do seu tamanho, se privava da protecção destas
grandes magas. Habilitada a instaurar a harmonia onde o caos reinava, a exonerar as forças
malignas e a preconizar o futuro, esta vidente surge-nos com frequência ajoelhada defronte de
Tot, que sem hesitar a convidava a franquear a sua morada de sabedoria.
Sechat- Deusa da escrita e da medição, usualmente retractada como uma mulher envergando
um vestido de pele de pantera. Em sua cabeça, insinuava-se um toucado com uma estrela de sete
pontas e um arco. Juntamente com Tot, a sua versão masculina, inscrevia o nome dos faraós
indigitados na sagrada árvore persea. A II Dinastia concedeu-lhe o privilégio de assistir o regente
terreno no ritual de fundação de “esticar a corda”. A partir do Médio Império, a sua efígie é uma
constante nos cenas dos templos dedicadas às campanhas militares, sendo representada a
registar o número de cativos e despojos de guerra conquistados pelo Egipto. O Império Novo
associou-a também ao festival jubilar Seb. A deusa Sechat consagrou-se igualmente regente da
Casa da Vida, onde se compunham os rituais vitais para a conservação da harmonia cósmica e
onde os faraós eram iniciados nos enigmas da sua função. Patrona das bibliotecas e protectora dos
textos fundamentais, Sechat regista a oratória da vida com seu pincel divino, ditando nos
contornos de suas palavras o destino dos faraós, tal como é demonstrado no templo de Séti I em
Abidos: “A minha mão escreve o seu longo tempo de vida, a saber: do que sai da boca da Luz
Divina (Ré), o meu pincel traça a eternidade; a minha tinta, o tempo; o meu tinteiro, as inúmeras
festas
de
regeneração.”
NÉFTIS
Qual peregrino de luz, o magnificente Sol da alma humana vagueia, cativo de
um rumo fadado pela harmonia cósmica, pela excelsa abóbada celeste da
vida, até alcançar, no apogeu da teosofia de seu esplendor, o etéreo
santuário da paz eterna, edificado pela imortalidade do espírito sobre as
nuvens elísias da sus extinção terrena. Franquear as portas do Ocidente,
eterna pátria de luz, onde os justos, despojados da sua mortalidade,
celebravam o rito da felicidade intemporal, constituía, no Antigo Egipto, o
expoente máximo da terrena peregrinação pela beatífica vereda da rectidão
espiritual.
Saciados os céus da alma humana na tempestade do viver, eterno festival de
paixões em chama, onde, entre a sumptuosidade de um banquete de relâmpagos se brindava à
luz da verdade, o corpo, lavado do seu sentir pela chuva da morte, era então convertido em
múmia, para que, no fausto de um funeral destinado a contar a natureza eternal do espírito, este
vosso sepultado de forma honrosa. Um surpreendente halo de festividade nimbava os funerais,
quão clímax da existência, em torno do qual o pensamento dos Egípcios orbitava, entre um rol
imensurável de preparativos e economias. Inebriados com promessas de imortalidade,
apressavam-se a erguer e ornamentar túmulos, a adquirir os vitais caixões, seguidos de
sumptuosas imitações de componentes do seu quotidiano, que o defunto desejava que o
acompanhassem na sua derradeira viagem. Na realidade, esta ideologia era alimentada por uma
fracção do produto nacional bruto, que, num ápice, desvanecia-se, entre as mãos de um conjunto
económico, encarregue de ocupar-se da fabricação de determinados arranjos funerários. A oeste
das cidades egípcias, palco da extinção do fulgor solar, estende-se a imensidão da orla do deserto,
sobre a qual foram, imponentemente, erigidas as sagradas necrópoles, sublimes complexos
funerários. Desta forma, perto de Mênfis, saúdam-nos Saqqara, Guiza, Abusir, entre inúmeros
outros.
Por seu turno, Tebas entregou a sua necrópole à margem ocidental do Nilo, eterna residência de
Meretseger, deusa do Ocidente, cujo nome significa “Aquela que ama o silêncio” e que, na
realidade, se tornou na perpétua vigilante do deus- chacal Anúbis. Ultimados setenta dias nas
moradias dos embalsamadores, o corpo já mumificado é enfim depositado num caixão aberto,
faustosamente recamado, que se coloca, de seguida, sobre um carro de arrasto, puxado por uma
junta de bois ao longo de todo o soberbo cortejo fúnebre. Precedendo-o, eleva-se a fragrância dos
incenso espalhados pelos sacerdotes e os lamentos lancinantes das carpideiras ( elementos vitais
num funeral, mas, que, dado o seu elevado custo, eram apenas acessíveis aos mais abastados),
que caminham com os cabelos despenteados e os bustos nus; fulguram as jóias, móveis, vestes,
cofres e cosméticos, transportados por escravos até à derradeira morada do morto; e escutam-se
os passos lentos da família e dos amigos. Uma tempestade de lamentos sacia, num banquete de
relâmpagos de dor e trovões de gritados pelo sofrimento, a sacra Natureza espiritual do defunto.
Num eterno brinde à saudade, realizado que as lágrimas vertidas pelos céus de seus olhares, as
carpideiras recitam fórmulas harmoniosas, que, quais estrelas guias, conduziriam a alma dos
entes queridos até ao fecundo paraíso do Além. De facto, estas mulheres,
cantoras da deusa Háthor, desfrutavam de um diversificado leque de textos e
cânticos, nos quais era evocado o deserto de intempéries que o espírito
nómada do defunto teria de atravessar, para alcançar o sublime oásis da
regeneração, onde a sua sede de vida seria por fim saciada.
Às duas carpideiras primordiais, concede-se o epíteto de “djeryt”, isto é,
“milhafres fêmea”, incarnando assim as aves de rapina que velavam pelo
sarcófago. As suas etéreas silhuetas inebriam, adornam e purificam igualmente
a barca sagrada que permite ao ataúde alcançar as acolhedoras margens do
éden dos juntos. Estas duas aves não são senão poema de luz inspirado por
Ísis, “a grande carpideira” e Néftis, “a pequena carpideira”. Qual jardim de
constelações, semeado no cosmos da sublimidade, Néftis não desabrochava
para o conhecimento, quando privada da Primavera de luz, incarnada por sua
irmã. Juntas, inebriavam o Infinito com o perfume de harmonia fraternal que
se desprendia das rosas de estrelas florescidas da sua união. Pertencente à
última geração celestial da famigerada enéade de Heliópolis, Néftis é fruto colhido do paraíso de
amor sonhado pela fusão do céu, Nut, e da terra, Geb. Embora o sagrado ourives do matrimónio
tenha entretecido o seu destino ao de Seth, seu irmão, foi Osíris, divino esposo de Ísis, quem a
convidou a saciar a sua sede no cálice de uma outra vida, ao oferecer-lhe um filho: o deus chacal
Anúbis. Numa complementaridade cobiçada pela terra e pelo céu, Ísis é mãe de Hórus, enquanto
que Néftis se revela sua ama, tal como sugere o seguinte texto: “Ele é Hórus. Sua mãe, Ísis deu-o
à luz, ao passo que Néftis embalou-o”. Personificando o eterno jogo de luzes e sombras
perpetrado pelo dia e pela noite, Ísis incarna o nascimento e a luz, enquanto que, num contraste
alucinante, Néftis estigmatiza o exício e a penumbra, materializando nesta excelsa fusão toda a
magia
dispersa
pelo
Universo.
Por oposição a sua irmã, cujo culto era celebrado em diversos templos, disseminados um pouco
por todo o país, Néftis não era venerada de forma isolada, privando-se assim de uma existência
autónoma, facto que justificava a sua constante aparição ao lado de Ísis. A sua associação ao
culto dos mortos aflorou do mito osírico, no decorrer do qual a sua presença é incontornável. Este,
tal como referido anteriormente, relata que, após o assassinato e desmembramento de Osíris, as
duas irmãs unem-se para recolher todos os pedaços do corpo do defunto, num ritual álgido,
ritmado por lamentações vestidas de lágrimas, saudade e dor. Coroada de sucesso a diligência a
que se haviam proposto, Ísis e Néftis entrelaçam os acordes de sua voz numa melopeia plangente,
ornada de comoção: “Graças a nós olvidaste a mágoa. Nós reunimos teus membros e velámos por
teu corpo. Vem ao nosso encontro para que o teu inimigo seja esquecido. Regressa sob a forma
que detinhas na terra. Exonera a tua ira e concede-nos a tua clemência, Senhor. Retoma a
herança do País Duplo (Egipto), tu, o deus único, cujos desígnios revelam-se benéficos para as
divindades. Retorna, pois, sem receios, à tua morada!” A iluminada semente de luz depositada
pelo amor de Ísis e pela compaixão de Néftis, no éden do horizonte, desponta por fim sob a forma
da flor da aurora, cuja beleza orvalhada de feitiços de paixão anuncia ao céu a ressurreição de
Osíris, restituindo o seu trono de turquesas ao Sol da vida eterna. Numa flagrante analogia deste
magnificente episódio da mitologia egípcia, Néftis e sua irmã são incumbidas de velar pelo morto,
no insondável enigma do Além. Por conseguinte, esta primeira era representada na cabeceira dos
sarcófagos reais do Império Novo, enquanto que, por seu turno, Ísis surgia aos pés do mesmo, da
mesma forma que não raras vezes eram evocadas em cenas do julgamento dos mortos. É função
das duas deusas serem efígie do barco que transportará o defunto na sua derradeira viagem até
ao país da luz. De igual modo, e juntamente com Selkis e Neit, oferecem a sua protecção aos
vasos canópicos, onde as vísceras do falecido eram conservadas.
Néftis, ou em egípcio Nebhwt, ou seja, “A Senhora da Casa”, era
retractada como uma mulher, cuja cabeça se encontrava adornada com
um toucado formado por dois símbolos hieroglíficos, destinados a
representar o seu nome, isto é, “neb”, o cesto, e “hwt”, a planta da casa.
Esta deusa foi igualmente associada ao deus babuíno Hapi e, na Época
Baixa, à deusa Anuket, tendo com ela sido adorada em Kom Mer, no Alto
Egipto. Egípcias como Ny-Anq-Háthor isto é, “Aquela que pertence à vida,
Háthor” abraçavam a prerrogativa de incarnarem as duas deusas irmãs,
recitavam as lamentações proferidas por Ísis e Néftis num ritual que
restituíra a vida a Osíris. Na festa das carpideiras, cânticos e músicas inebriavam os sentidos,
preludiando o renascer do deus assassinado. Convertida a essência humana em essência divina,
pela transfiguração de todos os defuntos em Osíris, as carpideiras suplicavam a ressurreição
espiritual do morto, ao longo de todo o cortejo fúnebre. As cenas representativas dos mesmos são
uma constante nas paredes dos túmulos de personagens tão proeminentes, como é o caso de
Ramsés, que legou à eternidade os lamentos embebidos em lágrimas e impregnados de um
desespero
ensaiado,
que
as
carpideiras
proferiam,
entusiasticamente.
Quando por fim se achava diante do túmulo, a múmia é então retirada do seu caixão e suspensa
nos braços de um sacerdote embalsamador, cujo semblante mantém-se oculto por uma máscara
de Anúbis. O incenso queimado por um outro sacerdote, em geral no limiar da sua carreira e,
geralmente, filho do morto, entrelaça-se com as fórmulas mágicas proferidas, solenemente, por
um seu homólogo. Seguidamente, dá-se a cerimónia da “Abertura da Boca”, realizada com o fim
de conceder, uma vez mais, àquele que faleceu o dom do Verbo, da visão, da audição e do olfacto,
de forma a permitir-lhe saborear as dádivas alimentares, deixadas no túmulo. Findo este ritual, o
morto acha-se reanimado, num processo que pode, muitas vezes, prolongar-se por vários dias.
Entre despedidas, o corpo do morto é, uma vez mais, restituído ao repouso do seu caixão, sendo
rodeado por tudo o que podesse vir a ser-lhe necessário no Além. Deste modo, com o fito de
impedir que os egípcios abastados necessitassem de entregar-se a qualquer tarefa laboral
(nomeadamente, lavrar, ceifar ou bater trigo, entre outros árduos trabalhos), colocavam-se no
seu túmulo pequenas figuras de madeira representando os servidores de diversos corpos de ofício
e os animais domésticos, além de réplicas em miniatura de casas e barcos. Por seu turno, os
príncipes ou outras distintas personagens eram enaltecidas com um inexaurível exército de
pequenas estatuetas de madeira, concebendo-se assim algo similar a um mundo artificial. Porém,
em meados do segundo milénio antes de Cristo, este hábito de dispor no túmulo figurinhas
representando servidores foi substituído pelo costume de colocar na derradeira morada do defunto
uma sósia em miniatura deste, representada, habitualmente, em forma de múmia e colocada
sobre uma caixa de menores proporções. Esta sósia esculpida, geralmente, em argila, madeira ou
metal, achava-se incumbida da tarefa de efectuar, no reino dos mortos, o trabalho correspondente
ao defunto.
Na sua derradeira viagem, as crianças faziam-se acompanhar de
seus brinquedos, geralmente, piões, bonecas articuladas, animais
de brinquedo, entre outros. Porém, também os momentos mais
sóbrios e conscenciosos eram recordados ao serem também
depositados nos túmulos os seus cadernos em papiro ou ardósia,
contendo exercícios de caligrafia, aritmética, etc.. As disparidades
sociais e económicas estavam latentes na forma como os Antigos
Egípcios eram sepultados, uma vez que em contraste com as
prerrogativas concedidas aos mais abastados, que detinham a
possibilidade de desfrutarem do seu último sono num túmulo ao
abrigo dos chacais e outras feras do deserto, os mais humildes não
possuíam recursos económicos que lhes permitissem mandar
embalsamar o seu corpo. Consequentemente, os seus restos
mortais jazem, isentos de um sarcófago, sob um metro de areia,
onde acabam por ser dilacerados pelo tempo, que não lhe
concederia o direito à imortalidade. Temendo a hedionda
perspectiva de uma morte definitiva, os menos afortunados
empregavam todas as suas forças no sentido de reunir uma
determinada quantia que lhes permitisse realizar um funeral
decente ou, pelo menos, para reservar um lugar nos inúmeros túmulos colectivos, que se
encontravam
escavados
na
rocha.
A tão desejada “Casa da Eternidade”, consistia numa tumba escavada na falésia, e que veio
substituir as imponentes pirâmides e mastaba, onde o corpo permanecia oculto num poço
funerário subterrâneo ou num local secreto, precedido por uma parte aberta, que permitia um
acesso ao exterior: a capela, dotada de uma tela na qual se encontra inculcado o nome do defunto
ou, eventualmente, a sua efígie e onde se ergue a mesa das oferendas. Paralelamente, é erigida
uma porta fictícia (ponto de ligação entre o mundo dos mortos e o dos vivos), a qual o morto
transpõe sempre que deseja usufruir das oferendas que lhe são levadas: pão, legumes, aves de
capoeira e carne vermelha nos dias de festa. Concomitantemente, a sua alma desfruta do incenso
que invade de prazer o seu olfacto e a sua sede é saciada pela salubridade da cerveja ou água
fresca, que lhe deixam, regularmente, visto ele habitar na orla do deserto. Contudo, os longos
períodos de caos ensinaram aos egípcios que até mesmo as dádivas “eternas” tornam-se
efémeras, pelo que foram concebidas fórmulas, inscritas, mais tarde nas paredes, que permitiam
ao morto desfrutar das oferendas, sempre que as pronunciasse. Assim, sobre inúmeras peças
comemorativas, surge diversas vezes a seguinte prece: “Vós que viveis na terra e passais diante
desta estela, indo e vindo, se ameis a vida e detestais a morte, dizei que há mil pães e mil potes
de cerveja”.
Detalhes
e
vocabulário
Keres-
egípcio:
caixão,
ataúde.
Geb, deus da terra, era, habitualmente, venerado pelos demais como um deus benevolente,
dado haver brotado do seu corpo a vegetação e a água. Porém, a morte tornava-o cruel e
malévolo, por tomar no interior do seu corpo os cadáveres dos mais humildes.
Carpideira-
mulher
paga
para
chorar
nos
funerais.
Protecção dos vasos canópicos do defunto - Os quatros filhos de Hórus detém o título de
“Senhores dos Pontos Cardeais, função que preservam enquanto protectores dos vasos canópicos,
que permitem que cada víscera seja correctamente velada pela deusa tutelar, ou seja:
Sul: Deusa Ísis- mulher coroada com o símbolo usado na escrita de seu nome (trono de
espaldar
alto).
Amsetgénio
com
cabeça
de
homem.
Incumbênciaprotecção
do
fígado.
Norte: Deusa Néftis- mulher coroada com os signos empregues na escrita de seu nome, isto é,
cesto
e
planta
da
casa.
Hapigénio
com
cabeça
de
babuíno.
Incumbênciaprotecção
dos
pulmões.
Este: Deusa Neit- mulher coroada com um emblema representativo de dois arcos juntos, no seu
estojo.
Duamutef- génio com cabeça de chacal. Incumbência- protecção do estômago.
Oeste: Deusa Selkis- mulher coroada com a efígie de um escorpião ou, eventualmente, de uma
larva
encéfala.
Khebeh- Senuf- génio com cabeça de falcão. Incumbência- protecção dos intestinos.
ÁMON
Entre os cerúleos pilares de lápis- lazuli do enleante templo dos céus, o Sol, sedutor
feiticeiro do Infinito, transfigurava, através da mística alquimia da luz, a noite da
inexistência, perpétuo algoz da alma humana, no resplandecente dia da vida eterna. E
seus lábios luzentes, pétalas de luz da fragrante rosa de fogo que a aurora desfolhava
sobre o leito do horizonte, na ânsia de perfumar as núpcias do céu e da terra,
albergavam o berço da humanidade e a matriz da perfeição universal. No Antigo
Egipto, Ámon- Ré, imanente incarnação do astro- rei, era soberano do sublime éden
de fruição espiritual, de cujo seio de apoteoses divinas brotava o fruto da harmonia
cósmica que deuses e homens cobiçavam. Ávidos de saciar a sua sede no néctar de
paz intemporal dele resvalado, estes coroavam os céus com arco –íris talhados em
hinos esplendorosos que exaltavam a magnificência do excelso regente dos deuses:
“Único é o oculto que permanece velado para os deuses, sem que a sua verdadeira
forma seja conhecida. Nenhum deles conhece a sua verdadeira natureza que não é
revelada em nenhum escrito. Ninguém o pode descrever, é demasiado vasto para ser
apreendido, demasiado misterioso para ser conhecido. Quem pronunciasse o seu nome secreto
seria
fulminado.”
(Hino
a
Ámon).
Todavia, oráculo algum preconizara que tal deidade, quase escrava do anonimato total no Antigo
Império, viria a coroar-se “rei dos deuses” (nesu- netjeru) e incontestável soberano do vasto
reino dos céus. Com efeito, é apenas no decorrer do Médio Império, que Ámon, efígie do Sol
criador, após haver vagueado, enquanto peregrino de luz, pelos ignotos céus do
desconhecimento, alcança por fim o santuário de magia imarcescível, erguido no horizonte da fé
em honra do panteão egípcio, onde, volvida uma viagem mágica, que lhe permitiu a absorção de
diversas outras deidades, o deus solar renasce, cantando a Aurora do seu poder como divindade
nacional, dinástica, universal e criadora. Os jardins onde a mitologia egípcia semeou as origens
de Ámon constituem ainda um paraíso proibido, cujos encantos florescentes se oferecem
somente à nossa Imaginação nómada. Porém, alguns egiptólogos crêem que originalmente Ámon
não era senão uma deidade do ar, que no Infinito nas crenças egípcias, partilhava as
características de Chu, estatuto do qual não jamais viu-se privado, mesmo após a sua meteórica
ascensão até ao trono celeste. É, de facto, como rosa de vento, orvalhada de doces brisas, que
Ámon desabrocha para a Primavera da popularidade na região tebana de Ermant. Esta teoria é,
contudo, contestada por uma fracção oponente, a qual defende que Ámon, na realidade,
floresceu na mitologia egípcia enquanto um dos membros da Ogdóade de Hermopólis, formando
assim com Amonet, sua parceira feminina, um dos quatros casais que a constituíam. Nesta
representação, Ámon e a sua esposa incarnam os princípios primordiais, suspensos nos braços da
escuridão, que se transfiguravam num hipotético dinamismo criador. A introdução de Ámon na
região tebana ofereceu-lhe uma inaudita ascensão no seio da Ogdoáde, ao indigitá-lo líder dos
deuses que a formavam.
Independentemente das dúvidas que,
quais planetas perdidos no Universo da
História, orbitam em torno da fulgurante
estrela que exaltara o nascimento de
Ámon, é certo que este deus manteve-se
cativo do cárcere do anonimato até ao
Império Médio. Com efeito, a partir da XII
dinastia, o seu culto desenvolve-se de
forma
surpreendentemente
célere,
permitindo a Ámon ser consagrado soberano incontestável do panteão egípcio. Despindo a
mortalha de nuvens que obliterava o seu rutilante corpo de Sol, Ámon inundou de luz as almas
dos monarcas egípcios que, em retribuição, permitiram que o sublime pulsar do coração da
eternidade entoasse até ao seu atroz eclipsar, a maviosa sinfonia composta pelo doce epíteto do
deus criador. Assim, em Karnak foram edificados templos, cujo esplendor conquistou o tempo e
desafiou a morte. Concomitantemente, o faraó torna-se filho carnal de Ámon, proclamando-se
assim emissário dos deuses entre os homens e vice- versa. Em Tebas, cidade cuja cosmogonia
combina elementos oriundos de Hermopólis, Heliópolis e Mênfis, Ámon tange no doce harpa do
coração da doce deusa Mut a harmoniosa melodia do amor. Com ela e com Khonsu, fruto dos
seus esponsais, formará uma poderosa tríade. Na qualidade de deus patrono da capital egípcia
(Tebas),
Ámon
é
coroado
regente
dos
deuses.
Contemplando a surpreendente ascensão ao trono dos céus do agora prestigiado deus criador, o
clero abraça a resolução de talhar na sua coroa de luz a jóia rara de uma teologia apta a exaltar
o fastígio da sua soberania, facto facilmente constatável através da leitura e análise do seguinte
mito. Canta a lenda que a serpente Kematef, ou seja, “a que cumpre o seu tempo”, emergiu de
Nun, o excelso oceano de energia primordial, no local exacto da cidade de Tebas, brindando os
céus com o nascimento de Irta, isto é, “aquele que fez a terra”, para de seguida desbravar o
paraíso
indómito
dos
sonhos.
Por seu turno, Irta, sublime ourives da Criação, converteu as trevas do nada no sumptuoso
tesouro do Universo, principiando por esculpir a terra, eterna barca de rubis navegando nos
mares de pérolas negras do Infinito e, acto contínuo, os já citados oito deuses primordiais que se
dirigiram a Hermopólis, a Mênfis e a Heliópolis para sonharem o esplendor da luz divina que do
áureo corpo do Sol se desprendia (Ptah e Atum). Traídos pela sua obra colossal, que no decorrer
da sua concepção todas as suas forças havia furtado, as oito deidades retornaram a Tebas, onde,
à semelhança de Kematef e Irta, saborearam as nascentes de fruição espiritual que brotavam do
éden das quimeras. No cosmos deste mito, a constelação de Ámon brilhou enquanto ba (poder
criador) de Kematef, o que cimentou a sua posição fautor das maravilhas da Criação.
Gradualmente, Ámon fundiu a sua identidade com a de Ré, senhor de Heliópolis, concebendo
assim a deidade Ámon- Ré, suprema incarnação do astro- rei. Esta conotação solar do deus
tebano é enfatizada pelos seus adoradores: “Tu és Ámon, tu és Atum, tu és Khepri”, numa clara
oblação às inúmeras metamorfoses vividas pelo deidade solar, principiando pelo seu derradeiro
mergulho no oceano do horizonte, enquanto Sol poente (Atum), até à sua ressurreição sob a
forma de Sol nascente (khepri).
Conquistando igualmente aparência e funções de Min, deus da fertilidade,
Ámon, agora, Ámon- Min, incarna os elementos primordiais da Criação. De
facto, algumas das primeiras representações de Ámon em Karnak, datadas do
início da XII dinastia, representam o deus tebano, enquanto fruto da sua fusão
com Min. Através da associação ecléctica às mais proeminentes deidades do
panteão egípcio (Ré, Ptah e Min), Ámon conquista a dádiva do poder,
inevitavelmente depositada no sumptuoso altar de sua alma iluminada,
bordando nas sedas consteladas que velam a etérea silhueta do Universo a
poesia da sua sublimação, enquanto divindade nacional, primordial e
demiúrgica. Durante o reinado de Akhenaton, em meados do séc. XIV, o deus
tebano é alvo da perseguição do regente, quiçá numa represália contra o
intimidatório poder do clero amoniano, que aumentara proporcionalmente ao prestígio da deidade
em questão. Após uma noite de cerca de quinze anos, uma aurora adornada de paradoxos e
controvérsias canta a ressurreição do Sol, que uma vez mais se apodera do trono dos céus, sob a
forma de Ámon. Este converter das trevas na luz deve-se à alquimia secreta de um único faraó:
Tutankhámon
(reinado:
13371348
a
.
C.).
Um orvalho cristalino, eivado de mil enigmas, perla a rosa da fortuna, em cujas pétalas repousa
o simulacro incerto do príncipe Tutankháton, espírito isento de origens concretas. Teria o futuro
faraó despontado dos braços de Akhenaton ou do seio de uma família nobre? Um vórtice de
conjecturas enlaça igualmente o significado do seu nome, sendo “ imagem viva de Áton” ou
“poderosa é a vida de Áton” as traduções mais credíveis. Após a extinção de Akhenaton, o trono
do Egipto oferece-se ao olhar hesitante de Tutankháton, uma criança de apenas nove anos, que,
contudo, havia já desposado a terceira filha do faraó falecido. Inebriado pelo fausto de jogos e
festas, enclausurado num débil esboço de uma personalidade esbatida, Tutankháton prostra-se
diante dos conselhos de um preceptor, possivelmente, o alto- dignitário Ay, ignorando as ferozes
querelas entre os partidários de Ámon e de Áton, cujo fulgor torna-se num sorriso da heresia.
Gradualmente, a influência do clero enleia, irreversivelmente, o ingénuo jovem, depositando na
sua alma ainda perfumada pela infância, o desejo de retornar ao seio da primordial religião,
tecida em torno de Ámon. Por conseguinte, o jovem altera o seu nome para Tutankhámon,
entregando cada suspiro do seu império aos lábios de nácar do politeísmo. Desta forma, no
regaço de seu reinado o compasso do tempo esculpiu o sepulcro da excelsa “Cidade do Sol”, cujo
fulgor foi extinto com o fito de restituir a soberania à olvidada cidade de Tebas, no seio da qual o
faraó se reinstalou, concedendo, uma vez mais, imensuráveis poderes aos sacerdotes que se
prostravam diante do divino simulacro de Ámon. Submissamente, todos aqueles que haviam
ornado de vida a quimérica cidade de Akhenaton seguiram a família real, entregando Armana aos
nefastos braços da decadência. As carícias letais do vento árido arrebatou o fastígio dos templos
e palácios, resumindo-os a lúgubres escombros, no coração da areia enclausurados. Somente
após 3000 anos, a alma desta cidade foi enfim libertado do seu
lúrido cárcere.
Intoxicado pelo incenso celestial queimado sobre a cidade de
Tebas, Tutankhámon não empreendeu qualquer campanha
militar, impedindo assim uma ascensão do Egipto no plano
internacional. Privado do seu antigo poder, o exército egípcio
entrega-se aos braços da decadência. Na realidade, somente a
contínua vigília de Horemheb, a quem Tutankhámon havia
entregue plenos poderes, impediu toda e qualquer invasão do
território egípcio. Este general encontrava-se deveras distante
da imagem de soldado grosseiro e rude que inúmeras vezes lhe é atribuída na actualidade. Tratase, na verdade, de um escriba, um letrado, cuja alma se encontra escravizada pelo amor ao
direito e à justiça. Ao completar quinze anos, no ano 6 do seu reinado, a consciência dos seus
deveres fende as pálpebras outrora cerradas de Tutankhámon, Desprendendo-se do torpor da
infância, o jovem faraó principia a mergulhar nos seus ofícios de soberano, recorrendo ao pronto
auxílio de seus mentores Ay e Horemheb, detentores de um poder imensurável, concedido pelo
próprio regente. Surpreendentemente, Tutankhámon lida, habilmente, com a política externa,
solucionando diversas questões pendentes. Simultaneamente, almeja restituir ao Egipto o seu
esplendor estonteante, pelo que ordena a restauração e construção de monumentos e o
levantamento de ruínas. De seu espírito resvalaram rasgos de luz, orvalhados pelo gotejar da
independência, que fenderam enfim a sufocante influência que Ay e Horemheb possuíam sobre o
faraó e sobre o destino do Egipto. Porém, quando Tutankhámon completou dezoito anos, a
auspiciosa melodia entoada pela sua fortuna extinguiu-se nas trevas de uma sinfonia de silêncio,
concebida
pelas
lúgubres
carícias
da
morte...
Intrigados com tão suspicaz falecimento, os egiptólogos lançaram-se numa desesperada procura
pela verdade, já sepultada entre as valsas do tempo. Por fim, após um inexaurível rol de
pesquisas e investigações, uma autópsia realizada à múmia do faraó concedeu-lhes o fulgor da
solução que tanto haviam cobiçado: uma fractura na base do crânio de Tutankhámon
comprovava que este havia sido, brutalmente, assassinado. Porém, que mãos cruéis e isentas de
compaixão haviam desferido o golpe fatal que oferecera aos lábios sequiosos da morte o travo da
vida de Tutankhámon? Os sacerdotes tebanos, movidos pelo temor de que o regente, agora livre
igualmente da sua influência, abraçasse os devaneios de Akhenaton? Ou aquele que queimara o
incenso da sua vontade sobre o débil altar da alma de Tutankhámon, submetendo-a aos seus
caprichos e alentos: o divino- sacerdote Ay, tornado mais tarde em sucessor do faraó falecido? A
verdade oferece-se ao olhar daqueles que pressentem os silvos das conjecturas, em cujo regaço
quase sentimos o toque do sangue do jovem faraó tingir as mãos do ambicioso Ay. Na realidade,
sobre a imagem de Tutankhámon baila um inexorável paradoxo, delineado pela imensurável
fama que este insigificante faraó alcançou na actualidade. Indemne à acção dos inúmeros
saqueadores, o seu túmulo, descoberto em 1822 por Howard Carter, derramou sobre a alma
perplexa da humanidade a fragrância do fausto e fastígio do Antigo Egipto. Jamais houve uma
descoberta mais preciosa do que a do túmulo de Tutankhámon. A grácil beleza dos móveis e as
suas obras de arte ultrapassaram tudo o que até então fora encontrado no Egipto. Graças ao
túmulo do jovem faraó, o único encontrado intacto, a cultura egípcia atraiu muitos mais
admiradores do que no passado; admitiu-se que esta cultura havia exercido sobre os povos
vizinhos uma influência muito mais profunda do que então se cogitara. Ao contemplarem-se as
excelsas riquezas que um faraó considerado verdadeiramente irrelevante, cujo reinado
prolongou-se por um escasso período de tempo, levava para a sua derradeira morada, calcula-se
o esplendor que brincaria nos túmulos de poderosos faraós como Tutmés III, Amenófis II, Seti I e
Ramsés II.
No paraíso de seu reinado, brotou a cobiçada fonte da ressurreição,
onde Ámon, outrora cativo do sepulcro do esquecimento, saciou a sua
sede de vida. Durante cerca de meio século, mais precisamente de
1000 a.C. até 525 a.C., data da invasão persa, a soberania da
sumptuosa cidade de Tebas não foi senão dança ritmada da melodia
de luz reflectida pelos cristais de Sol, que no olhar de uma
magnificente dinastia de mulheres haviam esculpidos pela benção do
astro- rei. A estas mulheres, intituladas “Adoradoras Divinas” ou, em
egípcio, duat- netjer, o faraó havia concedido, sem hesitar, um poder
espiritual e régio sobre a principal cidade santa do Alto Egipto.
Sacerdotisas iniciadas nos mistérios de Ámon, a quem se uniam em
esponsais divinos, com o fito de lhes prestarem um culto ornado de
um certo erotismo, as Adoradoras Divinas eram regra geral provenientes de famílias nobres. Em
diversas representações, contemplamos o rito que permitia à dama despertar na carne e espírito
do deus tebano os ardores da paixão. Sob a liderança desta casta de mulheres viviam
sacerdotisas, contempladas como o “harém de Ámon”, a quem era também confiada a
incumbência de semear o desejo no peito do rei dos deuses e preservar a harmonia entre os céus
e a terra. Enquanto esposas de Ámon, as Adoradoras divinas, não obstante não serem coagidas a
celebrar votos de castidade, eram privadas não de vincular um casamento humano, mas também
de ter filhos. De facto, a herdeira do seu cargo era a sua filha espiritual, elevada a este estatuto
através
da
adopção.
Consagrando-se exclusivamente ao culto da deidade, as Adoradoras Divinas, excelsas
instrumentistas que na harpa do cosmos fazem vibrar a energia celestial, garante da vida
terrena, embora não fossem reclusas, usufruíam da maior parte do seu tempo no interior do
templo de Ámon em Karnak, onde todos os dias persuadiam o deus a exprimir de forma benéfica
o
seu
poder
criador.
Personalidades proeminentes no seio da cidade tebana, as Adoradoras Divinas eram
incontestáveis proprietárias de casas, terrenos, servidores e diversos outros bens que
contribuíam para a sua comodidade e autonomia.
Detalhes
e
vocabulário
egípcio:
Amonet- Deusa constituinte da Ognóade de Hermopólis. É frequente depararmo-nos em Tebas
com efígies suas, enquanto versão feminina do deus Ámon, papel geralmente concedido a Mut.
Diversos textos da dinastia ptolomaica apresentam-nos Amonet ou Amaunet como incarnação do
vento do Norte, a mãe primordial que “é pai”, isto é, aquele que sem intervenção masculina se
encontra apta a conceber os seus filhos. Algumas fontes revelam que Amonet deu à luz Ré, ou,
segundo outras vozes, Ámon, enquanto personificação de Ré. É exequível aventurar que o culto
dedicado
à
deusa
ultrapassa
o
da
sua
versão
masculina
em
antiguidade.
Identificamos Ámon nas diversas representações que o honram, como um homem ostentando
sobre a sua cabeça uma coroa com duas plumas (kachuti) e em suas mãos (consoante as
circunstâncias em que é invocado) o signo da vida (ankh), uma cimitarra (khopech) ou o ceptro
uase, entre outros. O seu trono assenta sobre uma esteira que, por seu turno, se encontra sobre
um
pedestal
dotado
dos
símbolos
da
deusa
Maet.
Ámon, “aquele cuja natureza escapa ao entendimento”, é representado por um carneiro de
chifres curvos ou, pontualmente por um ganso. Com frequência, as díspares formas de animais
adoptadas por um deus confere-lhe o poder para se tornar irreconhecível ou apto a ser
confundido com outra deidade. A imagem do carneiro simboliza o conjunto das forças criadoras,
quer aquelas incarnadas pelo Sol, quer aquelas que permitam garantir a reprodução dos seres
vivos.
“Tu és o deus oculto (Ámon), Senhor do silencioso, que acorre ao apelo do humilde, tu que
dás alento a quem dele é privado” (Estela de Berlim).
ÁTON: Saciados os céus no faustoso festival de luz que exaltava o
excelso palácio do dia, o Sol abdica do seu eterno trono de
turquesas e, velando a sua mística silhueta d’ ouro com as exóticas
sedas do poente, estira-se languidamente no lendário tálamo do
horizonte, preludiando a noite que já brotava no Infinito. À
semelhança de tantas outras civilizações da Antiguidade, os
egípcios veneravam o Sol como a mais importante deidade da sua
inebriante religião, prestando-lhe um culto sincero e apaixonado
enquanto deus primordial, ourives da criação que nos primórdios da
existência talhara a jóia do universo, fonte da vida e alimento
perpétuo.
No panteão egípcio, inúmeras são as deidades que incarnam o
sublime regente dos céus, e, em particular, o seu rutilante ceptro de
luz ou a força criadora que em seu extasiante esplendor se renovava, como é o caso de
Horakhti, “o Hórus do Horizonte”, identificável como um homem de cabeça de falcão, sobre a
qual repousa um disco solar; ou Ámon- Rá, deidade venerada em Tebas, cujo fastígio de luz,
cálice solar derramado ao florir da aurora, sublimava o firmamento e conduzia a humanidade
até à apoteose divina. Todavia, o desejo de se designar o astro- rei em si ou de evocar o disco
solar somente era satisfeito através do pronunciar de uma única palavra: Áton. Enquanto
variante aperfeiçoada de Ré- Horakthi, Áton era já alvo de um culto modesto mesmo antes da
radical subversão de Akhenaton. Na realidade, as primeiras menções ao seu nome, enquanto
designação do globo luminoso, datam do Antigo Império, podendo ser encontradas nos “Textos
das Pirâmides”. Porém, é somente na 18ª dinastia, mais exactamente no reinado de Amenófis
III, que Áton torna-se no centro de um desafio a toda a realidade conhecida, ao satisfazer o
desejo deste faraó e, de seguida, do seu filho Amenófis IV, de centrar a religião egípcia num
único deus. Mas que caminhos trilhou Áton até alcançar o estatuto supremo, ou seja, o de
divindade dinástica? Ao longo de dezassete anos, a alma do Egipto ardeu no cálido e
conturbado vórtice de uma revolução, fruto de paixões férvidas e imensuráveis, concebidas por
um coração eivado de poesia e espiritualidade: o de Akhenaton, “O Herético”, faraó cujo
reinado se encontra envolto num obscuro véu de densos enigmas, propiciados pela escassez
de
materiais
históricos
concretos.
Fruto da união entre o faraó Amenófis III e a rainha Teie, Amenófis IV galgou as veredas da
infância e os labirintos da adolescência entre o fastígio do imponente palácio tebano de
Malgatta, onde se submeteu a uma educação rigorosa, que visava despertar e esculpir,
diligentemente, não somente as suas faculdades intelectuais, como as suas capacidades
físicas. O seu mentor, Amenotep, filho de Hapu, inculcou no espírito algo sonhador do jovem
príncipe o respeito pela Luz Criadora, cujo fulgor animava igualmente os deveres sagrados
inerentes ao trono, que Amenófis IV ocupou em 1364 a . C., quando detinha apenas quinze
anos. A seu lado, resplandecia uma jovem de beleza esplendorosa, Nefertiti, a quem, todavia,
se havia unido por imposição de dirigentes egípcios, que ignoravam a devastadora paixão que
entrelaçaria, posteriormente, as almas dos dois soberanos. Esta jovem rainha, Nefertiti, cujo
nome significa “a bela veio”, pertencia, segundo a opinião de diversos historiadores, a uma
famigerada família de um poderoso elemento da corte, versão contestada por alguns que
afirmam que a soberana era na realidade filha de Amenófis III.
Inúmeras dúvidas adornam o exórdio do reinado de Amenófis IV, uma
vez que se coloca a hipótese deste haver governado em simultâneo
com seu pai, probabilidade contestada por uma fracção da comunidade
egiptóloga. Desta forma, segundo a hipótese escolhida, observa-se uma
variação de dados e datas. No quinto ano do seu reinado, o jovem
soberano, agora com vinte anos, entrega a sua alma ao deus solar Áton,
considerado a fonte de toda a vida, chegando mesmo a renegar o seu
nome, com o fito de tomar a designação de Akhenaton, ou seja, “espírito
eficaz para Áton” ou “aquele que agrada a Áton”, numa clara
homenagem a esta deidade criadora. O seu fulgor fendeu o fausto ostentado pelas demais
divindades egípcias, cujos cultos seculares Akhenaton desejou dilacerar, prostrando-os diante
da luz que o enfeitiçava. Na realidade, semelhante politeísmo havia sido gerado no exórdio dos
tempos pré-históricos, quando o Egipto se compunha de inúmeros reinos exíguos, cada um
dos quais protegido por um deus próprio e distinto, geralmente, representado sob a forma de
um animal. Todavia, muito cedo os Egípcios principiaram a venerar o Sol como uma deidade, à
qual concederam a denominação de deus- sol Rá, uma soberano supremo com o qual
gradualmente os deuses locais foram-se identificando e fundindo. Desta forma, o lógico ultimar
de tão prolixa evolução deveria ter sido a assimilação dos díspares deuses locais numa só
divindade. Porém, tal conclusão mostrar-se-ia deveras inconveniente para os diversos
sacerdotes, sustentados pelas oferendas realizadas em honra das inúmeras divindades
egípcias, cujo culto se realizava igualmente nos luxuosos templos, que os albergavam.
Ao tomarem Tebas como sua capital, os faraós tornaram Ámon no mais prestigiado dos deuses
egípcios, concedendo aos sacerdotes que lhe prestavam culto um poder imensurável, que
atingiu o seu apogeu, quando esta divindade se fundiu com o deus- solar Ra. Na verdade, não
era contra Ámon, em concreto, que Akhenaton se batia, mas sim, contra a poderosa hierarquia
religiosa tebana , que principiava a desafiar, embora subtilmente, a autoridade real. Desta
forma, Akhenaton adopta o título de sumo- sacerdote de Heliópolis, denominando-se assim de
“o maior dos videntes”, num acto que o prendeu à mais antiga expressão religiosa, considerada
mais pura do que a religião tebana. Porém, é em Carnaque, templo dedicado a Ámon, que
Akhenaton esculpe a sua visão, ordenando aos escultores que concebessem um ser singular,
delineado num vórtice de características masculinas e femininas, que se reflectem, entre
outros, num rosto deformado e num ventre saliente evocando uma fecundidade, que pretendia
ilustrar que o faraó é mãe e pai de todos os seres.Após ter defrontado uma vez mais os
sacerdotes tebanos ao retirar-lhes a gestão de intrínsecos bens temporais, inerentes ao trono
do Egipto, Akhenaton reserva-lhes , no sexto ano do seu reinado, um novo sobressalto, ao
tomar a decisão de criar uma nova cidade, desenhada na luz sublime de Áton, abandonando,
deste modo, Tebas. O local eleito, “revelado pelo próprio Áton”, repousa na orla direita do rio
Nilo, entre Mênfis e a antiga capital dos faraós, sendo actualmente conhecido pelo nome de
Tell El- Amarna.
Nesta cidade, construída com uma rapidez surpreendente, Akhenaton
manda erigir um palácio que o acolha e um tempo onde lhe seja
possível prestar culto à luz que o inunda. O esplendor quase celestial
de ambas as construções desvaneceu-se no compasso do tempo,
restando agora apenas uma ideia prófuga a seu respeito. O faraó
concedeu à sua cidade o epíteto de “Cidade do Sol”, jurando jamais
abandoná-la, promessa que cumprir até ao eclipsar da sua existência.
Diversos funcionários administrativos, escribas, sacerdotes, militares,
artífices e camponeses desprenderam-se da sua antiga cidade para
seguirem, obedientemente, o faraó. A cidade torna-se acolhedora,
detendo largas avenidas, zonas verdejantes, parques sublimes e mansões nobiliárias, que
abraçam a divina luz solar. Por seu turno, o referido templo erguido em honra de Áton revela-se
díspar dos demais santuários construídos ao longo da décima oitava dinastia, devido à
ausência de salas veladas pela escuridão, onde os cultos eram celebrados, quase
secretamente. Em contraste, possuía inúmeros pátios brindados pela luz, que conduziam ao
altar do deus solar, onde eram depositadas dádivas sumptuosas. Áton, deus de amor e luz, era
geralmente representado sob a forma de um disco solar, ornamentado na maioria das vezes
com um uraeus, símbolo de soberania, e cujos raios resplandecentes terminavam em mãos
que
agraciavam
a
humanidade
com
carícias
celestiais.
Teoricamente, o culto dedicado àquele que se convertera “no pai dos pais e na mãe das
mães”, facultava a todos o acesso ao Divino, já que para adorar Áton, bastaria dirigir-se ao
magnificente soberano da luz. Contudo, tal ideologia sagrou-se numa utopia impressiva,
terrivelmente aparada da realidade, uma vez que a essência de Áton persistia num paraíso
proibido aos simples mortais, aos quais era oferecida a presença efectiva do deus no céu, mas
não a compreensão do mesmo. Como tal, tornou-se vital a existência de um intermediário, que
simultaneamente incarnasse as luzentes manifestações do deus único e permitisse ao mais
comum dos mortais com ele comungar. Ocupando este intrínseco papel de mediador,
Akhenaton converte-se então no único profeta do seu deus e seu representante junto dos
crentes. Estes, por seu turno, prestavam culto a Áton através de uma oblação algo inusitada,
que se concretizava numa oração pronunciada em casa, diante da estátua do rei. Na realidade,
não se contentando em reformular a religião egípcia, Akhenaton introduziu no panteão artístico,
além das insólitas silhuetas andróginas e de ventres salientes que traiam um estado de
gravidez perpétuo, crânios alongados e rostos deformados, que se distanciavam deveras dos
ideais cultivados anteriormente.
Nefertiti permanece imutavelmente ao lado do seu esposo, a quem dedica um amor
imensurável, apenas comparável à devoção que a leva a prostrar-se diante da magnificência
de Áton, a cujo culto se entrega, literalmente. Tornada num fascinante símbolo de beleza, a
rainha exerce uma vital função religiosa, sendo “aquela que faz repousar Áton com a sua bela
voz e as suas belas mãos, que seguram sistros”. Esta soberana,
cujas responsabilidades políticas são inegáveis, oferece porém o
seu coração ao amor que nutre pela sua família, que, no espírito
de Akhenaton, é um estigma da vida divina., cujo esplendor
merece ser imortalizado por artistas. Desta forma, os regentes
concedem-nos, em diversas representações, a prerrogativa de
perscrutarmos o seu lar, onde o enlace entre um homem e uma
mulher é contemplado como um enlevo sagrado. Num baixorelevo, repleno de ternura, Nefertiti, sentada nos joelhos do rei,
segura uma das suas seis filhas; noutro, é esculpida a dor ímpar
que devastou o casal régio, prostrado diante do féretro da sua
segunda filha, perecida em consequência de uma prolongada enfermidade. Sacerdote e
profeta de uma deidade nimbada por um halo de energia que concebe a vida, Akhenaton inicia
determinados dignitários nos sacros mistérios de Áton, entregando-se, literalmente, a esse
papel de mestre espiritual. Concomitantemente, emprega cada lampejo das sua forças à
concepção de um sublime hino, que muitos consideram, flagrantemente, semelhante aos
Salmos de David, nomeadamente, ao salmo 104.
Hino ao Sol
Bela
é
a
tua
alvorada,
oh
Áton
vivo,
Senhor
da
eternidade!
Tu
és
brilhante,
tu
és
belo,
tu
és
forte!
Grande e profundo é o teu amor; os teus raios cintilam nos olhos de todas as criaturas; a tua
pele
espalha
a
luz
que
faz
os
nossos
corações
viver.
Tu encheste as Duas Terras [nota: Akhenaton refere-se ao Egipto] com o teu amor, oh belo
Senhor, que a ti mesmo te criaste, que criaste a Terra inteira e tudo o que nela se encontra: os
homens,
os
animais,
as
árvores
que
crescem
no
chão.
Levanta-te para lhes dar vida, pois tu és a mãe e o pai de todas as criaturas. Os seus olhos
voltam-se para ti, quando ascendes no firmamento. Os teus raios iluminam toda a Terra; o
coração de cada um enche-se de entusiasmo, quando te vê, quando tu lhe apareces como seu
Senhor. Quando te pões no horizonte ocidental do céu, as tuas criaturas adormecem como
mortos; obscurecem-lhes os cérebros, tapam-se-lhes as narinas, até que de manhã se renova
o
teu
brilho
no
horizonte
oriental
do
céu.
Então, os seus braços imploram o teu Ka, a tua beleza acorda a vida e renasce-se! Tu
ofereces-nos os teus raios e toda a Terra está em festa; canta-se, toca-se música, soltam-se
gritos de alegria no pátio do castelo do Obelisco , o teu templo de Akhenaton, a grande praça
que
tanto
de
agrada,
onde
te
oferecem
alimentos
como
homenagem...
Tu és Áton, tu és eterno... Tu criaste o longínquo céu para aí te elevares e veres as coisas que
criaste. Tu és único e, no entanto, dás vida a milhões de seres, é de ti que as narinas recebem
o sopro da vida. Quando vêem os teus raios, todas as flores vivem, essas mesmas que
crescem no chão e se abrem quando tu apareces. Com a tua luz se embriagam. Todos os
animais se levantam de um salto, os pássaros que estavam nos seus ninhos abrem as suas
asas, para fazerem preces a Áton, fonte da vida.
Convidemos, por instantes, este cântico devoto a adornar a nossa
imaginação, permitindo-nos pressentir a fé ardente com que era
entoado, entre o vibrar das cordas de uma harpa, que brindava cada
alvorada e cada crepúsculo com a sua alma melódica. No exórdio das
drásticas alterações religiosas, Áton ocupava um lugar de supremacia
diante dos outros deuses, com quem, porém, coexistia. Somente após
longos confrontos com os sacerdotes, Akhenaton ordenou enfim a
supressão de todas as divindades egípcias, à excepção do seu deus-
solar, ordenando que os seus nomes fossem apagados dos templos, num linchamento
espiritual que principiou com Ámon. As razões e modo de aplicação desta estratégia religiosa
encontram-se todavia sepultados sobre os escombros da obscuridade. Apesar da persistência
febril do soberano, as divindades que ele tentara aniquilar permaneceram vivas no interior das
casas de inúmeros egípcias, que continuaram a prestar-lhes culto, secretamente. De súbito, a
alma egípcia colheu do reinado de Akhenaton uma rosa perlada pelo sacrilégio, que havia
florescido de um gesto talhado num atroz equívoco: a supressão de Osíris, cujo culto era
nimbado pela irresistível fragrância da imortalidade, quimera que escravizava o coração dos
Egípcios. Desafiando a reconfortante noite de uma tradição secular com a rutilante aurora de
uma herética subversão, Akhenaton concede ao seu deus a prerrogativa de usurpar os
atributos e incumbências do venerado Osíris. Por conseguinte, em todas as representações
funerárias datadas deste período de tempo, o personagem principal não é senão Akhenaton,
mensageiro do deus único tanto na terra como no Além.
Porém, a récita de indignação que rasgava o peito Egípcio esbateu-se em cânticos de
submissão, elevados mesmo no instante em que o soberano proibiu o pronunciamento da
palavra “deuses”. Eclipsada pela celestial visão da “Cidade do Sol” e pelo divino alento de
enaltecer o esplendor de Áton, a liderança do Egipto tombou, negligentemente, numa remota e
obscura lacuna da alma do regente, de cujas mãos sonhadoras resvalaram um imensurável rol
de erros. Abominando conflitos ou guerras, Akhenaton adopta uma política de passividade,
crendo que o prestígio do Egipto bastará para preservar o equilíbrio no Próximo Oriente. Desta
forma, desvanece o halo de protecção que o faraó deve manter em torno dos seus aliados,
permitindo que gradualmente o império formado por Tutmósis III se desintegre nas mãos do
poderoso povo hitita. Embora tenha já perdido a maioria dos seus vassalos, corrompidos ou
ameaçados, Akhenaton continua a ignorar os desesperados pedidos de auxílio provindos
daqueles que ainda lhe são fiéis. A morte de Ribaldi, príncipe da Síria, que pagara com a sua
vida semelhante fidelidade não rasgam tão denso véu de passividade. Esta ausência de
qualquer reacção por parte do faraó fá-lo perder os portos fenícios, acentuar a revolta da
Palestina, permitir a atroz chacina que levou ao desaparecimento de Mitanni, aliado do Egipto.
O mutismo de Akhenaton talha o brilho feroz das armas dos hititas e assírios, tingidas do
sangue de aliados egípcios. Como não conceder à atitude do regente o epíteto de deplorável?
Como não condenar o seu reinado, conspurcado pelo travo do sangue? Porém, é possível
argumentar a seu favor: talvez os relatórios que repousavam nas mãos fossem incompletos,
adulterados ou mesmo falsos. Ter-se-ia ele, de facto, apercebido, da aterradora gravidade da
situação? A luz de Áton tornou-se, para os egípcios, num fragmento das trevas, que invadiam,
gradualmente, o seu pais, já fustigado por graves perturbações económicas, florescidas da
ausência de tributos pagos por aliados. Os inimigos de Akhenaton fizeram ressoar a sua cólera
nos murmúrios do rio Nilo, bordando-a, de seguida, num apelido significativo: “O Herético”. Na
realidade, somente Akhenaton e um exíguo grupo de fiéis entregavam a sua alma à luz de
Áton, deidade incapaz de silenciar os clamores tentadores de Osíris, de cujos braços o povo
egípcio
não
se
ousava
desprender.
O Sol do seu reinado extinguiu-se num céu de enigmas. Que sucedeu a
Nefertiti após o ano 15 do reinado de Akhenaton? Ter-se-á oposto,
igualmente, à conduta de seu esposo ou terá entoado cânticos dedicados a
Áton até ao seu derradeiro suspiro? Crê-se que talvez a rainha tenha perecido
no ano 13 ou 14 do reinado de Akhenaton, dilacerando o sopro de vida que
ainda brincava no semblante do soberano. A sua morte perde-se na fragrância
do desconhecido, suspeitando-se apenas que não tenha sido sepultado no
túmulo familiar que mandara escavar em Amarna e onde já jazia o corpo da
sua segunda filha. A “Cidade do Sol”, sublime oferenda a Áton, foi
abandonada à aridez do deserto, sendo considerada como o fruto da heresia.
Detalhes
e
vocabulário
egípcio:
Amarna, cidade localizada na margem direita do Nilo, mais exactamente a cerca de 280 km
do Cairo, conquistou o tempo, tornando-o escravo dos seus caprichos, a fim de legar à
eternidade algumas das mais magníficas obras de arte egípcia, como é o caso do famigerado
busto de Nefertiti, encontrado numa oficina de escultura, e que hoje deslumbra visitantes de
todo o mundo, no Museu Egípcio de Berlim. De resto, a luzente “Cidade do Sol” foi igualmente
testemunha da subversiva arquitectura dos sumptuosos templos erigidos em honra de Áton.
Com efeito, estes extasiantes edifícios a céu aberto contrastam terrivelmente com a
arquitectura tradicional característica dos templos dedicados a
Ámon.
MAET: Verdade... Etérea harpista de Sol que ritualiza em seu
mavioso tocar o florir do dia numa Primavera de Luz, mera melodia
de manhãs intemporais, cuja harmonia divina recria a ordem
universal, inebria a humanidade com a sabedoria ancestral, semeia
no jardim do mundo a rosa da justiça e coroa a árvore da vida com
as
excelsas
flores
do
equilíbrio
cósmico...
No Antigo Egipto, longe de constituir um conceito trivial isento de
sentido ou alma, quiçá uma utopia impressiva banalizada pelo
tempo, a "Verdade" surgia como o mais sublime caminho para a
fruição espiritual. Encarnada pela deusa Maet, a verdade é assim
sinónimo de rectidão, lealdade, justiça, em suma, de todos os
princípios básicos que asseguram não apenas o equilíbrio cósmico, mas igualmente o
aperfeiçoamento intelectual e espiritual do indivíduo. É, por conseguinte, graças ao equilíbrio
oferecido por Maet que o mundo organizado mantém a sua integridade e o Universo conserva
a harmonia que lhe fora concedida no acto da Criação. Maet parece suspirar-nos que a
verdade, a vida e o conhecimento deveriam constituir a nossa religião primordial, que a Justiça
deveria por nós ser eleita dogma universal e o que bem e a liberdade deveriam ser abraçados
como a base das nossas preces. A deusa Maet, simultaneamente filha e mãe de Rá, num
eterno reinventar de um cosmos renascido, era representada como uma jovem elegante,
portadora de uma cabeleira que acariciava graciosamente os seus ombros. Na sua cabeça, a
deusa ostentava uma pena de avestruz, empregue igualmente pelos egípcios de forma isolada,
como símbolo da deusa Maet (nome próprio ) ou do conceito de verdade em si (nome comum).
Em suas mãos, a deusa acolhe alguns dos mais eficazes símbolos profilácticos, como é o caso
do uase ou uadj, ceptros também empunhados por diversas outras deidades do panteão
egípcio.
Principio sagrado entre os egípcios, Maet consistia num rito incontornável não apenas para os
simples mortais, mas também para os faraós e até mesmo para os deuses. Com efeito, a
maviosa melopeia entoada por esta deusa era brisa sagrada que alimentava, inebriava e
renovava os sentidos das restantes deidades, permitindo-lhes assim preservar a harmonia
universal que ela encarna. O culto diário prestado aos deuses conhecia o seu apogeu com a
oferta de Maet. Relevos de determinados templos tardios permitem-nos conquistar o tempo e,
na mais sagrada lacuna da Imaginação, reviver as intrínsecas cerimónias do ofertório, legadas
à eternidade nas paredes do mais íntimo dos santuários. Extasiados, quase abraçamos a
prerrogativa de encarnar o sacerdote oficiante, eterno representante do faraó, que num rito
pleno de magia oferece Maet, sob a forma de uma figurinha transportada num pequeno cesto,
à deidade local, saciando assim a sua sede no cálice da ordem Universal, que o entoar de um
hino derrama docemente: "(...) Salve a ti, que estás provido de maet, autor do que existe,
criador do que és. (...) Tu surges com Maet, tu unes os teus membros em Maet (...)". É de facto
graças a este ritual de uma beleza inefável que Maet, não residindo em nenhum templo
específico, se encontra presente em todos os santuários do Vale do Nilo.
Com efeito, nem mesmo o poderoso Rá, mítico regente dos
deuses, subsiste quando privado do melífluo fruto da Verdade,
pois somente o néctar que dele resvala sacia a sua sede de
harmonia, alimenta o seu esplendor e renova a luz que o nimba
num halo de espiritualidade ("Tu existes porque Maat existe",
como refere um hino). De resto, era igualmente Maet quem se
propunha a confrontar todos os inimigos de Ámon, fulminando-os
com a sua cólera, a fim de jamais permitir que o fastígio do deussolar fosse obnubilado. Não constitui assim qualquer surpresa
constatar a presença de Maet na viagem amoniana. Embora somente ao deus- sol fosse
concedido o apanágio de desfrutar intimamente da companhia de Maet, muitos outros deuses
deixavam-se inebriar pela rima perfeita que a deusa concedia ao sublime verso do cosmos,
como é o caso de Toth, que era com alguma frequência contemplado como esposo (ou por
vezes irmão) de Maet, dada a sua invejável posição enquanto epítome celestial da precisão,
justeza e rectidão. Enquanto Maet zelava pela harmonia celeste, na terra era o regente quem
se encontrava incumbido do dever divino de conservar a ordem social e perpetrar as leis
"maéticas", dispondo para tal de um completo corpo de funcionários, de entre os quais se
destacava o vízir. Na função de garante da ordem moral, da justiça e da verdade, o vízir, chefe
do poder executivo e de toda a área administrativa, abraça o epíteto de "Sacerdote de Maet",
ostentando como insígnia uma pequena figurinha da deusa, geralmente esculpida em lápislazuli.
Como aqueles que coroavam o céu da humanidade com o arco-íris da liberdade, da verdade,
da justiça e da equidade dos sentidos, os faraós não só não dispensavam maet no seu
quotidiano, como também nos seus nomes reais, incluindo assim a deusa ou o próprio conceito
que ela encarnava nas suas denominações, na ânsia de que assim lhes fosse concedida a
eficácia necessária para uma regência próspera. Podemos evocar o exemplo de Hatchepsut,
rainha do Império Novo, cujo pronome não era senão "Maatkaré", ou seja, "Maet é o alimento
de Rá" ou "Maet é o ka (poder criador) de Rá. A sublime praia de Maet, graciosamente formada
pelos mais rutilantes cristais de Sol, oferecia-se a todas as almas náufragas que se
propusessem a brincar nas ondas de sabedoria ancestral do imponente mar do conhecimento.
Para que a espírito algum o acesso a estas águas ornadas de magia fosse negado, os sábios
egípcios (como os faraós Amenemhat I e Hor- djedef, filho do famigerado Quéops, entre muitos
outros) elaboraram os “Ensinamentos”, fulgurantes estrelas de sabedoria destinadas a guiar a
humanidade através da enigmática noite da vida. A leitura destes textos de valor incontestável
permite-nos abraçar os fundamentos da solidariedade, da equidade, da justiça e da
espiritualidade, indispensáveis para a criação de uma sociedade recta, harmoniosa e
subversivamente oposta a isefet, ou seja, ao caos, à desordem, enfim, à pravidade em todos
os seus subterfúgios e formas. Logo, todos devem respeitar aquilo que Maet representa, para
possibilitar o retorno dos fenómenos naturais que garantem a vida e a vitória sobre as forças do
caos
que
pairam
ainda
sobre
a
humanidade.
A presença de Maet, embaixatriz da Verdade e da
Justiça,
revelava-se
vital
para
o
bom
funcionamento do tribunal osírico, uma vez que,
caso privados da sua benção, os defuntos seriam
alvo de um julgamento iníquo e imparcial.
Conduzidos por Anúbis, o deus da cabeça de
chacal, os defuntos compareciam diante do
tribunal de Osíris, onde as suas almas seriam
julgadas, revelando o seu destino. O tribunal
divino erigia-se na "Sala das duas Justiças",
intermediária entre o além e o submundo, rodeada
por 42 demónios (este valor estava relacionado com o número de distritos- 42- que dividiam o
Egipto Antigo). Perante cada uma destas temíveis entidades, o morto deveria declarar-se
inocente de um pecado, resumindo-se estas 42 faltas em algumas categorias distintas:
blasfémia, perjúrio, assassínio, luxúria, roubo, mentira, calúnia e falso testemunho. Para
alcançar a absolvição, os réus deveriam não somente afirmar que haviam alimentado os
esfomeados, saciado a sede dos sequiosos, entregue roupas àqueles que não as possuíam e
concedido auxílio na travessia de um rio a quem não detinha qualquer embarcação, mas
igualmente permitir que o seu coração fosse pesado, uma vez que este representava, para os
egípcios, o cerne real da personalidade, a base da razão, da vontade e da consciência moral.
Desta forma, sobre a vigilância de Anúbis, o coração do defunto (ib) é depositado num dos
pratos de uma balança, confrontando o seu peso com o de uma pena de avestruz, símbolo de
Maet. Esta prova, a que ninguém se pode eximir para aceder ao reino de Osíris, permite
determinar se a alma do defunto se encontra em conformidade com Maet, isto é, se de facto,
nela impera a harmonia oferecida pelo cumprimento das normas morais e espirituais que
regem a sociedade.
Enfim, os resultados seriam registados por Toth, deus da escrita, para, em seguida, serem
comunicados por Hórus a seu pai Osíris, que absolveria o morto, caso os dois pratos se
equilibrassem ou se o seu coração se revelasse mais leve do que a pena. Neste caso, seria
oferecido ao falecido um sublime paraíso, localizado a ocidente, onde as espigas de trigo
elevavam-se a muitos metros do chão e a vida irradiava uma felicidade ímpar e desmedida.
Todavia, a "Grande Devoradora", um misto aterrador de crocodilo, pantera e hipopótamo achase, igualmente, presente em todos os julgamentos esperando, impacientemente, pelo deleite
de tragar todos aqueles, cujo coração detivesse um peso excessivo. Atormentados com a
perspectiva das suas quimeras de ressurreição serem, abruptamente, devastadas pelo
aniquilamento das suas existências, os Egípcios entregavam-se, ao longo das suas vidas, a um
imensurável rol de precauções. Deste modo, com o fito de auxiliarem os mortos na sua
derradeira diligência ao Império dos Mortos, surgiram inúmeras fórmulas mágicas, que,
gradualmente, se reuniram no famigerado "Livro dos Mortos", cujo conteúdo era inculcado num
rolo de papiro (embora anteriormente fosse apenas gravado nos caixões ou nas
paredes)colocado nos túmulos, junto dos cadáveres. Na realidade, inicialmente apenas os
faraós poderiam usufruir das referidas fórmulas de encantamento, mas, mais tarde, estas
proliferaram-se, igualmente, pelos funcionários e sacerdotes mais bem sucedidos, que, assim,
poderiam, enfrentar os inúmeros demónios, emergidos das trevas sob a forma de serpentes,
crocodilos gigantes ou dragões, ao longo de toda a viagem. Porém, devido aos seus elevados
custos, o "Livro dos Mortos" manteve-se inacessível para as classes mais pobres.
Aqueles que o procuravam, poderiam adquirir o "Livro dos Mortos",
totalmente pronto, restando-lhes apenas acrescentar o nome do
proprietário. A crença popular referia que este documento havia sido
concebido pelo próprio Toth, que oferecia aos viajantes o meio de
afastarem-se de um passo em falso. Por exemplo, ao serem abordados
por um crocodilo, os defuntos deveriam pronunciar as seguintes
palavras: "Passa de largo! Vai-te, crocodilo maldito! Tu não te
aproximarás de mim, pois eu vivo de palavras mágicas, nascidas da
força que está em mim!". Porém, fundidos com estas fórmulas, também
foram registados no "Livro dos Mortos" pensamentos dogmáticos, como o apresentado,
seguidamente "O homem deverá ser julgado pela forma como se conduziu na Terra", que
representa uma clara divergência para com os restantes textos, divergência esta que pode ser
explicada pelo facto desta obra não merecer, de todo, o epíteto de homogénea, uma vez que
os seus capítulos acompanharam os díspares estados de evolução das ideologias egípcias.
Com efeito, as partes mais antigas desta obra surgem nas paredes da pirâmide do faraó Unas,
derradeiro soberano da Quinta Dinastia, enquanto que as mais recentes datam do século VII
a.C. Embora não correspondessem já às concepções religiosas dos Egípcios, os textos mais
arcaicos do "Livro dos Mortos" nunca foram retirados do mesmo, graças ao respeito que esta
civilização dedicava a tudo o que pertencia ao passado. Como consequência, esta obra tornouse, progressivamente, num espelho reflector da evolução da religião egípcia.
Detalhes
e
vocabulário
egípcio:
Ao longo de aproximadamente cinco séculos (de 1550 a 1070 a. C.), subsistiu no Antigo
Egipto uma confraria, constituída por homens e mulheres extraordinários, simultaneamente
artesãos e sacerdotes, da qual brotaram muitas das obras- primas da arte egípcia. Esta
confraria, expoente máximo da espiritualidade aliada à criatividade, viveu numa aldeia do Alto
Egipto, interdita a profanos, cujo epíteto verdadeiramente excepcional é merecedor da nossa
atenção: “Lugar da Verdade”, ou seja, “Set Maet”. O eterno cosmos onde a constelação de
Maet reinventava a harmonia da sua luz, de forma a alumiar o universo com uma ordem
espiritual inabalável, ainda se oferece ao nosso olhar, caso visitemos a localidade de Deir elMedina, a oeste de Tebas. Lá, somos tentados a sonhar com todas as obras- primas que a
mão
humana,
orientada
pelo
ritmo
divino,
forjou
e
imortalizou.
Com frequência, deparamo-nos com as palavras Maet e maet escritas de forma
verdadeiramente díspar. Consoante o autor, Maet é apelidada de Maat, Ma-a-at, Majet, Mayet,
Maät, etc. Segundo a fracção mais numerosa de egiptólogos envolvidos nesta altercação,
Maet, ou seja, a grafia empregue neste artigo, é a mais correcta. Porém, iníquo seria não
salientar que egiptólogos tão prestigiados quanto William Hayes e Cyril Aldred optam pelo uso
de
Maat,
grafia
apresentada
no
início
do
séc.
XX.
Na escrita hieroglífica, a deusa Maet surge como uma figura ajoelhada, ostentando a sua
característica pena de avestruz na cabeça e o signo ankh (símbolo da vida) sobre os joelhos.
ANÚBIS: Qual estrela reinventado a imanência da sua luz no cosmos
da imortalidade, onde a mítica constelação da vida se traduzia e renovava
num fulgor eterno, Anúbis (Anupu em egípcio) iluminava a noite do
panteão egípcio enquanto pilar que sustinha o templo de um mito
intemporal
que
prometia
às
almas
a
eternidade.
Escravizados pelo alento de vogarem no regaço da imortalidade,
superando os próprios limites da existência, os Egípcios conceberam a
arte do embalsamamento, que, ao conservar os seus corpos, os arrebatava ao abominável
espectro da deterioração, tal como sugere uma das muitas inscrições talhadas sobre os
caixões: “Eu não deteriorarei. O meu corpo não será presa dos vermes, pois ele é durável e
não será aniquilado no país da eternidade”. Esta arte divina, apta a enfeitiçar o tempo,
tornando-o escravo daqueles que a ela recorriam, era ditada, reinventada e abençoada por
Anúbis, guardião das sublimes moradas da eternidade, Soberano das mumificações e
embalsamamentos, intermediário entre o defunto e o tribunal que o aguardava no Além e
deidade cuja aparência é estigmatizada pelas incumbências de que é investido. Por
conseguinte, e numa flagrante evocação dos cães e chacais que velavam pelas inóspitas e
desérticas necrópoles, esta divindade surge como um animal da família dos Canídeos ou,
então, como um homem detentor de uma cabeça de chacal. A mitologia egípcia revela-nos que
Anúbis era fruto de uma ilegítima noite de amor vivida por Osíris nos braços de Néftis.
A lenda revela-nos que tão inusitada união dera-se aquando do retorno do então Soberano do
Egipto ao seu magnífico país. Extenuando de uma viagem que o mantivera longe da sua pátria
por uma eternidade, Osíris ardia em desejo de sentir o Sol que raiava no olhar de Ísis despir a
mortalha de nuvens, tecida pela saudade, que vestia e sufocava os céus de sua alma. Ao
vislumbrar Néftis, o deus enlaça-a então em seus braços, tomando-a pela sua esposa. E os
seus sentidos, cegos pela paixão, revelam-se impotentes para lhe desvendar a traição que ele
cometia, antes desta encontrar-se consumada. Graças a uma coroa de meliloto abandonada
por Osíris no leito de Néftis, Ísis abraça a percepção de que o seu amado esposo havia-lhe
sido infiel e, desesperada, confronta a sua irmã, que lhe revela que de tão ilídimas núpcias
nascera um filho, Anúbis, o qual, temendo a cólera do seu esposo legítimo, Seth, ela havia
ocultado algures nos pântanos. Ísis, a quem não fora concedido o apanágio de conceber um
filho de Osíris, enleia então a resolução de resgatá-lo ao seu esconderijo, percorrendo assim
todo o país até encontrar a criança. Acto contínuo, e numa notória demonstração da
benevolência que lhe era característica, a deusa amamenta Anúbis, criando-o para tornar-se o
seu protector e mais fiel companheiro.
A lenda de Osíris comprova que Ísis foi coroada de sucesso,
uma vez que, após o desmembramento do corpo de seu
esposo, Anúbis voluntariou-se prontamente para auxiliar a
deusa a reunir os inúmeros fragmentos do defunto.
Posteriormente, Anúbis participa com igual dedicação nos
rituais executados com o fim de restituir a Osíris o sopro de vida
e que lhe facultaram a concepção da primeira múmia, facto que
legitimou a sua conversão no venerado deus do
embalsamamento, eterno guia do defunto no Além. A sua crescente influência garantiu-lhe um
posto relevante no tribunal composto por quarenta e dois juizes que julgava os recéminumados. De facto, é ele quem conduz o morto até Osíris, apresentando-o ao tribunal por ele
presidido, para de seguida proceder à pesagem do coração. Se porventura o morto desejar
mais tarde regressar à terra, é Anúbis quem ele tem a obrigação de notificar previamente, dado
que esta surtida só será exequível com o seu consentimento expresso, formalmente
consignado
sob
a
forma
de
um
decreto.
As suas múltiplas funções permitem a este deus deter diversas denominações, embora todas
elas se encontrem intrincadamente relacionadas com o seu papel na vida póstuma dos
egípcios. Assim, Anúbis é reconhecido como “o das ligaduras”, como patrono dos
embalsamadores, “presidente do pavilhão divino”, enquanto soberano do edifício onde a poesia
da mumificação era declamada por peritos, “senhor da necrópole” ou então “aquele que está
em cima da montanha”, designações que exaltavam a sua posição enquanto guardião dos
túmulos e condutor dos defuntos nos traiçoeiros labirintos do mundo inferior. Como tal, não é
de todo inusitado o rol interminável de hinos e preces a ele destinados, que encontramos não
raras vezes nas paredes das mastabas mais antigas e igualmente no famigerado “Texto das
Pirâmides”.
Anúbis constitui igualmente a deidade tutelar da décima sétima província do Alto Egipto, cuja
capital, Cinopólis (“A Cidade dos Cães”), era o âmago do seu culto, não obstante a sua
imagem ser também uma constante em relevos e textos figurativos existentes nas sepulturas
reais ou plebeias do vale do Nilo. Com efeito, ao longo de toda a época faraónica, Anúbis
usufruiu de uma inefável popularidade que se reflectiu na sólida implantação do seu culto nos
díspares centros religiosos do país, particularmente em Tebas ou Mênfis. Em Charuna,
localidade próxima do seu principal santuário, deparamo-nos com uma necrópole de cães
mumificados, os quais eram venerados enquanto animais sagrados do deus.
Mas afinal que arte era esta que Anúbis protegia e representava? Originalmente, antes de
haverem alcançado o seu meticuloso método de mumificação, os Egípcios envolviam os seus
defuntos numa esteira ou pele de animal, visando que o calor e o vento dissecassem os
cadáveres. Após um moroso processo evolutivo, os embalsamadores conseguiram enfim obter
de forma artificial tal conservação natural, mediante um prolixo tratamento, que se prolongava
por setenta dias. Uma vez ser necessário quantidades abundantes de água para lavrar os
corpos, este ritual era realizado na margem Ocidental do rio Nilo (a considerável distância das
habitações), onde os embalsamadores trabalhavam numa tenda arejada. Ultimado o referido
período de tempo, os defuntos seguiam para as designadas “Casas de Purificação”, meras
salas reservadas para as práticas de mumificação, onde cada gesto dos embalsamadores era
talhado no olhar vigilante dos sacerdotes. Segundo inúmeros baixos-relevos e pinturas, estes
primeiros ostentavam máscaras com a efígie do deus- chacal Anúbis, a deidade protectora dos
mortos,
talvez
num
desejo
de
atrair
a
sua
benevolência.
O único exemplar que se conserva de semelhante máscara
leva a crêr que esta servisse igualmente de protecção contra
os diversos cheiros que fustigavam os embalsamadores.
Alguns momentâneos descuidos destes levaram-nos a
esquecerem-se, por vezes, de determinados instrumentos
no interior das múmias, o que nos permite conhecer,
aprofundadamente, os seus diversos utensílios de trabalho:
ganchos de cobre, pinças, espátulas, colheres, agulhas,
vasos munidos de bicos para deitar a goma escaldante
sobre o cadáver e furadores com cabeça de forcado, para
abrir, esvaziar e tornar a fechar o corpo. Dada a ausência de qualquer informação legada pelos
Egípcios sobre as suas técnicas de embalsamamento, é necessário recorrer aos relatos de
historiadores gregos, como Heródoto, para que a nossa curiosidade seja saciada. As suas
descrições permitem-nos vislumbrar cada movimento dos embalsamadores. Em primeiro lugar,
estes extraíam o cérebro do defunto pelas narinas, com o auxílio de um gancho de ferro.
Seguidamente, “com uma faca de pedra da Etiópia” (segundo refere Hérodoto) efectuavam
uma incisão no flanco do defunto, pelo qual retiravam os intestinos do morto.
Após terem limpo diligentemente a cavidade abdominal, lavavam-na com vinho de palma e
preenchiam o ventre com uma fusão de mirra pura, canela e outras matérias odoríferas.
Deixavam então o corpo repousar numa solução alcalina, baseada em cristais de natrão seco,
onde permanecia durante setenta dias, ao fim dos quais a múmia era envolvida com mais de
vinte camadas de ligaduras e coberta por um óleo de embalsamamento (uma mistura de óleos
vegetais e de resinas aromáticas- coníferas do Líbano, incenso e mirra), que endurecia,
rapidamente. Todavia, as suas propriedades anti-micósicas e anti-bacterianas não protegiam a
estrutura do corpo esvaziado, dessecado e leve, facto comprovado pelo incidente ocorrido com
a múmia do jovem faraó Tutankhámon, que se fragmentou, quando a tentaram remover do seu
caixão. As faixas que envolviam o defunto eram, preferencialmente, de cores vermelho e rosa,
jamais sendo utilizado para a sua concepção linho novo, mas sim, aquele que era obtido a
partir das vestes que o morto envergava em vida. À medida que as ligaduras eram colocadas
em torno dos defuntos, os sacerdotes presentes pronunciavam fórmulas sagradas.
Simultaneamente, depositavam-se nos leitos de linho inúmeros amuletos profilácticos, tendo
mesmo sido encontrada uma múmia com cerca de oitenta e sete destes objectos de culto.
Entre estes encontrava-se ankh (vida), uma das mais preciosas dádivas oferecidas aos
homens pelos deuses; o olho de oudjat, ou olho de Hórus, símbolo de integridade, que selava a
incisão feita pelos embalsamadores, para retirar as entranhas do morto; um amuleto em forma
de coração, concebido para assegurar que os defuntos seriam bem sucedidos nos seus
julgamentos; e o escaravelho, esculpido em pedra, barro ou vidro. Este insecto enrola bolas de
esterco, onde depõe os ovos. Os Egípcios creiam que um escaravelho gigante gerara o Sol de
forma similar, rolando-o em direcção do horizonte, até ao firmamento. Uma vez que todas as
manhãs este astro soberano desprende-se de um abraço de trevas, o escaravelho tornou-se
num símbolo da ressurreição dos mortos.
No exórdio da civilização egípcia, ultimados os seus processos de
mumificação, as pessoas notáveis eram inumadas num caixão de forma
rectangular, depositado num sarcófago de pedra, considerado como
depositário das vida. Porém, ao longo da história, os caixões sofrem
diversas metamorfoses, que alteraram, radicalmente, os seus simulacros.
No Médio Império, os caixões tornaram-se antropomórficos, aumentando a
sua produção. A própria múmia principiou a ter uma máscara de linho
estucado, isenta de qualquer semelhança com o defunto. Na realidade,
inúmeras múmias eram sepultadas em diversas urnas, sendo colocada
uma dentro da outra, à semelhança das bonecas russas. Deste modo, a
urna interna, mais ajustada, deveria encontrar-se apertada atrás. Durante muito tempo, os
sarcófagos eram construídos em madeira. Não obstante, num período mais tardio, as urnas
interiores eram efectuadas com camadas de papiro ou linho, o que se tornava mais
economicamente acessível. Junto aos túmulos, repousavam cofres de madeira, que
guardavam quatro recipientes, desde o mais humilde pote de barro ao mais faustoso vaso de
alabastro. Estes canopes, cujo nome advém de Kanops, cidade situada a leste de Alexandria,
continham as vísceras do defunto, uma vez que sem estas, o corpo não se encontraria
completo. Inicialmente, esta pratica consistia em mais uma prerrogativa reservada aos
soberanos do Egipto, mas com alguma rapidez estendeu-se igualmente aos sacerdotes e altos
funcionários e, por fim, no Novo Império, a todos os egípcios abastados.
O fígado, o estômago, os pulmões e os intestinos eram envolvidos separadamente em tecidos
de linho, formando embrulhos que eram, em seguida, depositados no interior dos díspares
canopes, após terem sido impregnados com resina de embalsamamento. Em contrapartida, o
coração, símbolo da razão, cerne do encontro do espírito e simulacro da alma, após ser
submetido a um rigoroso tratamento que visava a sua conservação, era
sempre recolocado no corpo do defunto, que iria necessitar dele, ao longo
do seu julgamento no Além. Por seu turno, as intrínsecas vísceras eram
entregues a quatro deidades protectoras, filhos de Hórus, cujas cabeças
ornamentavam frequentemente as tampas dos canopes: Amset, com
cabeça de homem, (cujo nome resulta de aneth, uma planta conhecida
pelas suas propriedades de conservação), tornado protector do estômago;
Hápi, possuidor de uma cabeça de babuíno, que vela pelos intestinos;
Duamoutef, que ostenta uma cabeça de cão e cuja missão é proteger os
pulmões; e Quebekhsenouf, detentor de uma cabeça de falcão, que
preserva o fígado. A partir do Novo Império, eram representadas nas
arestas dos canopes deusas protectoras, que, com as asas abertas,
resguardavam os seus conteúdos. As mesmas deusas surgiam
ajoelhadas nos cantos dos sarcófagos. Nut, a deusa da abóbada celeste,
adorna
a
face
interior
do
tampo
do
caixão.
Paradoxalmente, os mais humildes eram privados de qualquer prerrogativa, sendo sepultados
no deserto, envoltos numa pele de vaca, uma vez que não possuíam meios para pagar o
avultado preço da imortalidade.
Detalhes
e
vocabulário
egípcio:
Djedeternidade;
Kerescaixão;
Na Época Greco-Romana, Anúbis foi investido de novas incumbências, incarnando numa
deidade
cósmica,
regente
dos
céus
e
da
terra.
Etimologicamente, o epíteto “Anupus” pode possuir a sua origem na palavra inep, empregue
com
o
significado
de
“putrificar”.
A imagem de Anúbis, nas suas díspares representações, é uma constante não apenas nas
múmias e sarcófagos, mas também nas vinhetas dos papiros funerários. A estatueta de Anúbis
com cabeça de cão selvagem constituía igualmente um amuleto, que colocava os defuntos
sobre a protecção do deus. Evoca-se como exemplo o túmulo do jovem Tutankhámon, entre
muitos
outros.
A famigerada múmia do faraó Ramsés III sobreviveu indemne durante quase 3000 anos,
graças à arte egípcia do embalsamamento e à preservação do deserto. Porém, alguns meses
de permanência num museu teriam causado a sua total destruição, caso inúmeros egiptólogos
não
houvessem
agido,
prontamente.
outembalsamadores
vabet- lugar de purificação, 'Casa da Purificação'
HÁTHOR: Amor... Rutilante véu de estrelas que veste de luz o corpo de pérolas negras da noite
da humanidade... Rosa de fogo, orvalhada por uma poesia em chamas, despontando nos jardins
do horizonte, para almas vagantes inebriar com o perfume de um imortal Sol de felicidade...
Cálice de sonhos e feitiços derramado sobre os corações dos Antigos Egípcios pela sensual Háthor,
soberana de um éden de felicidade perene, em cujo esplendor brotava o cobiçado fruto do amor,
nascia a maviosa nascente da música, em cujas águas vogava a sensualidade das danças,
desabrochavam as orquídeas selvagens do erotismo e brincava a doce brisa da alegria. Sua alma,
cosmos de amores constelados, renovava-se nos semblantes de todas as apaixonadas que
devotadamente a inundavam de preces ardentes, na esperança de escravizarem o coração dos
seus amados e, por conseguinte, alcançarem “a felicidade e um bom marido”.
Venerada em Dendera por nas suas mãos divinas florescer o amor, a bela deusa, filha de Rá,
inúmeras vezes representada sob a forma de uma vaca, desempenhava, tal como sucedia a um rol
imensurável de outros deuses, díspares papéis, em diferentes zonas do Egipto. Podemos afirmar
que as suas origens remontam a uma época longínqua da história, já que a deusa consta do
documento egípcio mais antigo conhecido até ao momento: a “Paleta de Narmer”, cuja leitura nos
permite conhecer a unificação do Egipto por Narmer, primeiro faraó da I Dinastia, acontecimento
que constitui a inauguração da instituição faraónica. Ambas as faces deste documentos estão
ornadas com cabeças de vaca que, tal como referido anteriormente, simbolizam a deusa Háthor.
No Delta, é associada ao céu, sustendo o disco- solar no seu toucado, enquanto, em Tebas, surgia
como uma deusa da morte. Enquanto protectora da necrópole tebana, Háthor é representada
como uma vaca emergindo de uma montanha escarpada que simboliza a falésia onde estão
escavados os túmulos. Aqueles que se aproximavam da morte, suplicavam, assim, pela sua
protecção, ao longo das suas viagens até ao além.
Com efeito, tal como a maioria das divindades egípcias, Hátor sabia mostrar-se cruel e
devastadora. Tomemos como exemplo uma das lendas, que procura explicar as mudanças de
estação, na qual, após uma feroz discussão com o seu pai, Hátor refugia-se no desero, permitindo
que as trevas invadissem a terra, uma vez que o Sol somente ocuparia o seu legítimo lugar,
quando a deusa retornasse. A euforia rasga tão profundo pesar, quando, persuadida por seu pai,
Hátor regressa, enfim, banindo a noite. Em torno desta personagem, tece-se ainda outra
narrativa, notavelmente, violenta. Indignado por a humanidade lhe haver desobedecido, Rá toma
a decisão de massacrá-la, enviando, para este fim, a sua filha, tornada num olho solar fulminante.
Porém, ao contemplar a devastação que a sua filha causava, Rá compadece-se daqueles que lhe
haviam desobedecido e toma a resolução de por fim a tão hediondo crime. Deste modo, convida a
sua filha a sorver uma cerveja cor de sangue, que, além de a embriagar, lança-a num sono
profundo. Ao despertar, a sua cólera insaciável havia-se desvanecido, pelo que os derradeiros
sobreviventes da sua chacina permaneceram incólumes.
Em Dendera, ergueu-se, no templo ptolomaico, um imponente templo em sua honra,
que a deusa deixava, anualmente, para, após uma prolixa viagem através do Nilo
(em que o seu temperamento bravio era suavizado por músicas e bebidas) consumar
o seu divino casamento com o deus- falcão Hórus, que a aguardava em Edfu (cidade
situada a cerca de cento e sessenta quilómetros a montante do Nilo). Esta diligência
mítica, que mantinha Háthor afastada da sua morada durante cerca de três semanas,
era celebrada pelos egípcios com um festival alegre e faustoso. Procurando reproduzir
o trajecto executado pela deusa, a solene procissão seguia então pelo rio, rasgando
com uma barca (“A Bela de Amor) onde, detentora de uma fastígio inigualável, uma
estátua de Háthor se elevava. Concomitantemente, os sacerdotes de Edfu preparam o encontro
dos esposos, que ocorrerá no exterior do santuário, mais exactamente numa exígua capela
localizada a norte da cidade. Este encontro deveria suceder num momento preciso, ou seja, à
oitava hora do dia da lua nova do décimo primeiro mês do ano. Quando por fim Háthor abençoa
Edfu com a sua magnífica presença e perfuma aos lábios de seu esposo com o incenso de um
beijo, iniciam-se então as festividades, no decorrer das quais a deusa é aclamada, saudada e
inebriada com a música docemente tocada em sua honra. Não era pois Háthor a “Dourada”, a
“Dama das Deusas”, “A Senhora” e “A Senhora da embriagues, da música e das danças”?
Seguidamente, os esposos separam-se e ocupam as suas barcas, para que o cortejo possa dirigirse para o santuário principal, onde os sacerdotes puxam as embarcações para fora de água e
instalam-nas no recinto. Uma vez mais acompanhada por seu marido, Háthor saúda então seu pai,
o Sol, que ao lado de Hórus velava por Edfu, como referem os inúmeros textos encontrados: “ela
vai ao encontro de seu pai Ré, que exulta ao vê-la, pois é o seu olho que está de volta”.
Terminado este encontro, tão lendários esponsais são enfim celebrados, prometendo, entre
sumptuosos festejos, os dois deuses a divinas núpcias de luz. No dia seguinte, dá-se início a uma
faustosa festa, que se demora pelos catorze dias do quarto crescente, num período de tempo
marcado por um rol quase inefável de ritos, sacrifícios, visitas a santuários, celebrações,
solenidades, entre outros eventos. Um grande banquete, no fim do qual dá-se a separação de
Háthor
e
Hórus
consagra
o
fim
das
festividades.
Tal como salienta Plutarco, o escritor grego, na escrita hieroglífica o nome de Háthor lê-se HutHor, isto é, “a morada de Hórus” ou “a habitação cósmica de Hórus”, sendo portanto flagrante que
a deusa representa o espaço celeste no qual o Hórus solar se desloca.
Denominada “Senhora do Sicômoro”, deusa das árvores, Hátor surge inúmeras vezes a
amamentar os defuntos, especialmente, os faraós, mediante os longos ramos de um sicômoro.
Háthor, como deusa benevolente, possuía a intensa devoção, não
somente de nobres, mas também dos mais humildes, erigindo-se,
deste modo, em seu redor um culto que se proliferou no Império
Romano. Todavia, a crescente popularidade do culto, tecido em torno
de Osíris e Ísis, levou a que este deidade passasse a deter algumas das
funções de Háthor, acabando estas por fundir-se numa única divindade.
Em matéria de iconografia, a sua representação mais interessante é
aquela que lhe permite surgir como soberana dos quatro cantos do céu
e senhora dos pontos cardeais. Os quatro semblantes que a
representam simbolizam cada um deles um determinado aspecto da
sua personalidade, ou seja, Háthor- leoa, sublime olho dos astro solar,
que os inimigos de seu pai, Ré, aniquila sem hesitar; Háthor- vaca,
poderosa soberana do amor e do renascimento; Háthor- cobra,
incarnação da beleza e juventude; e, por fim, Háthor- gata, eterna
protectora dos lares e, claro, ama real.
Não lhes sendo possível distinguirem-se noutros planos profissionais, muitas mulheres tornavamse sacerdotisas de Hátor (mais tarde designadas por “cantoras de Ámon”,) uma vez que as
actividades musicais que desempenhavam permitiram-lhes investir-se de funções honrosas. Por
seu turno, fora dos cortejos religiosos, as bailarinas de Háthor, ostentando somente uma tanga
curta, arredondada na frente, entretinham os convidados de um banquete.
Detalhes
O
e
nome
Háthor
Nebet-
vocabulário
significa
per-
“
a
dona
Neferet-
egípcio:
casa
de
de
casa.
a
bela;
Merout-
amor;
Hensi
Sen-
Hórus”.
irembeijar
viver
/
“respirar
juntos
um
odor”
No Antigo Egipto, os apaixonados seduziam as mulheres amadas com epítetos plenos de
doçura, alguns deles ainda empregues na sociedade contemporânea, como é o caso de “gazela”,
gatinho”, “andorinha”, “pomba”, enquanto outros facilmente podem ser qualificados de
impopulares e até perigosos para a integridade física do amante, como “meu hipopótamo”, “minha
hiena”
ou
“minha
rã”.
Na realidade, o amor era representado discretamente pelos artesãos encarregados de enaltecer
os túmulos egípcios com a sua arte, surgindo este sentimento sob a forma de um tímido gesto,
em que a mulher rodeia os ombros do seu marido com o braço ou se apoia nas suas costas (o
oposto jamais sucede). De facto, o perfume era um dos mais conhecidos símbolos do amor, o que
sustenta a filosofia de que os egípcios abdicavam da vulgaridade de uma manifestação directa, em
prole de uma doce e subtil sugestão, com frequência plena de sensualidade.
O tecto da sala hipostila do templo de Háthor em Dendera enleva os seus visitantes com a
visão de sublimes decorações contendo cenas de natureza astronómica, considerados por muitos
como as mais originais jamais encontradas. Nele, o nosso olhar extasiado possui o privilégio de
conhecer as horas do dia, da noite, os decanos, as regiões celestes, as décadas, os deuses dos
pontos
cardeais,
as
constelações,
entre
outros.
Ao observarmos o vão sul, somos maravilhados com uma cena, reproduzida não raras vezes em
díspares pontos do santuário, que nos o corpo de Nut, a abóbada celeste, cujo corpo, banhado
pelas ondas do oceano inferior, prolonga-se de uma extremidade à outra da sala. Os seus pés
acariciam o este, enquanto que a sua cabeça repousa a oeste. Ao executar o seu trajecto cíclico, o
deus solar incarna alternadamente os corpos diurnos e nocturnos de Nut, alumiando a terra de
dia, enquanto, por oposição, de noite a lança nas trevas, desaparecendo, tragado pela deusa, para
ir iluminar as regiões subterrâneas. Outra imagem oferece-nos, assim, a ressurreição do Sol , que
os seus mil raios derrama sobre o templo de Dendera, personificado pela cabeça de vaca de
Háthor,
colocada
sobre
um
edifício.
HÓRUS: Hórus, mítico soberano do Egipto, desdobra
as suas divinas asas de falcão sob a cabeça dos
faraós, não somente meros protegidos, mas, na
realidade, a própria incarnação do deus do céu. Pois
não era ele o deus protector da monarquia faraónica,
do Egipto unido sob um só faraó, regente do Alto e
do Baixo Egipto? Com efeito, desde o florescer da
época história, que o faraó proclamava que neste
deus refulgia o seu ka (poder vital), na ânsia de
legitimar a sua soberania, não sendo pois inusitado
que, a cerca de 3000 a. C., o primeiro dos cinco
nomes da titularia real fosse exactamente “o nome
de Hórus”. No panteão egípcio, diversas são as
deidades que se manifestam sob a forma de um
falcão. Hórus, detentor de uma personalidade
complexa e intrincada, surge como a mais célebre de
todas elas. Mas quem era este deus, em cujas asas
se reinventava o poder criador dos faraós? Antes de
mais, Hórus representa um deus celeste, regente
dos céus e dos astros neles semeados, cuja
identidade é produto de uma longa evolução, no
decorrer da qual Hórus assimila as personalidades de
múltiplas
divindades.
Originalmente, Hórus era um deus local de Sam- Behet (Tell el- Balahun) no Delta, Baixo Egipto.
O seu nome, Hor, pode traduzir-se como “O Elevado”, “O Afastado”, ou “O Longínquo”. Todavia, o
decorrer dos anos facultou a extensão do seu culto, pelo que num ápice o deus tornou-se patrono
de diversas províncias do Alto e do Baixo Egipto, acabando mesmo por usurpar a identidade e o
poder das deidades locais, como, por exemplo, Sopedu (em zonas orientais do Delta) e
Khentekthai (no Delta Central). Finalmente, integra a cosmogonia de Heliópolis enquanto filho de
Ísis e Osíris, englobando díspares divindades cuja ligação remonta a este parentesco. O Hórus do
mito osírico surge como um homem com cabeça de falcão que, à semelhança de seu pai, ostenta
a coroa do Alto e do Baixo Egipto. É igualmente como membro desta tríade que Hórus saboreia o
expoente máximo da sua popularidade, sendo venerado em todos os locais onde se prestava culto
aos seus pais. A Lenda de Osíris revela-nos que, após a celestial concepção de Hórus, benção da
magia que facultou a Ísis o apanágio de fundir-se a seu marido defunto em núpcias divinas, a
deusa, receando represálias por parte de Seth, evoca a protecção de Ré- Atum, na esperança de
salvaguardar
a
vida
que
florescia
dentro
de
si.
Receptivo às preces de Ísis, o deus solar velou por ela até ao tão esperado nascimento. Quando
este sucedeu, a voz de Hórus inebriou então os céus: “ Eu sou Hórus, o grande falcão. O meu
lugar está longe do de Seth, inimigo de meu pai Osíris. Atingi os caminhos da eternidade e da luz.
Levanto voo graças ao meu impulso. Nenhum deus pode realizar aquilo que eu realizei. Em breve
partirei em guerra contra o inimigo de meu pai Osíris, calcá-lo-ei sob as minhas sandálias com o
nome de Furioso... Porque eu sou Hórus, cujo lugar está longe dos deuses e dos homens. Sou
Hórus, o filho de Ísis.” Temendo que Seth abraçasse a resolução de atentar contra a vida de seu
filho recém- nascido, Ísis refugiou-se então na ilha flutuante de Khemis, nos pântanos perto de
Buto, circunstância que concedeu a Hórus o epíteto de Hor- heri- uadj, ou seja, “Hórus que está
sobre a sua planta de papiro”. Embora a natureza inóspita desta região lhe oferecesse a tão
desejada segurança, visto que Seth jamais se aventuraria por uma região tão desértica, a mesma
comprometia, concomitantemente, a sua subsistência, dada a flagrante escassez de alimentos
característica daquele local. Para assegurar a sua sobrevivência e a de seu filho, Ísis vê-se
obrigada a mendigar, pelo que, todas as madrugadas, oculta Hórus entre os papiros e erra pelos
campos, disfarçada de mendiga, na ânsia de obter o tão necessário alimento. Uma noite, ao
regressar para junto de Hórus, depara-se com um quadro verdadeiramente aterrador: o seu filho
jazia, inanimado, no local onde ela o abandonara. Desesperada, Ísis procura restituir-lhe o sopro
da vida, porém a criança encontrava-se demasiadamente débil para alimentar-se com o leite
materno. Sem hesitar, a deusa suplica o auxílio dos aldeões, que todavia se relevam impotentes
para a socorrer.
Quando o sofrimento já quase a fazia transpor o limiar da loucura, Ísis
vislumbrou diante de si uma mulher popular pelos seus dons de
magia, que prontamente examinou o seu filho, proclamando Seth
alheio ao mal que o atormentava. Na realidade, Hórus ( ou
Harpócrates, Horpakhered- “Hórus menino/ criança”) havia sido
simplesmente vítima da picada de um escorpião ou de uma serpente.
Angustiada, Ísis verificou então a veracidade das suas palavras,
decidindo-se, de imediato, e evocar as deusas Néftis e Selkis (a deusa- escorpião), que
prontamente ocorreram ao local da tragédia, aconselhando-a a rogar a Ré que suspendesse o seu
percurso usual até que Hórus convalescesse integralmente. Compadecido com as suplicas de uma
mãe, o deus solar ordenou assim a Toth que salvasse a criança. Quando finalmente se viu diante
de Hórus e Ísis, Toth declarou então: “ Nada temas, Ísis! Venho até ti, armado do sopro vital que
curará a criança. Coragem, Hórus! Aquele que habita o disco solar protege-te e a protecção de
que gozas é eterna. Veneno, ordeno-te que saias! Ré, o deus supremo, far-te-á desaparecer. A
sua barca deteve-se e só prosseguirá o seu curso quando o doente estiver curado. Os poços
secarão, as colheitas morrerão, os homens ficarão privados de pão enquanto Hórus não tiver
recuperado as suas forças para ventura da sua mãe Ísis. Coragem, Hórus. O veneno está morto,
eilo
vencido.”
Após haver banido, com a sua magia divina, o letal veneno que estava prestes a oferecer Hórus à
morte, o excelso feiticeiro solicitou então aos habitantes de Khemis que velassem
pela criança, sempre que a sua mãe tivesse necessidade de se ausentar. Muitos
outros sortilégios se abateram sobre Hórus no decorrer da sua infância (males
intestinais, febres inexplicáveis, mutilações), apenas para serem vencidos logo de
seguida pelo poder da magia detida pelas sublimes deidades do panteão egípcio. No
limiar da maturidade, Hórus, protegido até então por sua mãe, Ísis, tomou a
resolução de vingar o assassinato de seu pai, reivindicando o seu legítimo direito ao
trono do Egipto, usurpado por Seth. Ao convocar o tribunal dos deuses, presidido
por Rá, Hórus afirmou o seu desejo de que seu tio deixasse, definitivamente, a
regência do país, encontrando, ao ultimar os seus argumentos, o apoio de Toth, deus da
sabedoria, e de Shu, deus do ar. Todavia, Ra contestou-os, veementemente, alegando que a força
devastadora de Seth, talvez lhe concedesse melhores aptidões para reinar, uma vez que somente
ele fora capaz de dominar o caos, sob a forma da serpente Apópis, que invadia, durante a noite, a
barca do deus- sol, com o fito de extinguir, para toda a eternidade, a luz do dia. Ultimada uma
querela verbal, que cada vez mais os apartava de um consenso, iniciou-se então uma prolixa e
feroz disputa pelo poder, que opôs em confrontos selváticos, Hórus a seu tio. Após um infrutífero
rol de encontros quase soçobrados na barbárie, Seth sugeriu que ele próprio e o seu adversário
tomassem a forma de hipopótamos, com o fito de verificar qual dos dois resistiria mais tempo,
mantendo-se
submergidos
dentro
de
água.
Escoado algum tempo, Ísis foi incapaz de refrear a sua apreensão e criou um arpão, que lançou no
local, onde ambos haviam desaparecido. Porém, ao golpear Seth, este apelou aos laços de
fraternidade que os uniam, coagindo Ísis a sará-lo, logo em seguida. A sua intervenção enfureceu
Hórus, que emergiu das águas, a fim de decapitar a sua mãe e, acto contíguo, levá-la consigo
para as montanhas do deserto. Ao tomar conhecimento de tão hediondo acto, Rá, irado, vociferou
que Hórus deveria ser encontrado e punido severamente. Prontamente, Seth voluntariou-se para
capturá-lo. As suas buscas foram rapidamente coroadas de êxito, uma vez que este nem ápice se
deparou com Hórus, que jazia, adormecido, junto a um oásis. Dominado pelo seu temperamento
cruel, Seth arrancou ambos os olhos de Hórus, para enterrá-los algures, desconhecendo que estes
floresceriam em botões de lótus. Após tão ignóbil crime, Seth reuniu-se a Rá, declarando não ter
sido bem sucedido na sua procura, pelo que Hórus foi então considerado morto. Porém, a deusa
Hátor encontrou o jovem deus, sarando-lhe, miraculosamente, os olhos, ao friccioná-los com o
leite de uma gazela. Outra versão, pinta-nos um novo quatro, em que Seth furta apenas o olho
esquerdo de Hórus, representante da lua. Contudo, nessa narrativa o deus-falcão, possuidor, em
seus olhos, do Sol e da lua, é igualmente curado.
Em ambas as histórias, o Olho de Hórus, sempre representado no singular, torna-se mais
poderoso, no limiar da perfeição, devido ao processo curativo, ao qual foi sujeito. Por esta razão, o
Olho de Hórus ou Olho de Wadjet surge na mitologia egípcia como um símbolo da vitória do bem
contra o mal, que tomou a forma de um amuleto protector. A crença egípcia refere igualmente
que, em memória desta disputa feroz, a lua surge, constantemente, fragmentada, tal como se
encontrava, antes que Hórus fosse sarado. Determinadas versões desta lenda debruçam-se sobre
outro episódio de tão desnorteante conflito, em que Seth conjura novamente contra a integridade
física de Hórus, através de um aparentemente inocente convite para o visitar em sua morada. A
narrativa revela que, culminado o jantar, Seth procura desonrar Hórus, que, embora precavido, é
incapaz de impedir que um gota de esperma do seu rival tombe em suas mãos. Desesperado, o
deus vai então ao encontro de sua mãe, a fim de suplicar-lhe que o socorra. Partilhando do horror
que inundava Hórus, Ísis decepou as mãos do filho, para arremessá-las de seguida à água, onde
graças à magia suprema da deus, elas desaparecem no lodo. Todavia, esta situação torna-se
insustentável para Hórus, que toma então a resolução de recorrer ao auxílio do Senhor Universal,
cuja extrema bonomia o leva a compreender o sofrimento do deus- falcão e, por conseguinte, a
ordenar ao deus- crocodilo Sobek, que resgatasse as mãos perdidas. Embora tal diligência haja
sido coroada de êxito, Hórus depara-se com mais um imprevisto: as suas mãos tinham sido
abençoadas por uma curiosa autonomia, incarnando dois dos filhos do deus- falcão.
Novamente evocado, Sobek é incumbido da taregfa de capturar as mãos que
teimavam em desaparecer e levá-las até junto do Senhor Universal, que, para
evitar o caos de mais uma querela, toma a resolução de duplicá-las. O
primeiro par é oferecido à cidade de Nekhen, sob a forma de uma relíquia,
enquanto que o segundo é restituído a Hórus. Este prolixo e verdadeiramente
selvático conflito foi enfim solucionado quando Toth persuadiu Rá a dirigir
uma encomiástica missiva a Osíris, entregando-lhe um incontestável e
completo título de realeza, que o obrigou a deixar o seu reino e confrontar o seu assassino. Assim,
os dois deuses soberanos evocaram os seus poderes rivais e lançaram-se numa disputa ardente
pelo trono do Egipto. Após um recontro infrutífero, Ra propôs então que ambos revelassem aquilo
que tinham para oferecer à terra, de forma a que os deuses pudessem avaliar as suas aptidões
para governar. Sem hesitar, Osíris alimentou os deuses com trigo e cevada, enquanto que Seth
limitou-se a executar uma demonstração de força. Quando conquistou o apoio de Ra, Osíris
persuadiu então os restantes deuses dos poderes inerentes à sua posição, ao recordar que todos
percorriam o horizonte ocidental, alcançando o seu reino, no culminar dos seus caminhos. Deste
modo, os deuses admitiram que, com efeito, deveria ser Hórus a ocupar o trono do Egipto, como
herdeiro do seu pai. Por conseguinte, e volvidos cerca de oito anos de altercações e recontros
ferozes, foi concedida finalmente ao deus- falcão a tão cobiçada herança, o que lhe valeu o título
de Hor-paneb-taui ou Horsamtaui/Horsomtus, ou seja, “Hórus, senhor das Duas Terras”.
Como compensação, Rá concedeu a Seth um lugar no céu, onde este poderia desfrutar da sua
posição de deus das tempestades e trovões, que o permitia atormentar os demais. Este mito
parece sintetizar e representar os antagonismos políticos vividos na era pré- dinástica, surgindo
Hórus como deidade tutelar do Baixo Egipto e Seth, seu oponente, como protector do Alto Egipto,
numa clara disputa pela supremacia política no território egípcio. Este recontro possui igualmente
uma cerca analogia com o paradoxo suscitado pelo combate das trevas com a luz, do dia com a
noite, em suma, de todas as entidades antagónicas que encarnam
a típica luta do bem contra o mal. A mitologia referente a este
deus difere consoante as regiões e períodos de tempo. Porém,
regra geral, Hórus surge como esposo de Háthor, deusa do amor,
que lhe ofereceu dois filhos: Ihi, deus da música e Horsamtui,
“Unificador das Duas Terras”. Todavia, e tal como referido
anteriormente, Hórus foi imortalizado através de díspares
representações, surgindo por vezes sob uma forma solar,
enquanto filho de Atum- Ré ou Geb e Nut ou apresentado pela
lenda osírica, como fruto dos amores entre Osíris e Ísis,
abraçando assim diversas correntes mitológicas, que se fundem,
renovam e completam em sua identidade. É dos muitos vectores
em que o culto solar e o culto osírico, os mais relevantes do Antigo Egipto, se complementam num
oásis de Sol, pátria de lendas de luz, em cujas águas d’ ouro voga toda a magia de uma das mais
enigmáticas
civilizações
da
Antiguidade.
Detalhes
e
vocabulário
egípcio:
culto de Hórus centralizava-se na cidade de Edfu, onde particularmente no período ptolomaico
saboreou
uma
estrondosa
popularidade;
culto do deus falcão dispersou-se em inúmeros sub- cultos, o que criou lendas controversas e
inúmeras
versões
do
popular
deus,
como
a
denominada
RáHarakhty;
as estelas (pedras com imagens) de Hórus consideravam-se curativas de mordeduras de
serpentes e picadas de escorpião, comuns nestas regiões, dado representarem o deus na sua
infância vencendo os crocodilos e os escorpiões e estrangulando as serpentes. Sorver a água que
qualquer devotado lhe houvesse deixado sobre a cabeça, significava a obtenção da protecção que
Ísis proporcionava ao filho. Nestas estelas surgia, frequentemente, o deus Bes, que deita a língua
de fora aos maus espíritos. Os feitiços cobrem os lados externos das estelas. Encontramos nelas
uma poderosa protecção, como salienta a famigerada Estela de Mettenich: “Sobe veneno, vem e
cai por terra. Hórus fala-te, aniquila-te, esmaga-te; tu não te levantas, tu cais, tu és fraco, tu não
és forte; tu és cego, tu não vês; a tua cabeça cai para baixo e não se levanta mais, pois eu sou
Hórus,
o
grande
Mágico.”.
out-
embalsamadores
vabet- lugar de purificação
OSÍRIS: Osíris é, indubitavelmente a mais célebre deidade do
panteão egípcio e igualmente uma das mais complexas, pelo que
não é, pois, de estranhar que os teólogos tenham procurado
sintetizar os díspares aspectos desta personagem, através da
criação de uma lenda. Para infortúnio de todos os amantes da
mitologia egípcia a denominada “Lenda de Osíris” não é relatada
integralmente por nenhum documento egípcio, fragmentando-se
assim em trechos esparsos que relatam uma ou outra
circunstância. Na realidade, a descrição completa das suas
aventuras é nos oferecida por Plutarco, filósofo e escritor grego,
através da sua obra “Ísis e Osíris”, na qual podemos verificar que
a lenda se encontra dividida em três momentos fundamentais: o
ímpio assassinato de Osíris; o nascimento e a infância de Hórus,
seu filho; e o recontro entre este e Seth, aquele que lançara
Osíris
nos
braços
da
morte.
Mas quem é afinal este deus, venerado por reis e plebeus, cujo
coração encarnava a felicidade eterna, oferecida por seu pulsar a
todos aqueles que o escutassem? Osíris despontou do seio da
famigerada éneade de Heliópolis, denominação concedida à
família divina criada por Átum-Rá, e na qual se reuniam nove poderosas deidades, cujas origens
são narrados num mito arcaico da criação: Do caos inerte, que envolvia o universo, sob a forma
do primitivo oceano Nun, emergiu uma colina de lodo, na qual poisou, latente no corpo de um
escaravelho ou serpente, o deus- criador Átum, "Senhor Uno de nome misterioso", que através do
seu sémen, gerou o primeiro casal divino, constituído por Shu, a atmosfera, e Tefnut, a humidade,
os quais, por ser turno, procriaram Geb, a Terra, e Nut, o céu, cujos corpos achavam-se fundidos
em eternas núpcias de luz. Devido à intervenção de Ra, a quem desagradava a visão de tal amor,
Shu foi coagido a separar o céu e a terra. Porém, ao apartar tão sublimes amantes, o deus estava
igualmente a sonhar uma imagem poética, incessantemente, representada pela arte egípcia, na
qual, acima de Geb, surge um homem nu, alongado e enfeitado com plumas, erguendo nos braços
Nut,
de
corpo
semeado
de
estrelas.
O nascimento de Osíris, fruto dos amores entre o céu e a terra é nos relatado por um mito que
não carece de originalidade: Quando o deus- sol Ra abraçou a percepção de que no jardim da
alma de Nut, desabrochava a rosa do desejo, cujo perfume incensava os seus encontros
clandestinos com Geb, ele tomou a resolução de confiná-lo ao álgido Inferno de uma maldição: a
deusa é proibida de dar à luz no período de tempo compreendido pelo calendário oficial.
Desesperada, Nut, que se encontrava grávida de quíntuplos, resolve então pedir ajuda a Thot,
senhor do tempo, que segundo alguns referem, lhe dedica uma paixão secreta. Após haver
meditado sobre todas as soluções plausíveis, Thot enlaça então a resolução de jogar aos dados
com a Lua. Abençoado pela Fortuna, o deus ganha a partida e obtém cinco dias suplementares no
calendário. Nestes cinco dias, considerados como distintos do ano de doze meses, a maldição
perdia o seu efeito, pelo que Osíris pôde enfim sublimar o mundo com seu nascimento, ocorrido
no primeiro destes dias. Segundo a lenda, no instante em que Osíris floresceu para a vida, uma
voz incendiou os céus com o fogo da seguinte anunciação: “O Senhor de tudo veio ao mundo!”.
Algumas fontes referem também que um certo Pamyles escutou uma voz provinda de um templo
tebano, que, num grito tonitruante lhe anunciou que o magnânimo Osíris, rei dos céus e da terra,
havia nascido. No segundo dos dias suplementares, Nut deu à luz Hórus, o Antigo; no terceiro, o
deus Seth; no quarto, Ísis; e, por fim, no quinto, Néftis, desposada por Seth.
É na qualidade de primogénito, que Osíris herda a
soberania terrestre, pelo que, após unir-se a Ísis
em esponsais divinos, ascendeu ao trono do
Egipto, iluminando este país com o Sol de
magnanimidade e indulgência que dourava a sua
alma. Reinando como soberano da terra, Osíris
arrebatou os egípcios às garras da selvajaria que
os escravizara até então, concedeu-lhes leis e fêlos descobrir a arte de prestar culto aos deuses.
Por seu turno, Ísis, a quem a corrente prática de
canibalismo horrorizava, ofereceu aos Homens o
trigo e a cevada, que Osíris os ensinou a cultivar,
levando-os a abdicar dos seus costumes
antropófagos, em prole de uma dieta de cereais.
Para além disso, Osíris é conhecido por haver
sido o primeiro a colher frutos das árvores, a
assentar a vinha em estacas e a pisar as uvas,
visando a confecção de vinho. Na ânsia de
enriquecer o tesouro da humanidade com a jóia
rara do conhecimento, Osíris delegou a Ísis todas
as responsabilidades subjacentes ao governo do
Egipto e percorreu o mundo, saciando a sua sede com o cálice da civilização e a sua fome com o
desvendar dos segredos da agricultura. O seu reinado foi assim uma sonata de harmonia perfeita,
tocada no piano de luz da felicidade suprema. Todavia, em breve um artífice das trevas
consagrado mestre da sua eterna confraria de sombras e medos, iria esculpir o mais nefasto
silêncio, pois apesar dos poderes inerentes à sua divindade, Osíris viria a aproximar-se da
humanidade, ao partilhar com ela a vereda da morte. Seu irmão Seth, esposo de Néftis, cuja alma
era escrava da inveja, cobiça e ódio, ofereceu um fausto banquete, no qual exibiu uma
extraordinária
urna,
prometendo
oferecê-la,
a
quem
nela
coubesse.
Quando Osíris aceitou o desafio, Seth selou a urna e arremessou-a ao Nilo. Ao aperceber-se de
que, após uma apaixonada busca, Ísis a havia encontrado, Seth tornou a apoderar-se dela,
retalhando o corpo do irmão, para lançá-lo, novamente, ao rio. Desesperada, Ísis tomou então a
resolução de recuperar os catorze fragmentos do cadáver de Osíris, percorrendo, para tal efeito,
todo o país. Após conquistado o sucesso, Anúbis, deus do embalsamamento, possuidor de uma
cabeça de chacal, e que muitos proclamam como filho de Osíris e de Néftis, reuniu os catorze
fragmentos do cadáver do poderoso deus, enrolando-os em ligaduras, com o fito de criar a
primeira múmia. Ísis tomou então a forma de um falcão fêmea, de cujas asas o seu esposo
recebeu, uma vez mais, a vida que havia perdido, podendo então gerar o deus- falcão, Hórus,
herdeiro do trono que o seu tio Seth havia usurpado. Ultimado este acto, Osíris necessitou de
regressar ao submundo, tornando-se no "Senhor da Eternidade", soberano dos mortos, que
preside aos julgamentos do além. É representado na arte egípcia como um homem de rosto
esverdeado, qual lodo que concebe a vida do Egipto, ostentando as insígnias do poder: coroa,
ceptro em gancho e chicote. Contudo, o seu corpo assemelha-se rígido, dado surgir como uma
múmia enfaixada. Este mito reflecte flagrantemente uma paixão, representando Osíris como um
ser que, na terra, foi vítima de uma traição que o teria confinado à extinção eterna, caso um amor
isento de limites não se houvesse oposto a tão lúgubre fortuna, reinventando em seu corpo a arte
perdida da vida, através de uma esplendorosa ressurreição. Compreende-se assim que todos
procurem a benção deste deus, uma vez que somente ele coroa o firmamento da vida com o arcoíris da eternidade. Assim, não constitui qualquer surpresa verificar que no Antigo Império, o faraó
defunto, na ânsia de com o deus se identificar, recebia o epíteto de Osíris, enquanto que o regente
abraçava a denominação de Hórus. Todavia, vicissitudes político- sociais ocorridas no final do
mesmo, permitiram que a benção de Osíris deixasse de ser prerrogativa exclusiva dos soberanos,
estendendo-se assim a todos funcionários. No entanto, nem sempre Osíris usufruiu desta fama,
sendo pois fruto de uma prolixa evolução.
Na realidade, Osíris foi venerado desde uma época muito antiga,
principiando por encarnar um deus da fertilidade, relacionado com o
milho, com o ciclo do seu enterramento como semente, o seu tempo de
repouso debaixo da terra, a sua germinação e, finalmente, o seu retorno
à vida. Era sua, portanto, a incumbência de propiciar aos egípcios uma
boa colheita, sendo também responsável pela inundação do Nilo. À
medida que a sua importância aumentava, Osíris assimilou
características de outros deuses, os quais substituiu gradualmente. Em
Mênfis, por exemplo, adoptou as características funerárias de Sokaris e,
em Abidos, usurpou a identidade e o culto de Khentiamentiu, deus dos
mortos e soberano das necrópoles. Posteriormente, integrou a
cosmogonia de Heliópolis, transformando-se no legítimo herdeiro de Geb e Nut. Como símbolo da
ressurreição, Osíris supervisionava as entradas no seu mundo, surgindo como um Sol, durante o
poente. O culto de Osíris e Isís proliferou-se, com surpreendente popularidade, na bacia
mediterrânea, durante a Época Baixa (664-332 a.C./ XXVI- XXX Dinastias), influenciando,
segundo muitos historiadores também o cristianismo, com os seus ensinamentos sobre morte e
ressurreição. Osíris, Ísis e Hórus formaram a Tríade (família constituída por três divindades) de
Abidos, cidade onde se centralizou o seu culto, celebrado num dos maiores santuários egípcios,
em cujo interior jazia a cabeça do deus da morte. Era de facto naquela que viria a tornar-se na
capital da oitava província do Alto Egipto, que decorria o festival anual de Osíris, ao longo do qual
a barca do deus era levada em procissão e a vitória de Osíris sobre os seus inimigos celebrada.
Todavia, também outras cidades foram iluminadas pela benção de Osíris, ao receberem partes do
corpo retalhado do deus, salientando-se Busíris (“Domínio de Osíris” ou “Lugar de Osíris”, no Delta
Central, como uma das mais famosas, dada a sua relação com a espinha dorsal de Osíris. Por seu
turno, Per- Medjed, capital da 19ª capital do Alto Egípcio, estava ligada ao mito de Osíris, através
do
seu
falo,
que,
segundo
a
tradição,
jamais
foi
descoberto
por
Ísis.
Detalhes
e
Vocabulário
Egípcio:
Eneada de Heliópolis: família divina constituída por Átum, deus criador, Tefnu, humidade, Shu,
atmosfera,
Geb,
terra,
Nut,
céu,
Osíris,
Ísis,
Néftis
e
Seth.
OusirNeb
Osíris
djed-
O
Senhor
Douat-
da
Eternidade.
submundo
Sah- múmia
ISÍS: Nenhuma personalidade do panteão egípcio pode rivalizar
com a deusa Ísis, sublime essência da alma de uma das mais
excelsas e proeminentes civilizações da antiguidade e maga
detentora do esplendor ofuscante que a conduziu até ao auge da
popularidade. Surgindo na teologia heliopolitana como fruto dos
amores entre o céu (Nut) e a terra (Geb), Ísis reinara com uma
sabedoria incontestável nas Duas Terras, o Alto e o baixo Egipto,
muito antes do nascimento das dinastias. O amor que unia Ísis a
Osíris em ternos esponsais vestia a sua alma com uma felicidade
que abraçava o Infinito. Todavia, em breve a doce melodia que tão
mítica perfeição dedilhava na harpa da sua vida seria, pelas trevas,
resumida a um rol de acordes dissonantes, orquestrados numa
sinfonia
de
silêncio
e
dor.
Tão vil prelúdio de uma noite sem fim surgiu sob a forma de um convite de Seth, que solicitava
afavelmente a presença de seu irmão Osíris num banquete. Sem jamais cogitar que se tratava de
uma ímpia conjuração, Osíris não declinou a oferta, colocando-se então à mercê de um execrável
assassino. Algures no decorrer do banquete, Seth apresentou um caixão de proporções
verdadeiramente excepcionais, assegurando que recompensaria generosamente aquele que nele
coubesse. Imprudente, Osíris aceitou prontamente o desafio, permitindo que Seth e os seus
acólitos pregassem a tampa e consequentemente o tornassem escravo da morte. Cometido o
hediondo crime, o assassino Seth, que cobiçava ocupar o trono de seu irmão, lança a urna ao Nilo,
para que o rio a conduzisse até ao mar, onde veio a perder-se. Este trágico incidente deu-se no
décimo sétimo dia do mês Athyr, quando o Sol se encontra sob o signo de Escorpião. Quando Ísis
tomou conhecimento do ocorrido, baniu de sua alma todo o desespero que a assombrava e
abraçou a resolução de procurar o seu marido, a fim de lhe restituir o sopro da vida. Assim, cortou
uma madeixa do seu cabelo, estigma da sua desolação, colocou o seu vestuário matutino e errou
por
todo
o
Egipto,
na
ânsia
de
ver
a
sua
diligência
coroada
de
êxito.
Por seu turno, e após haver dançado nas ondas do mar, a urna atingiu finalmente uma praia,
perto da Babilónia, na costa do Líbano, enlaçando-se nas raízes de um jovem tamarindo, cujo
prolixo crescimento a prendeu no interior do seu tronco. Ao alcançar o clímax da sua beleza, a
imponente árvore atraiu a atenção do rei desse país, persuadindo-o a ordenar ao seu séquito que
o tamarindo fosse derrubado, com o fito de ser utilizado como pilar na sua casa. Em simultâneo
com o crescimento da referida árvore, Ísis prosseguia tão exaustivas busca pelo cadáver de seu
marido, pelo que, ao escutar as histórias tecidas em torno da surpreendente árvore, tomou de
imediato a resolução de ir à Babilónia, na esperança de ultimar enfim e com sucesso a sua
odisseia. Ao chegar ao seu destino, Ísis sentou-se perto de um poço, ostentando um disfarce
humilde e brindou os transeuntes que por ela passavam com um rosto lavado em lágrimas. Os
relatos da sua inusitada condição rapidamente chegaram aos reis da Babilónia, que, intrigados,
propuseram-se a conhecer o motivo de tanto desespero. Quando Ísis os viu estancar defronte de
si, presenteou-os com saudações cordiais, reverentes e, solicitou-lhes que permitissem que os
seus cabelos ela entrançasse. Uma vez que os regentes, embora servos da perplexidade, não
impuseram qualquer veto ao seu convite, Ísis uniu o gesto à palavra, incensado as tranças que
talhava pouco a pouco com o divino perfume exalado por seu ástreo corpo. Ultimado tão peculiar
ritual, a rainha da Babilónia apressou-se a contemplar o resultado final, sendo enfeitiçada pelo
irresistível aroma que seus cabelos emanavam. Literalmente inebriada por tão doce perfume dos
céus, a rainha ordenou então a Ísis que a acompanhasse até ao palácio.
Assim, a deusa franqueou a entrada do palácio do rei da Babilónia, junto do qual conquistou o
privilégio de tornar-se na ama do filho recém-nascido do casal régio, a quem amamentava com o
seu dedo. Devido aos laços que a vinculavam à criança, Ísis desejou conceder-lhe a imortalidade,
pelo que, todas as noites, a queimou, num fogo divino e, como tal, indolor, para que as suas
partes mortais ardessem no esquecimento. Certa noite,
durante este processo, ela tomou a forma de uma
andorinha, a fim de cantar as suas lamentações.
Maravilhada, a rainha seguiu a melopeia que escutava,
entrando no quarto do filho, onde se deparou com um
ritual aparentemente hediondo. De forma a tranquilizála, Ísis revelou-lhe a sua verdadeira identidade, e
ultimou precocemente o ritual, mesmo sabendo que
dessa forma estaria a privar o pequeno príncipe da
imortalidade
que
tanto
desejava
oferecer-lhe.
Observando que a rainha a contemplava, siderada, Ísis
aventurou-se a confidenciar-lhe o lancinante incidente
que a coagira a visitar a Babilónia, conquistando assim
a confiança e benevolência da rainha, que prontamente
aquiesceu em ceder-lhe a urna que continha os restos
mortais de seu marido. Dominada por uma intensa felicidade, Ísis apressou-se a retirá-la do
interior do pilar. Porém, fê-lo com tão negligente brusquidão, que os seus escombros de pedra
espalharam-se por toda a divisão, atingindo, mortalmente, o pequeno príncipe. Na realidade,
existem inúmeras versões deste fragmento da lenda, uma das quais afirma que a rainha expulsou
Ísis, ao vislumbrar o aterrador ritual, pelo que esta retirou a urna, sem o consentimento dos seus
donos.
Porém,
a
veracidade
desta
versão
semelha-se
deveras
suspicaz...
Com a urna em seu poder, Ísis regressou ao Egipto, onde a abriu, ocultando-a, seguidamente, nas
margens do Delta. Numa noite, quando Ísis a deixou sem vigilância, Seth descobriu-a e apoderouse, uma vez mais dela, com o intento de retirar do seu interior o corpo do irmão e cortá-lo em 14
pedaços, que foram, em seguida, arremessados ao Nilo. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Ísis
reuniu-se com a sua irmã Néftis, que não também tolerava a conduta de Seth, embora este fosse
seu marido, e, juntas, recuperaram todos os fragmentos do cadáver de Osíris, à excepção,
segundo refere Plutarco, escritor grego, do seu sexo, que fora comido por um peixe. Novamente
deparamo-nos com alguma controvérsia, uma vez que outras fontes egípcias afirmam que todo o
corpo foi recuperado. Acto contínuo, Ísis organizou uma vigília fúnebre, na qual suspirou ao
cadáver reconstituído do marido: “Eu sou a tua irmã bem amada. Não te afastes de mim, clamo
por ti! Não ouves a minha voz? Venho ao teu encontro e, de ti, nada me separará!” Durante horas,
Ísis e Néftis, de corpo purificado, inteiramente depiladas, com perucas perfumadas e boca
purificada por natrão (carbonato de soda), pronunciaram encantamentos numa câmara funerária
ignota, que o incenso queimado impregnava de espiritualidade. A deusa invocou então todos os
templos e todas as cidades do país, para que estes se juntassem à sua dor e fizessem a alma de
Osíris
retornar
do
Além.
Uma vez que todos os seus esforços revelavam-se vãos, Ísis assumiu então a forma de um falcão,
cujo esvoaçar restituiu o sopro de vida ao defunto, oferecendo-lhe o apanágio da ressurreição.
Seguidamente, Ísis poisou no sítio do desaparecido sexo de Osíris, fazendo-o reaparecer por
magia, e manteve-o vivo o tempo suficiente para que este a engravidasse. Em contraste, outras
fontes garantem que Osíris e a sua esposa conceberam o seu filho, antes do deus ser assassinado
pelo seu irmão, embora a versão mais comum seja a relatada, primeiramente. Assim, ao retornar
à terra, Ísis encontrava-se agora grávida do filho, a quem protegeria até que este achasse-se
capaz de enfrentar o seu tio, apoderando-se (como legítimo herdeiro) do trono que Seth havia
usurpado. Alguns declaram que Ísis, algum tempo antes do parto, fora aprisionada por Seth, mas
que Toth, vízir de Osíris, a auxiliara a libertar-se. Porém, muitos concordam que ela ocultou-se,
secretamente, entre os papiros do Delta, onde se preparou para o nascimento do filho, o deusfalcão Hórus. Quando este nasceu, Ísis tomou a decisão de dedicar-se inteiramente à árdua
incumbência de velar por ele. Todavia, a necessidade de ir procurar alimentos, coagiam-na
pontualmente a ausentar-se, deixando assim o pequeno deus sem qualquer protecção. Numa
dessas ocasiões, Seth transformou-se numa serpente, visando espalhar o seu veneno pelo corpo
de Hórus, pelo que quando Ísis regressou da sua diligência, encontrou o seu filho já próximo das
morte.
Todavia, a sua vida não foi ceifada, devido a um poderoso feitiço executado pelo deus- sol, Ra.
Dada a sua devotada protecção, Ísis era constantemente representada na arte egípcia a
amamentar tanto o seu filho, como os faraós. Sendo um dos mais populares vultos da mitologia
egípcia, cujo nome é representado por um trono (e crê-se que terá mesmo esse significado), Ísis
assume o lugar de deusa da família e do casamento, a quem foram concedidos extraordinários
poderes curativos, empregues, essencialmente, para salvar crianças de mordeduras de cobras.
Devido às suas qualidades maternais, surge, por vezes, com a forma de uma porca ou de uma
vaca, o que leva a que seja confundida com Háthor (deusa do amor), com quem, na realidade, se
fundiu, na Época Baixa (664-332 a.C./ XXVI- XXX Dinastias), período de tempo em que o seu
culto atingiu o auge. Deste modo, o seu culto proliferou-se por toda a bacia mediterrânea, na
qualidade de Ísis- Afrodite, o que demonstra bem a forma como os romanos lhe prestavam culto,
esculpindo imagens em sua homenagem, nas quais ela surgia, muitas vezes, com uma túnica que
flutua ao vento e com um toucado composto por espigas, chifres de vaca, um disco solar e penas
de
avestruz.
Em torno do seu temperamento bravio (tão díspar da sua maternidade e
benevolência!), teceu-se igualmente outra lenta, que narra a forma como
Ísis, intrigada com o segredo que sustinha os poderes de Ra, conjura para
obter o nome secreto do Senhor Universal, matriz das suas forças e
esplendor. Assim, recolhe um pouco da sua saliva, amassa-a com terra e,
com essa argila, molda uma serpente em forma de flecha, que coloca na
encruzilhada dos caminhos desbravados pelo cortejo solar. Escrava da
magia de Ísis, a serpente não hesita em morder Ra à sua passagem, que,
com um silvo de dor, desfalece. Quando recupera a consciência, o deus- sol
evoca, desesperado, todos os deuses, relatando-lhes o seu infortúnio: “ O
meu pai e a minha mãe ensinaram-me o meu nome e eu dissimulei-o no meu corpo, para que
mago algum o possa pronunciar como malefício para mim. Tinha eu saído para contemplar a
minha criação, quando algo que desconheço me mordeu. Não foi nem fogo, nem água; mas o meu
coração está em chamas, o meu corpo treme e os meus membros estão frios. Tragam-me os
meus filhos, os que conhecem as fórmulas mágicas e cuja ciência chega aos céus!”. Ísis debruçase sobre Rá e, simulando uma estupefacção imensurável, questiona: “ Que se passa? Ter-se-ia um
dos teus filhos erguido contra ti? Então, destruí-lo-ei graças ao meu poder mágico e farei com que
seja expulso da tua vista!” Quando o deus- sol lhe confidenciou a matriz do seu padecimento, Ísis
assegurou-lhe que somente lhe entregaria o vital antídoto, caso este lhe revelasse a origem das
suas imensuráveis forças.
Exasperada por Rá se negar a atender á sua reivindicação, Ísis solicitou, novamente: “Diz-me o
teu nome, meu divino Pai! Porque o homem só revive quando é chamado pelo seu nome!”
Escravizado pelo desespero, a personificação da luz oferece a Ísis um rol interminável de nomes
falsos, na ânsia de que a deusa não alcançasse a percepção de que ele procurava ludibriá-la.
Todavia, Ísis replicou: “ O teu nome não está entre aqueles que citaste! Diz-mo e o veneno
abandonará o teu corpo, porque o homem revive quando o seu nome é pronunciado.”
Subjugado pela dor, Rá aceita o ultimato, mesmo sabendo que tal concederia a Ísis autoridade
sobre a sua pessoa. Num suspiro, declara então: “Olha, minha filha Ísis, de modo que o meu
nome passe do meu corpo para o teu... Mal ele saia do meu coração, repete-o ao teu filho Hórus,
submetendo-o
a
um
juramento
divino!”
Na realidade, todas as deusas egípcias possuíam esta dualidade, que as colocava entre a
crueldade extrema e a indulgência infinita, num jogo de luzes e sombras que não as impediram de
ser adoradas através dos tempos. A sua imagem é omnipresente e tanto cobre os sumptuosos
santuários do Vale do Nilo, como os mais íntimos testemunhos de devoção pessoal. Porém, ao
percorrermos o Egipto, deparamo-nos com três locais particularmente abençoados com a magia
de
Ísis:
Behbeit el- Hagar, no Delta, onde um sumptuoso templo foi erigido em honra de Ísis.
Malogradamente, o halo de magia e espiritualidade que nimba esta excelsa deidade revelou-se
impotente para deter aqueles que, não votando qualquer respeito pela sua índole sagrada,
cometeram a ignomínia de destruir tão colossal santuário, onde os céus se reflectiam e renovavam
num jogo divino, a fim de o transformar numa pedreira. Consequentemente, Behbeit el- Hagar é
na actualidade um local quase literalmente desconhecido dos turistas e que semeia uma franca
desilusão nos corações dos intrépidos que ainda o ousam visitar, pois a grandeza daquele que fora
outrora um templo dedicado a uma divindade verdadeiramente excepcional resume-se agora a um
monte
de
escombros
e
blocos
de
calcário
ornados
de
cenas
rituais.
Dendera, no alto Egipto, eterno berço de feitiços onde Ísis desabrochou para a vida, onde nos
deparamos com um santuário de Háthor parcialmente conservado, com um templo coberto e com
o mammisi, ou seja, “templo do nascimento de Hórus), assim como com um exíguo santuário,
onde a etérea Ísis nasceu, deslumbrando o mundo com sua pele rosada e revolta cabeleira negra.
Filae, ilha- templo de Ísis, que serviu de refúgio à derradeira comunidade iniciática egípcia,
mais tarde (séc. VI d. C., mais precisamente) exterminada por cristãos escravos do fanatismo.