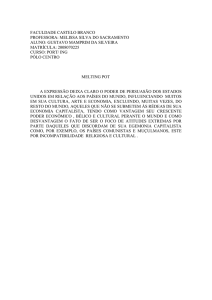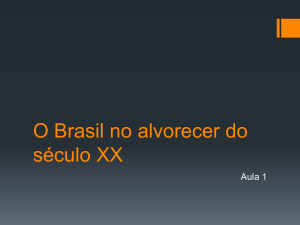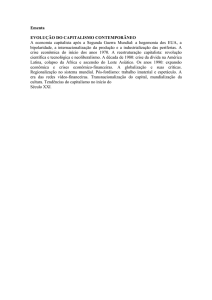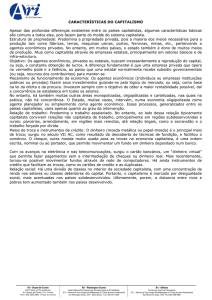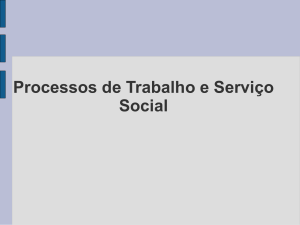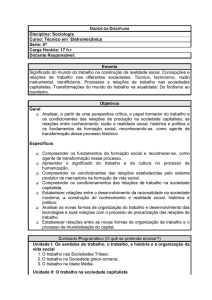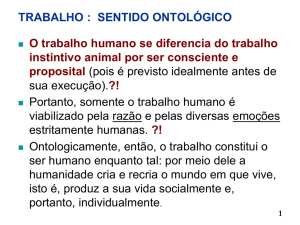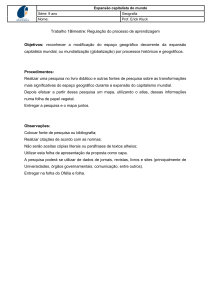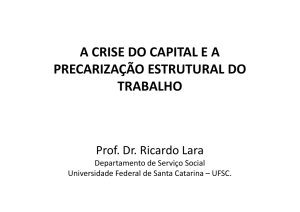A
CRÍTICA
ONTOLÓGICA
DO
DIREITO:
A
INSTRUMENTALIDADE DO DIREITO NA PRECARIZAÇÃO DO
TRABALHO DA MULHER
Ana Beatriz Cruz Nunes26
Fernanda Cristina Barros Marcondes27
Resumo
Historicamente, a exigência de um povo por direitos está atrelada a uma perspectiva
legalista, ou seja, na exigência de direitos positivados. No entanto, as diversas teorias
críticas do direito latinoamericanas estiveram intimamente ligadas a contextos
revolucionários ou de luta organizada de movimentos sociais, exigindo conceitos
jurídicos embasados na consciência e experiência histórica de classe explorada. Nesse
sentido, entendemos que para solucionar as demandas específicas advindas da produção
capitalista no atual contexto de globalização, reestruturação produtiva e crise econômica
mundial, o Direito positivado é insuficiente e ineficaz para a realização plena da justiça
e da cidadania. Portanto, a partir da crítica ontológica do Direito, entendemos que
compreender a centralidade do trabalho é fundamental para a crítica da realidade
histórica e das transformações pelas quais o mundo do trabalho, a classe trabalhadora e
os movimentos operários e sindicais passaram nas últimas décadas. Assim,
analisaremos o reflexo de tal dinâmica no pólo industrial calçadista de Franca/SP, cuja
consequência mais latente é a domicialização e a ampliação da exploração do trabalho
da mulher, num contexto de precarização do trabalho e em desrespeito aos direitos
trabalhistas conquistados através da luta dos movimentos operários e sindicais.
Introdução
O trabalho é o elemento central da relação entre o homem e a natureza, uma vez
que é através do trabalho que o homem produz e reproduz a si mesmo nessa relação.
Segundo Lukács, o trabalho é “em sua natureza uma inter-relação entre homem
(sociedade) e natureza(...), inter-relação (...) que se caracteriza acima de tudo pela
passagem do homem que trabalha, partindo do ser puramente biológico ao ser social(...).
26
Graduanda do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UNESP,
campus de Franca. É bolsista de iniciação cientifica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP), integrante do Núcleo de Estudos de Direito Alternativo (NEDA), extencionista do
grupo Assessoria Jurídica Popular (AJUP) e membro do grupo de pesquisa Estudos em Direito e
Mudança Social (DEMUS).
27
GraduandadoCursodeDireitodaFaculdadedeCiênciasHumanaseSociaisdaUNESP,
campusdeFranca.ÉintegrantedoNúcleodeEstudosdeDireitoAlternativo(NEDA).
Todas as determinações que (...) estão presentes na essência do que é novo no ser social
estão contidas in nuce no trabalho. O trabalho, portanto, pode ser visto como um
fenômeno originário, como modelo, protoforma do ser social”28. As principais
consequências da centralidade do trabalho é que este torna-se protoforma da práxis
social; como também elemento central na humanização do homem, uma vez “que sua
constituição ontológica forma o ponto de partida genético para uma outra questão vital
que afeta profundamente os homens no curso de toda a sua história: a questão da
liberdade”29. Sendo assim, compreender a centralidade do trabalho é fundamental para a
crítica da realidade histórica e das transformações pelas quais o mundo do trabalho, a
classe trabalhadora e os movimentos operários e sindicais passaram nas últimas
décadas. Nesse sentido, faz-se mister analisar tais transformações sob o prisma do
Direito do Trabalho para que seja possível compreender os entraves e desafios na
efetivação de garantias e direitos aos trabalhadores, como também compreender sob
quais forças e interesses o Direito do Trabalho veladamente se articula.
A sociedade civil-burguesa é a mais complexa e desenvolvida relação histórica
de produção e as categorias que exprimem as relações desse tipo de sociabilidade nos
permitem compreender a sua estrutura e, ao mesmo tempo, entender as relações sociais
das sociedades menos complexas. Portanto, para que se realize uma análise crítica dos
complexos e categorias inerentes as sociedades capitalistas e, consequentemente,
fundamentais ao seu desenvolvimento histórico e dialético, é necessário a compreensão
de como estes fenômenos se organizam dentro da totalidade das sociedades
caracterizadas pelo atual modelo de organização das forças produtivas.
A construção do Direito do Trabalho como hoje o entendemos, se dá a partir do
advento do capitalismo, pois, embora houvesse regulamentação das relações de trabalho
desde os primórdios da organização humana em sociedade, uma vez que o trabalho é
um fenômeno social, sua construção, sob a perspectiva de normatividade do Estado se
dá a partir do advento do capitalismo e das relações de trabalho e produção advindas
desse modo de produção. “O direito do trabalho é um produto típico do século XIX.
Somente nesse século surgiram as condições sociais que tornaram possível o
aparecimento do direito do trabalho, como um ramo novo da comum ciência jurídica,
com características próprias e autonomia doutrinária”30. Somente com o advento da
técnica, da industrialização e da reorganização do trabalho dentro dos moldes da
28
LUKÁCS,Georg.TheOntologyofSocialBeing:Labour.MerlinPress.Londres,1980,IVV.
29
Idem: 112-3.
30
MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao Direito do Trabalho. 2ª ed. rev. e atualizada.
São Paulo: LTr, 1978, p. 43.
produção capitalista foram dadas as condições sociais e humanas que permitiram o
aparecimento de novos problemas que não mais podiam ser resolvidos através das leis
clássicas e costumeiras.
Historicamente, o Direito é entendido como um fenômeno ligado à
regulamentação da sociedade dentro de uma concepção predominante de que sem este
não há relações efetivamente sociais. Enquanto fenômeno considerado inerente a todas
as sociedades, dentro da cotidianidade capitalista o Direito pode ser compreendido
como um instrumento tanto de transformação social como enquanto manutenção do
“status quo”, uma vez que este é um mecanismo de dominação indissociável da
sociabilidade capitalista. Portanto, para se analisar o fenômeno jurídico, é necessária
uma compreensão que ultrapasse a epistemologia racionalista calcada na neutralidade e
na não ideologização do Direito, ou seja, que não interprete-o enquanto mero dado
concreto calcado em uma objetividade reificada. Para tal, é fundamental a compreensão
ontológica, dialética e histórica da instrumentalidade do Direito no tocante,
principalmente, à precarização do trabalho.
Sendo assim, o presente trabalho buscará compreender, a partir da metodologia
marxista e da crítica ontológica de Lukács, como a precarização do trabalho da mulher
se efetiva dentro do contexto de superexploração do trabalho e de que modo se opera a
perda das garantias e direitos trabalhistas conquistados pela classe trabalhadora no seio
do próprio Direito do Trabalho.
1. Crítica ontológica do Direito: os diferentes complexos e a mediação entre o
indivíduo e a totalidade
Para a concepção marxista, a “natureza humana” não deve ser compreendida
enquanto mera abstração idealista, mas sim através de seu desenvolvimento histórico
dentro de um conjunto de relações sociais; sendo necessário, portanto, antes de tudo,
que esta seja entendida como uma relação dialética e histórica entre o homem e a
natureza. Nesse sentido, faz-se necessário a construção de uma crítica ontológica e
materialista que parta do ser social e que não se abstenha da análise das representações e
complexos inerentes à sociabilidade civil-burguesa.
O homem não é somente um ser puramente biológico, mas um ser que se
organiza em sociedade e que tem esta como mediação essencial. Sendo-nos essencial a
mediação da totalidade da sociedade, faz-se mister compreender como se dá a mediação
política e jurídica na formação da própria organização do Estado. Para tal, é
fundamental compreender os diferentes complexos e a mediação entre o indivíduo
singular e a totalidade da sociedade.
Segundo Lukács, o ser social é um complexo de complexos, de maneira que até
mesmo em seu estágio mais primitivo existem relações e interações entre o complexo
total e a esfera individual de cada sujeito. Nesse sentido, a ontologia do ser social
estabelece uma inevitável indissociabilidade entre a esfera particular do ser e as relações
estabelecidas dentro de determinada sociedade.
Sendo assim, os complexos constituem partes de um todo entendido enquanto a
própria totalidade da sociedade que apresentam, intrínseca e dialeticamente, uma
dependência e uma autonomia em relação ao complexo total. É importante destacar que,
ao atribuir tal característica ao ser social, o filósofo húngaro avança no sentido de uma a
análise da sociedade de classes que supera o método cartesiano de privilegiar a
especificidade da parte em detrimento do complexo total.
Ainda nesse sentido, Lukács compreende que “o desenvolvimento das forças
produtivas é necessariamente também o desenvolvimento das capacidades humanas”31;
no entanto, dentro da sociabilidade capitalista, a partir do surgimento da divisão da
sociedade em classes, faz-se necessária ainda a divisão do trabalho. Assim, os conflitos
sociais e as funções diferenciadas exercidas entre as classes sociais dentro da divisão
social do trabalho, faz com que seja necessária a mediação das classes sociais. Segundo
o filósofo húngaro,
quanto mais se desenvolve o trabalho, e com ele a divisão social do trabalho, tanto mais autônomas se
tornam as formas de teleologia de segundo tipo, e tanto mais podem se desenvolver em um complexo por
si da divisão do trabalho32.
Portanto, a teleologia secundária mediada pelas classes sociais está
inevitavelmente ligada ao processo de alienação e de dominação do ser social,
evidenciando necessariamente a indissociabilidade entre o pôr teleológico individual
complexamente mediado em relação ao complexo social total, uma vez que os atos
teleológicos dos indivíduos estão inseridos dentro das determinações que envolvem as
relações sociais entre os sujeitos.
Assim, a forma de divisão social do trabalho mais importante é aquela que permite a configuração da
classe social; pois, por meio dela, os atos teleológicos se desenvolverão de tal maneira que as
causalidades postas se relacionem realizando uma influência considerável sobre a reprodução social e
sobre a natureza33.
Com o surgimento da mediação política (sendo esta entendida como mediação
das classes sociais), dissolve-se definitivamente a união entre o interesse público e o
31
LUKÁCS, L'straniazone, ontologia dell'essere sociale II. Trad. Maria Norma Alcântara
Brandão de Holanda e Sergio Lessa. Roma: Riuniti, 1981a, p. 564.
32
LUKÁCS, La riproduzioni, ontologia dell'essere sociale II. Trad. Sergio Lessa. Roma: Riuniti,
1981b p. XXVI.
33
SARTORI, Vitor Bartoletti. Lukács e a crítica ontológica ao direito. São Paulo: Cortez, 2010, p.
61.
interesse privado, surgindo assim o Estado, entendido enquanto um complexo
especializado acima da sociedade. Sendo assim, é importante destacar que o Estado
nasce da necessidade de organização da burguesia em nível nacional, como também da
necessidade de se conferir aos seus interesses de classe um caráter geral buscando-se,
efetivamente, a garantia da propriedade privada e do prevalecimento de seus interesses
de classe. A mediação política trata-se, portanto, de um processo de mediação dentro do
próprio processo dialético e contraditório de dominação, pois, caracteriza-se pela
atenuação do domínio da classe social detentora do poder através da formação de um
complexo especializado que, embora, aparentemente não apresente qualquer vínculo
com os interesses da classe detentora do poder, na realidade está atrelado à efetivação
destes. Desse modo, o complexo político passa a ser formulado enquanto um complexo
de direção composto por membros da sociedade independentes dos interesses das
classes sociais. Portanto, as próprias relações de produção e reprodução do ser social
estão ligadas ao desenvolvimento das formas políticas e ideológicas sobre as quais o
processo de trabalho exerce um papel influente, tanto em relação à transformação das
forças produtivas como na construção e desenvolvimento histórico do ser social.
A partir da crítica ontológica de Lukács, a divisão da sociedade em classes
sociais com sua consequente mediação política adquiriu uma figura própria dentro da
divisão social do trabalho sob a forma dos juristas, entendidos enquanto um grupo de
pessoas que se encontra dissociado dos interesses de classe e das relações da sociedade,
aos quais caberiam a regulamentação dos problemas e das necessidades surgidas desse
tipo de sociabilidade. Surge assim a então chamada “via institucional” e o Direito
enquanto elemento indissociável do Estado e da mediação política.
O Direito surge como mediação no seio do complexo social total, e como um complexo autônomo com
legalidade própria no momento em que a regulamentação dos conflitos sociais não é mais possível sem
um estrato de especialistas que se encontre – pelo menos na aparência – acima das classes sociais e da
sociedade34.
Sendo assim, o Direito surge enquanto uma ferramenta de dominação de classe;
no entanto, essa dominação não assume o caráter de ser exercida a partir do uso puro e
simples da força (ainda que esta esteja institucionalizada e legitimada dentro do aparato
do Estado). Portanto a “via institucional” surge, inevitavelmente, nesse contexto em que
o Direito é essencial à mediação dos conflitos inerentes a luta pela dominação e pela
hegemonia na sociedade civil-burguesa.
As sociedades caracterizam-se pelo papel ativo do homem na sua construção por
meio da dominação de classe e da existência de diversas formas de mediação, sendo o
Estado uma dessas formas que surge na organização social a partir de determinado grau
de desenvolvimento e especialização da sociedade, tratando-se “da práxis social que
34
Idem: p. 67.
passa pela mediação alienada de uma forma política inerente ao modo de produção
capitalista35”.
A autonomia relativa dos complexos e a sua consequente legalidade própria dão origem a formas de
teleologia que, principalmente em sua “via institucional”, direcionam-se não somente aos homens de
maneira abstrata; dirigem-se ao domínio desses, aos conflitos decorrentes da divisão da sociedade em
classes sociais e à distinção entre o interesse “publico” e o “interesse privado” (distinção impensável sem
o fenômeno jurídico, diga-se de passagem)36.
Na reprodução, portanto, percebe-se a caracterização do ser social enquanto
complexo de complexos onde, de um lado encontra-se o indivíduo singular e de outro a
totalidade da sociedade, sendo importante ressaltar que ambos são indissociáveis ainda
que essa relação se dê de maneira complexamente mediada. A escolha alternativa
envolve uma série de mediações sociais que envolvem a totalidade da sociedade e suas
instituições a partir de sua historicidade. Sendo assim,
a própria normalidade defendida pelo direito, principalmente no tocante a chamada “segurança jurídica”
já em sua própria aparição imediata é conivente com o desenvolvimento das relações de produção
vigentes, primando, na mais ingênua das hipóteses pela “continuidade imediata das condições de
reprodução de cada vida individual37”.
Sendo assim, para a realização de uma análise ontológica do fenômeno jurídico,
considerado a partir de sua dimensão histórica, social e dialética, faz-se necessária a
compreensão crítica da teoria kelseniana e seu inevitável atrelamento às mais diversas
ideologias, bem como o papel que o dever ser exerce sobre a história e,
consequentemente, sobre a construção do Direito, uma vez que o dever ser é parte
estrutural da ontologia do Direito e de seus papéis ideológicos.
Primeiramente, é importante destacar que Kelsen, na formulação de sua Teoria
Pura do Direito, levou às últimas consequências o normativismo da Escola da Exegese.
Uma vez que a principal preocupação do jurista era a construção do Direito enquanto
uma ciência com objetivo puro e livre de qualquer “contaminação” política, ideológica,
econômica, cultural, etc.; ou seja, dentro de uma racionalidade exclusivamente jurídica,
Kelsen buscou afastar a ciência jurídica de qualquer impureza a partir de uma ideal de
objetividade e exatidão impossíveis de serem metodologicamente alcançados dentro de
uma perspectiva crítica da compreensão da materialidade e do desenvolvimento
histórico da sociedade civil-burguesa.
Sendo assim, Kelsen postulou o Direito enquanto um conteúdo exclusivamente
35
Idem: p.70.
36
Idem: p. 69.
37
LUKÁCS, La riproduzioni, ontologia dell'essere sociale II. Trad. Sergio Lessa. Roma: Riuniti,
1981b p. p. LXIV.
reduzido à norma, postulando que o “Direito é lei”. Portanto, para a teoria kelseniana,
todo o conteúdo social e ontológico do fenômeno jurídico, responsável pela
compreensão das diversas possibilidades do Direito, constitui objeto e matéria de outras
ciências sociais. O jurista postula ainda que não há quaisquer fundamentos ideológicos
ou axiológicos na construção do Direito, de forma a afastar todo o debate da questão da
Justiça, uma vez que a análise de tal conteúdo fortemente valorativo está situada fora do
campo da ciência jurídica, além de apresentar um potencial risco de contaminação da
pureza da norma.
Portanto, para a teoria kelseniana, os critérios de validade e de eficácia da norma
não estão inscritos dentro de um “dever ser” ou de uma análise axiológica ou ontológica
do direito, mas sob uma perspectiva de objetividade e racionalidade pautada nos
pressupostos metodológicas e formais inscritos na lógica hermética do ordenamento
jurídico. Sendo assim, a validade da norma é compreendida enquanto vigência, ou seja,
uma norma é válida enquanto está em vigor; e a sua eficácia não deve ser pressuposta
ou entendida a partir de critérios axiológicos, uma vez que não existem critérios aos
quais uma norma deve ser confrontada para que se obtenha seu caráter de eficácia (e
caso se queira buscar tais critérios, tal tarefa não cabe à ciência jurídica, mas aos outros
ramos das ciências sociais). Dessa forma, é a (abstração) da norma fundamental que dá
validade a todo o ordenamento jurídico, sendo resolvida toda a questão concernente à
validade da norma dentro dos rigorosos critérios formais da lógica kelseniana. Por fim,
é importante ressaltar o avanço de Kelsen na de construção de uma ciência do direito;
no entanto, sua teoria exerce, notadamente, uma importante função ideológica ao
ocultar todas as contradições da sociedade de classes. Nesse sentido, pode-se dizer que a
ideologia implícita na teoria kelseniana é uma das principais razões de seu sucesso
enquanto teoria do direito, muito bem acolhida enquanto uma “doutrina que desvincula
da ciência do Direito qualquer indagação acerca da validade social da norma jurídica, e
que reduz, desse modo, o papel do jurista quando muito ao de um mero intérprete da
legislação vigente38”.
Sendo assim, ainda que se busque negar teórica e doutrinariamente, o Direito
configura-se como ideologia dentro da cotidianidade capitalista; sendo importante
ressaltar que, segunda a compreensão de Lukács, sempre esteve presente na consciência
dos homens a ideia de um direito não posto que cumpre, assim como o direito posto, a
construção do próprio critério de normalidade e legalidade democrática dentro da
sociabilidade burguesa-capitalista.
Segundo Sartori,
os parâmetros que determinam a efetividade de um dever ser não são a verdade ou inverdade de
determinada concepção do Direito, mas a possibilidade, sempre histórica, de as teleologias secundárias
38
MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito: conceito, objeto, método. 2. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 110.
originadas na mediação jurídica serem objetivadas em meio às mediações históricas concretas. Trata-se
de uma questão objetiva, ligada à própria configuração do ser social, e não da justeza de tal ou qual
concepção39.
2. A mulher no mundo do trabalho e a instrumentalidade do Direito enquanto
mediador dos conflitos sociais
Como explanado até o momento, na economia de mercado, inserida dentro do
modo de produção capitalista, a dimensão econômica das relações sociais não mais é
ocultada por meia da desigualdade jurídica, implicando necessariamente na igualdade
jurídica dos homens. Nesse sentido, uma visão crítica e dialética da sociedade de classes
não poderá deixar de notar como a divisão sexual do trabalho e a precarização do
trabalho da mulher se desenvolvem como mecanismos de perpetuação histórica do
modo de produção capitalista. Destacando-se a contribuição de Saffioti dentro dessa
problematização, é necessário que se busque o rompimento “com o raciocínio analógico
que atribui às categorias de sexo características semelhantes àquelas presentes nas
classes sociais, procurando-se desvendar, na elaboração social do fator sexo, os
requisitos estruturais e funcionais do sistema capitalista de produção”. (pag. 19)
Notadamente, a condição da mulher e as representações desta dentro da
sociedade capitalista evidenciam como os problemas da mulher não se separam dos
problemas gerais da sociedade, pois estão intimamente ligados à racionalização
ideológica e às formas de dominação social.
Segundo Saffioti, os fatores de ordem natural como sexo e etnia operam, dentro
desse sistema, como mecanismos de alienação frente ao aliviamento artificial e
simulado dos conflitos inerentes ao modo de produção capitalista. Sendo assim, buscase deslocar a atenção da sociedade em relação às estruturas que garantem e perpetuam a
dominação da burguesia dos conflitos sociais para outras características ou elementos
que determinadas categorias ou grupos sociais possuem. Portanto, como ressalta
Saffioti,
Do ponto de vista da aparência, portanto, não é a estrutura de classes que limita a atualização das
potencialidades humanas, mas, ao contrário, a ausência de potencialidades de determinadas categorias
sociais que dificulta e mesmo impede a realização plena da ordem social competitiva40.
Sendo o trabalho o momento de realização da práxis do ser social, é através da
análise dessa categoria que se torna possível a compreensão de como se operam a
39
SARTORI, Vitor Bartoletti. Lukács e a crítica ontológica ao direito. São Paulo: Cortez, 2010, p.
77.
40
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade.
Petrópolis: Vozes, 1976, pg. 29
marginalização de determinados contingentes populacionais das relações de produção a
partir da seleção de caracteres raciais ou sexuais para operarem como marcadores
sociais que permitem a opressão dos membros de uma sociedade dentro de um
determinado contexto histórico.
O mundo econômico e do trabalho nunca foi estranho à mulher. Historicamente,
em todas as épocas e locais, a mulher sempre participou da criação de riqueza social
através do produto de seu trabalho. No entanto, em todas as esferas públicas ou privadas
de sua vida, a mulher sempre foi submetida a uma posição de incapacidade e
subordinação, devendo ser tutelada por um homem. O sexo, portanto, opera como um
fator de discriminação e desvalorização sociais dentro do modo de produção capitalista,
de modo que “a tradição de submissão da mulher ao homem e a desigualdade de direitos
entre os sexos não podem, contudo, ser vistas isoladamente”41.
“As categorias de sexo são, pois, vistas não como entidades empíricas autônomas, aptas, cada uma delas
isoladamente e em virtude de suas propriedades intrínsecas, a promover uma nova estruturação das sociedades
competitivas. (…) Enquanto tais, elas cobrem toda a extensão de uma sociedade, cruzando, pois, com a divisão desta
em classes antagonicamente situadas no sistema produtivo de bens e serviços, o que torna difícil distinguir nelas
aquilo que tem origem em si próprias e o que emana da necessidade de o sistema manter seu padrão de equilíbrio”42
A oposição que o capital exerce sobre o processo de emancipação da mulher
deve-se ao fato de que este usufrui, para a preservação de seu sistema de dominação, do
trabalho feminino, preservando os mecanismos estruturais que geram a subordinação da
mulher. Desse modo, sob a ótica da expansão e consolidação histórica do capitalismo, o
mundo do trabalho incorpora cada vez mais a força de trabalho feminina, confirmando
sua feminização, porém, não sob a perspectiva de emancipação da mulher frente a
lógica de dominação do patriarcado, mas sim dentro de uma lógica de precarização e
redução de custos com o trabalho.
É cediço que as crises do capitalismo e sua reestruturação produtiva demonstram
a capacidade do modo de produção capitalista de absorver a força de trabalho das
categorias sociais dominadas e precarizadas. Dentro do contexto atual de
desenvolvimento das forças produtivas é reconhecido que com o esgotamento do
modelo taylorista/fordista de acumulação de capitais, o modo de produção capitalista é
acometido por uma fase de crises estruturais que somente encontrou solução, a partir de
um longo processo de reestruturação produtiva e inauguração de um novo paradigma de
acumulação de capitais que reorganizou as relações trabalhistas incidindo
expressivamente nas relações de exploração do trabalho, e consequentemente as
relações de exploração de gênero; pois, como bem coloca Helena Hirata, “a divisão
41
42
Idem: p. 33.
Idem: p. 19
sexual é precondição para a flexibilidade do trabalho43”.
Uma vez que as mudanças de paradigmas nos processos de produção que
promoveram a incorporação da mão de obra feminina no mundo do trabalho
objetivaram o aprofundamento da política de contratação com vistas à redução de custos
com o trabalho. Portanto, para o funcionamento eficaz do sistema capitalista de
produção, a igualdade material de gênero é inadmissível em razão do importante papel
de dominação que a divisão sexual do trabalho cumpre, a absorção da mão de obra
feminina dentro do contexto da reestruturação produtiva implica, necessariamente, na
desqualificação e desvalorização do emprego.
Sendo assim, o processo de reestruturação produtiva do capitalismo possui,
reconhecidamente, uma dimensão de gênero, pois seus reflexos atinge particularmente o
trabalho das mulheres uma vez que a emergência desse novo paradigma produtivo
reforça a exploração de gênero e a divisão sexual do trabalho. A flexibilização das
relações de trabalho facilitou a exploração do trabalho da mulher em condições
precárias, de subcontratação e informalização, numa perspectiva de quase nenhuma
segurança jurídica. Desse modo, é possível afirmar que as mudanças nos paradigmas de
produção do capitalismo têm reforçado a desigualdade na divisão sexual do trabalho.
Nesse sentido, a luta pela emancipação econômica e social da mulher e pelo seu direito
ao trabalho com todas as especificidades a ele inerentes, faz-se mister diante do
contexto, sem precedentes históricos, de desregulamentação e flexibilização do
trabalho, no qual a opressão contra os trabalhadores, atinge mais expressivamente a
mulher. Portanto, vale destacar que a luta contra a divisão sexual do trabalho é uma luta
contra o próprio modo capitalista de produção e sua estrutura de dominação de classe.
O que ocorre na realidade é o predomínio do trabalho aliado precarizado aliado a
extensas jornadas de trabalho, que ultrapassam oito horas diárias e, habitualmente,
trabalho noturno; onde inexistem descanso semanal, férias, décimo terceiro salário,
licença maternidade, como qualquer outra garantia trabalhista. O que se visualiza é uma
agravante superexploração do trabalho e o completo alijamento do trabalho da mulher e,
consequentemente, do trabalho infantil.
Embora a doutrina e a jurisprudência do Direito do Trabalho busque assegurar a
aplicação do Direito no sentido de valorização do trabalhador por entendê-lo como o ele
mais “frágil” da relação de emprego, nesse contexto de superexploração do trabalho,
uma análise crítica desse fenômeno evidencia que o alijamento destes sujeitos em
relação às poucas garantias e direitos trabalhistas conquistados através das lutas sociais
acaba sendo justificado pelo próprio Direito, uma vez que as trabalhadoras acabam se
submetendo à precarização do trabalho e a subcontratação pelo próprio Direito do
43
Senac
HIRATA, Helena; SEGNINI, Liliana. Organização, trabalho e gênero. São Paulo: Editora
São Paulo, 2007, p. 104.
Trabalho.
Nas sociedades capitalistas, o trabalho digno e valorizado é, inegavelmente, o
fator essencial à realização da dignidade humana; portanto, um dos principais
instrumentos para a realização da justiça social seria o Direito do Trabalho, uma vez que
este não se restringe a mera regulação das relações trabalhistas, configurando-se em um
importante espaço de disputa e atuação política dos quais os movimentos sociais de
apropriam para garantir a efetivação de seus direitos fundamentais.
Se até determinado momento histórico a desvalorização do trabalho esteve
ligado à uma ideia de “falha” do modo capitalista de produção, devendo ser arduamente
combatida, atualmente, a precarização faz parte da perpetuação desse sistema sendo
inerente a ele e integrando, portanto, sua própria lógica.
Uma análise crítica do contexto de superexploração do trabalho (que envolve, de
maneira mais expressiva, a exploração do trabalho da mulher sob a égide da questão de
gênero e da feminização do mundo do trabalho) evidencia que o completo alijamento
destes sujeitos em relação às poucas garantias e direitos trabalhistas conquistados acaba
sendo justificado pelo próprio Direito, uma vez que as relações de trabalho conheceram
um processo de flexibilização aliado aos contratos de terceirização nos quais os
trabalhadores e as trabalhadoras tiveram que se submeter à precarização pelo próprio
Direito do Trabalho, haja visto o exemplo da tramitação do Projeto de Lei 4.330A/2004, conhecido como “PL da terceirização”, que se aprovado, permitirá a
generalização da terceirização para toda a economia, provocando a lesão de direitos
sociais, trabalhistas e previdenciários no País. Para compreender tais fenômenos é
necessária uma análise dialética e ontológica da formação e da construção do direito do
trabalho que compreendam os conflitos advindos da reorganização do trabalho dentro
do contexto das transformações do mundo do trabalho das últimas quatro décadas.
Sendo assim, por fim, vale destacar a necessidade, exposta por Saffioti, de
desmistificação e questionamento da capacidade instrumenta das ciências humanas e
sociais na afirmação e manutenção do status quo capitalista, das quais o direito exerce
papel fundamental enquanto complexo mediador da dominação na sociedade de classes.
Somente essa desmistificação do Direito permite a compreensão de seu papel ideológico
e a vizualização da influência do complexo político sobre o fenômeno jurídico como
também sua própria função política dentro de uma sociedade de classes.
Considerações Finais
Ao longo do presente artigo sobre o fenômeno jurídico e sua validade
(notadamente a percepção do Direito enquanto conjunto de relações sociais e não
norma, representação ou metafísica), compreendemos que o Estado não é, e não deve
ser, a única fonte legítima de produção e compreensão do Direito. Uma vez que a crise e
o esgotamento do modelo liberal-normativista não oferece respostas satisfatórias e
eficazes para a resolução dos problemas políticos e sociais inerentes ao modo de
produção capitalista, faz-se mister compreender que somente uma perspectiva
descentralizadora e anti-dogmática do fenômeno jurídico será capaz de avançar no
sentido da superação dos fundamentos técnicos e formais do pensamento positivista.
A partir da crítica ontológica do fenômeno jurídico, têm-se a compreensão de
que a efetividade do Direito se dá, portanto, na medida em que fornece as condições
necessárias à certas formas de práxis social cotidianas. O fenômeno jurídico é, portanto,
um dado histórico-evolutivo. Uma vez que as posições teleológicas oscilam entre o ser e
o dever ser, a mediação jurídica tem importante papel na cotidianidade civil-burguesa
uma vez que o Direito atua propriamente enquanto ideologia.
Sendo assim, é necessário um novo fundamento de validade para a produção
jurídica que reconheça novas perspectivas do fenômeno jurídico, embasadas e
consoantes à realidade política e social de nossa sociedade. Para tal, urge repensar como
o direito se estrutura, se instrumentaliza, é operacionalizado e como ele se efetiva, para
que seja possível superar as insuficiências institucionais e burocráticas que
"contaminam" o processo normativo e o fenômeno jurídico como um todo (desde sua
constituição até sua efetiva aplicação).
Notadamente, tal compreensão se faz ainda mais urgente quando analisamos a
realidade sócio-cultural e política latinoamericana enquanto sociedades de capitalismo
periférico em que estamos inseridos; pois, para além da imposição dos costumes e
modos de produção e reprodução da vida que nos foram impostos enquanto países
colonizados, ainda estamos “obrigatoriamente” vinculados às estruturas do colonialismo
do saber e do poder, que demarcam e ditam os contornos de todo o fenômeno político e
normativo dos países latinoamericanos. Portanto, toda a abordagem e produção do
Direito enquanto forma e força normativas estão arraigadas à ideologia jurídica
européia-burguesa-kelseniana.
Na contra-mão dessa ideologia jurídica dominante, as diversas teorias críticas do
direito latinoamericanas produzidas até hoje estiveram intimamente ligadas a contextos
revolucionários ou de luta organizada de movimentos sociais frente à insatisfação
popular em relação aos regimes político em que estavam inseridos. Em relação ao
contexto jurídico crítico latino-americano é importante elencar o caso mexicano, que é
notadamente o mais paradigmático, pois desenvolveu uma série de reflexões e propostas
teóricas (principalmente os juristas Jesús Antonio de La Torre Rangel e Óscar Correas)
acerca das possibilidades do fenômeno jurídico “nascido do povo”. Como bem observa
Jesús Antonio de La Torre Rangel,
se, nos acercando um pouco às teses de Antonio Gramsci, aceitamos que entre a estrutura e a
superestrutura existe uma interação dialética, quer dizer, que ambas se retroalimentam e formam um
“bloco histórico”, uma unidade historicamente orgânica, deixamos evidente um amplo espaço para usar o
Direito de una maneira distinta a como a classe dominante o quer.44
Embora historicamente a exigência do povo por seus direitos esteve atrelada a
uma perspectiva legalista, no sentido de que há a exigência de seus direitos positivados,
ou seja de “acordo com a lei”, no entanto, nada obsta que o povo possa pleitear também
conceitos jurídicos embasados na consciência e experiência histórica de classe
explorada; e essa perspectiva de juridicidade está além do direito positivo, pois está
embasada em um conceito de justiça alternativo à legalidade vigente. Portanto, pode-se
dizer que,
por um lado está a juridicidade que nasce da consciência do povo explorado que exige justiça e de outro a
juridicidade da classe dominante que tem como fundamento de seus privilégios normas jurídicas vigentes
mas injustas. Constituindo, para dizer nos termos de Dussel, a ‘ilegalidade da justiça’ vs. ‘a legalidade da
injustiça’45 (tradução livre).
Portanto, faz-se mister encontrar novos paradigmas jurídico-normativos que
possam eficientemente solucionar as demandas específicas advindas da produção
capitalista no atual contexto de globalização e crise econômica mundial, uma vez que
dentro deste contexto, repleto de contradições sociais, o Direito posto e positivado é
insuficiente e ineficaz para a realização plena da justiça e da cidadania.
Mais especificamente em relação ao direito do trabalho, faz-se mister
compreender que os reflexos da implementação do ideário e da política Liberal no
Direito e no Direito do Trabalho ainda vigem na sociedade dita “pós-industrial”, uma
vez que a concepção hegemônica do Direito é a de que todos os homens livres possuem
as mesmas condições para alcançar seus objetivos, enquanto por outro lado traz consigo
os elementos que ampliam as desigualdades sociais, a miséria e a exploração do
trabalhador. Nesse sentido, é importante compreendermos que o direito do trabalho não
surge como instrumento de emancipação da classe trabalhadora, mas como forma de seu
impedimento. No entanto, paradoxalmente, com ele inicia-se um processo de
valorização do trabalho e, aos poucos, este deixa de ser a expressão de um direito para
se tornar um fator de liberdade.
A divisão da sociedade em classes sociais envolve a divisão social e sexual do
trabalho aliada ao domínio político de uma classe sobre; portanto, da divisão social do
trabalho surgem tanto a alienação como a socialização. Atualmente, o valor conferido
ao trabalho no auge do direito do trabalho vem sido reduzido em razão da dinâmica
44
TORRE RANGEL, Jesús Antonio de la. El derecho como arma de liberación en América Latina.
México, D.F.: Centro de Estudios Ecuménicos, 1984, p. 101.
45
TORRE RANGEL, Jesús Antonio de la. El derecho que nace del pueblo. Bogotá: FICA; ILSA,
2004, p. 21.
capitalista de desvalorização e precarização do trabalho. Essa dinâmica, nos dias de
hoje, não mais se apresenta como resultado ou subproduto indesejado do capitalismo,
mas, ao contrário, é algo inerente a esse sistema de produção, fazendo parte de sua
dinâmica e integrando sua lógica.
Sendo assim, evidencia-se que diante da realidade posta de precarização das
relações de trabalho, com todas as problemáticas inerentes ao contexto de flexibilização
e reestruturação produtiva (hiperexploração do trabalho, divisão sexual do trabalho,
trabalho infantil, etc), é fundamental que o Direito do Trabalho tutele as relações de
trabalho, num sentido inverso ao de flexibilização para que os direitos sociais, humanos
e fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras sejam ampliados e garantidos. “As
condições de precarização e as dificuldades de acesso aos mecanismos de realização da
justiça são tantas e tamanhas que é preciso garantir que existam direitos expressos a
esses trabalhadores. Combater a flexibilização é favorecer o próprio acesso à justiça”46.
Para além disso, é cediço que o atual paradigma jurídico engendra-se dentro de
uma lógica de dominação de uma classe social sobre outra(s); na qual “uma das
premissas fundamentais da regulamentação jurídica é, assim, o antagonismo dos
interesses particulares”47 sendo o direito entendido como “um conjunto de relações
sociais que se estabelecem entre sujeitos proprietários que trocam entre si suas
mercadorias tornadas equivalentes”48 . Portanto, compreende-se que a efetivação e a
conquista de direitos fundamentais, sociais e trabalhistas, bem como a emergência de
um novo paradigma de direito não pode ser restrita ao âmbito jurídico, mas conquistado
através da luta dos movimentos sociais que representam uma alternativa à lógica
mercantil-capitalista.
No mundo capitalista, o trabalho digno e valorizado é fator essencial para a
realização da justiça social e a efetivação da dignidade humana. Para Jorge Luiz Souto
Maior o instrumento para essa realização seria o direito do trabalho, uma vez que este se
apresenta, para além de um mero regulador das relações de trabalho, como um
importante espaço de atuação política, pois enquanto protetor dos interesses da classe
trabalhadora, apresenta-se como instrumento de libertação dos trabalhadores. Nas
palavras do jurista,
para se alcançar a valorização do trabalho, tendo o direito como instrumento, o primeiro passo é,
exatamente, não desprezar a importância do direito na construção de nossa realidade. Embora o direito
46
COZERO, Paula Talita. Exploração e precarização: a relação capitalxtrabalho e a negação de
direitos aos trabalhadores do corte de cana. (Trabalho de conclusão de curso). Universidade Estadual
Paulista, Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais, Franca, 2009, p. 89.
47
PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Teoria geral do direito e marxismo. Tradução de
Sílvio Donizete Chagas. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 44.
48
PAZELLO, Ricardo Prestes. O direito entre a historicidade e a universalidade a partir a
polêmica entre Pachukanis e Kelsen. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, n. 57, p. 203220, 2013, p. 208.
seja fruto da realidade, ele se presta a modificar essa mesma realidade49.
Referências Bibliográficas
COZERO, Paula Talita. Exploração e precarização: a relação capitalxtrabalho e a
negação de direitos aos trabalhadores do corte de cana. (Trabalho de conclusão de
curso). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais,
Franca, 2009.
HARVEY, David. Condição pós-moderna (1989). São Paulo: Loyola, 1993.
HIRATA, Helena; SEGNINI, Liliana. Organização, trabalho e gênero. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2007
LUKÁCS, Georg. The Ontology of Social Being: Labour. Merlin Press. Londres, 1980.
LUKÁCS, L'straniazone, ontologia dell'essere sociale II. Trad. Maria Norma Alcântara
Brandão de Holanda e Sergio Lessa. Roma: Riuniti, 1981a.
LUKÁCS, La riproduzioni, ontologia dell'essere sociale II. Trad. Sergio Lessa. Roma:
Riuniti, 1981b.
MARQUES NETO, Agostinho Ramalho. A ciência do direito: conceito, objeto, método.
2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao Direito do Trabalho. 2ª ed. rev. e
atualizada. São Paulo: LTr, 1978.
NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e direito: um estudo sobre Pachukanis. São
Paulo: Boitempo, 2008.
PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovich. Teoria geral do direito e marxismo.
Tradução de Sílvio Donizete Chagas. São Paulo: Acadêmica, 1988.
PAZELLO, Ricardo Prestes. O direito entre a historicidade e a universalidade a partir a
polêmica entre Pachukanis e Kelsen. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba,
n. 57, p. 203-220, 2013.
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. A mulher na sociedade de classes: mito e
realidade. Petrópolis: Vozes, 1976.
SARTORI, Vitor Bartoletti. Lukács e a crítica ontológica ao direito. São Paulo: Cortez,
2010.
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O Direito do trabalho como Instrumento de Justiça
49
SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O Direito do trabalho como Instrumento de Justiça Social. São
Paulo: LTr, 2000, p. 23.
Social. São Paulo: LTr, 2000.
TORRE RANGEL, Jesús Antonio de la. El derecho como arma de liberación en
América Latina. México, D.F.: Centro de Estudios Ecuménicos, 1984.
TORRE RANGEL, Jesús Antonio de la. El derecho que nace del pueblo. Bogotá: FICA;
ILSA, 2004.