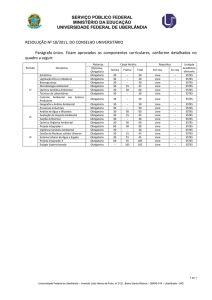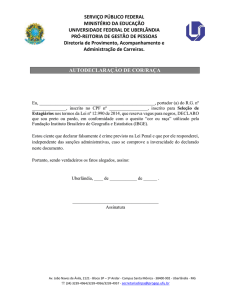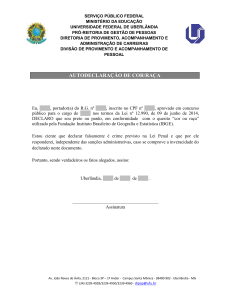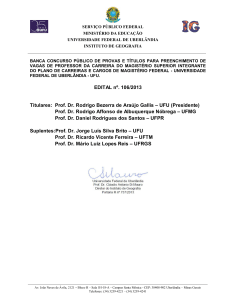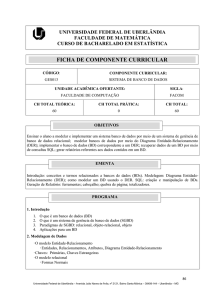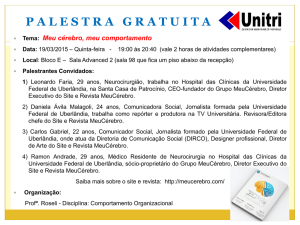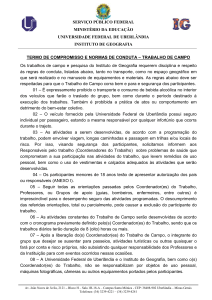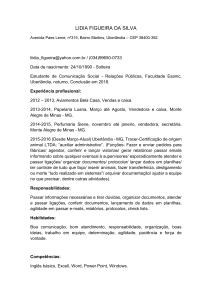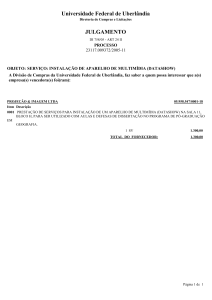SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE FILOSOFIA
(68123BI) GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA (BACHARELADO – INTEGRAL)
PLANO DE ENSINO
1. IDENTIFICAÇÃO
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução à Filosofia
UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Filosofia (IFILO)
CÓDIGO: GPI002
PERÍODO: 1º
CARGA HORÁRIA
NATUREZA:
TEÓRICA:
PRÁTICA:
TOTAL:
OBRIGATÓRIA: (X)
60 h
0h
60 h
PROFESSOR: Prof. Dr. Leonardo Ferreira Almada
TURMA: P (82)
OPTATIVA: ( )
ANO/SEMESTRE:
2017/1
OBSERVAÇÕES: Disciplina sem pré ou co-requisito.
2. EMENTA
Esta disciplina introduzirá o aluno em questões centrais da História da Filosofia, por meio de
autor(es) ou tema(s) clássicos do pensamento Ocidental.
3. JUSTIFICATIVA
A presente disciplina, Introdução à Filosofia, será inspirada em uma disciplina que
regularmente ministro para o curso de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, a saber,
História da Filosofia Contemporânea 2. Tal escolha se fundamenta em minha experiência com a
presente disciplina que ofereço para os alunos de Psicologia: Ao longo dos anos em que tenho
ministrado essa disciplina, são notáveis os benefícios das discussões aqui empreendidas nos alunos
de psicologia em seus próximos semestres, a começar pelas disciplinas do segundo semestre
dedicadas aos sistemas de psicologia e às bases filosóficas da psicologia. Em sintonia com a
disciplina de História da Filosofia Contemporânea 2, aqui nos debruçaremos sobre a noção de
‘subjetividade’ a partir de uma relação de continuidade e de íntima e inextricável relação com a
noção de ‘consciência’, no âmbito de uma perspectiva naturalista e interdisciplinar.
Na filosofia e na psicologia, a posição de destaque ocupada pelas noções de ‘consciência’ e
‘subjetividade’ precede, em muitos séculos, o momento em que tais termos passaram a efetivamente
pertencer ao vocabulário corrente da filosofia e da psicologia. Com efeito, os termos ‘consciência’ e
‘subjetividade’ se referem a noções (não conceitos) presentes na história do pensamento desde que,
por um lado, a vida psíquica passou a ser filosoficamente equacionada, o que remete a momentos
anteriores ao do chamado milagre grego em filosofia. Por outro lado, consciência e subjetividade
remetem diretamente ao momento em que surgiram reflexões filosóficas centradas em um modo de
discurso que tem o ‘interior de si mesmo’ como referência e como norte. Portanto, ‘consciência’ e
‘subjetividade’ são problemas filosóficos que, embora só tenham sido efetivamente incorporados ao
vocabulário filosófico na modernidade, já estão presentes em outros termos, conceitos ou noções
que, há milênios, vêm ocupado papel de destaque na história do pensamento.
1 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Com efeito, dado a polissemia que tem caracterizado a presença destes termos no âmbito da
filosofia contemporânea, a possibilidade de íntima relação entre os dois conceitos dependerá da
definição operacional a que recorremos na manipulação desses termos. Este é o caso da definição
operacional sobre a qual me estabeleço, em consequência da qual não é possível que pensemos a
subjetividade senão como propriedade da consciência, assim como não é possível, da mesma forma,
e por outro lado, pensar a consciência senão a partir da consideração da subjetividade como uma de
suas mais distintivas propriedades. Ao longo da presente disciplina de Introdução à Filosofia, as
definições operacionais que destinarei a esses termos nos conduzirão a equacionar a noção de
‘subjetividade’ a partir de uma relação de continuidade e de íntima e inextricável relação com a
noção de ‘consciência’.
Assim como ocorre com o termo ‘consciência’, o termo ‘subjetividade’ também só foi
incorporado ao vocabulário filosófico a partir da modernidade, e também adquiriu, na
contemporaneidade, um papel ainda mais vigoroso, quando passaram a ocupar novos e diversos
outros espaços de discussão a partir do século XX. Dada a amplitude e a extensão desses novos e
diversos espaços de discussão, é verdade que uma discussão genérica sobre a ‘subjetividade’ na
contemporaneidade não poderia ser suficientemente contemplada no interior de uma única disciplina:
não seria razoável subdividir essa disciplina nas diversas áreas da filosofia e da psicologia que
trabalham — de uma forma ou de outra, e segundo conceituações muito distintas — com a expressão
‘subjetividade’. As mesmas lacunas se verificariam se procedêssemos a uma discussão sobre a
‘consciência’ a partir de uma noção mais ampla e, portanto, mais vaga: com efeito, não seria
razoável tratar dos diversos autores, áreas da filosofia e da psicologia filosofia da mente, e os mais
variados tratamentos conceituais geradas pela natureza polissêmica da expressão ‘consciência’.
Esse quadro geral exige um esforço significativo por parte de filósofos, psicólogos e de
outros profissionais da mente: com efeito, uma discussão filosófica que envolva a conceituação de
‘consciência’ e ‘subjetividade’ dificilmente ultrapassará a esfera da vagueza e da ausência de carga
comunicativa sem prévias e sólidas definições operacionais das noções de ‘consciência’ e de
‘subjetividade’ sobre as quais estamos debruçados. Ainda que eu reconheça que o ofício de oferecer
definições operacionais para termos envoltos em uma tão sofisticada, tão complexa e tão vasta rede
de definições conceituais não seja propriamente simples, esse é um dos intuitos que — implícita ou
explicitamente, direta ou indiretamente — norteará essa presente disciplina de História da Filosofia
Contemporânea 2.
As definições operacionais de ‘consciência’ e de ‘subjetividade’ a que eu recorro — e sobre
as quais nos debruçaremos ao longo desse semestre — são ambas extraídas do meu interesse de lidar
com o clássico e sempre reinventado problema das relações mente-corpo. Mais precisamente, meu
tratamento conceitual desses termos está a serviço da minha intenção de investigar a natureza da
mente (consciente), suas propriedades, seus processos, estados, funções, e sua relação com o corpo e
com o ambiente, no âmbito de uma perspectiva (i) naturalista não-redutivista e (ii) interdisciplinar.
O caráter propriamente naturalista de minhas definições operacionais das noções de
‘consciência’ e de ‘subjetividade’ remete ao fato de eu tratar processos e propriedades mentais como
integrantes exclusivos do mundo natural, o que exclui a possibilidade de postular quaisquer entidades
sobrenaturais. Com efeito, a dinâmica e a organização de processos e propriedades mentais se
explicam exclusivamente pelas leis naturais. Portanto, se, por um lado, o escrutínio da dinâmica e
organização de processos mentais não é tarefa de filósofos, mas de cientistas, é verdade, por outro
lado, que os dados obtidos pelas ciências empíricas devem ser assimilados e associados aos recursos
da investigação filosófico-conceitual: essa última tarefa é a obrigação de filósofos.
2 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Portanto, a perspectiva naturalista que norteará minhas definições operacionais de
‘consciência’ e de ‘subjetividade’ implica, na mesma medida, um ponto de vista interdisciplinar. A
assimilação dos dados obtidos pelas ciências empíricas é necessária para sustentar uma perspectiva
naturalista. Tal assimilação por parte das minhas definições operacionais de ‘consciência’ e
‘subjetividade’ é consequência da aproximação do filósofo da mente com algumas das diversas áreas
dedicadas às ciências da mente, tais como psicologia, computação, linguística, biologia e as
neurociências em geral. Com efeito, ainda que a filosofia da mente se caracterize pela abordagem
analítica — e, portanto, não-experimental — do problema mente-corpo e de suas derivações, essa
recente área da filosofia é fomentada pelos conteúdos fornecidos pelas mais diversas ciências
empíricas da mente. É a partir de tais conteúdos que o filósofo da mente procede a articulações e
conexões conceituais.
A noção naturalista e interdisciplinar de ‘consciência’ mediante a qual proponho inserir nossa
discussão no interior do problema mente-corpo postula que a consciência se refere ao conjunto de
estados mentais reconhecidos —a partir de uma perspectiva de primeira pessoa, de dentro — como
os estados mentais de ‘si mesmo’, seja por indivíduos dotados de sistema nervoso suficientemente
complexo para tal empreendimento seja por supostos outros sistemas igualmente capazes de
instanciar o conjunto de estados mentais que possuem essa propriedade de acessibilidade por parte de
seu portador. Em minha compreensão, trata-se, a consciência, da propriedade por meio da qual os
estados mentais — o conjunto de todos os processos que emergem da atividade do sistema nervoso
ou de outro sistema similar em funcionamento — são vivenciadas internamente por parte de seus
portadores. O processo por meio do qual vivenciamos de maneira privada, de dentro, o conjunto de
nossos estados mentais é, defendo, a mais importante propriedade da consciência, a qual eu
denomino de subjetividade. A subjetividade é, portanto, o processo por meio da qual a consciência é
qualificada; a subjetividade é, portanto, a propriedade da consciência graças à qual nos tornamos os
sujeitos de nossas experiências, ainda que não sejam conscientemente processadas.
Embora as supracitadas definições para ‘consciência’ e ‘subjetividade’ sejam muito breves e
superficiais, elas são, no entanto, suficientes para indicar a tradição filosófica a que devemos recorrer
para elucidar tais conceitos de maneira mais aprofundada. Trata-se da contemporânea filosofia da
mente: do ponto de vista estrutural, metodológico, teórico e conceitual, bem como do ponto de vista
das influências filosóficas e científicas da perspectiva de ‘consciência’ a ser trabalhada, estamos
claramente imersos no seio dessa relativamente recente área da filosofia, cuja origem só foi possível
a partir da aproximação de filósofos (grande parte dos quais oriundos da filosofia da linguagem e/ou
da fenomenologia) com as ciências empíricas da mente, bem como com a inteligência artificial, com
a psicologia científica e, dentre outras áreas, com o behaviorismo e com as ciências cognitivas.
Trata-se, a filosofia da mente, da área de conhecimento específica da filosofia que se propõe
proceder a articulações e conexões conceituais dos resultados a que têm chegado as mais diversas
ciências da mente no que diz respeito à natureza da mente, bem como seus processos, estados,
funções, relações com o corpo e com o meio-ambiente. À filosofia da mente interessa investigar as
bases conceituais de pesquisas empíricas dedicadas a processos mentais relacionados com a
cognição, memória, percepção, ação, vontade e, dentre outros, à emoção. À filosofia da mente
também interessa investigar questões filosóficas tradicionais, a partir de um prisma renovado, e pelo
menos conciliável com os resultados científicos: este é o caso do problema das relações mente-corpo,
da identidade pessoal, da causação mental, da intencionalidade e, dentre tantos outros, da consciência
e da subjetividade, naturalmente.
3 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
A filosofia da mente é uma expressão a qual se refere (i) a um modo de fazer filosofia que (ii)
se ocupa de um conjunto de clássicas e sempre reinventadas preocupações filosóficas. A filosofia da
mente expressa a possibilidade que temos de equacionar questões milenares a partir de um aparato
conceitual, tecnológico e epistemológico típico que não se tornou possível senão a partir do século
XX. Trata-se, pois, de uma área da filosofia que — se beneficiando das contemporâneas ciências e
tecnologias do cérebro e do comportamento — reinventa e ressignifica nosso interesse em relação a
questões filosóficas perseguidas pelo menos desde os gregos: (i) O que é a mente? É uma substância
ou um processo? (ii) O que caracteriza os fenômenos mentais? (iii) A ciência de que dispomos hoje
auxiliou na tentativa de encontrar uma resposta para essas questões? (iv) Sobre o que estamos
falando quando falamos de mente ou consciência?
Uma análise simples do discurso usual de médicos (incluindo psiquiatras), psicólogos,
juristas, filósofos e do senso comum não deixa muitas margens de dúvidas para o filósofo da mente
de que os termos “mente”, “consciência” e “subjetividade” podem soar como completamente
estranhos e enigmáticos, já que fenômenos mentais são invisíveis e materialmente inacessíveis. A
ciência atualmente disponível não é capaz de suplantar esse fato; e talvez nunca seja. Apesar dos
importantes testes e teorias desenvolvidos por psicólogos para averiguar ou mensurar certos aspectos
do funcionamento mental (comportamental) dos animais (humanos e não-humanos), não há consenso
na psicologia sobre o que é a mente, e tampouco sobre o que estamos falando quando falamos de
mente. Apesar, por outro lado, do extraordinário desenvolvimento das tecnologias de neuroimagem e
das neurociências em geral, não há consenso nas ciências do cérebro de que as ‘visíveis’ células
nervosas são ideias, sentimentos ou emoções (TEIXEIRA, 1994).
Assim como os átomos, fenômenos mentais são invisíveis. No entanto, fenômenos mentais
não podem ser mensuráveis e, o que é mais importante, são inacessíveis a qualquer forma de
Observação. Átomos, por seu turno, são observáveis e mensuráveis. Diante desse quadro, a
psicologia popular é imprecisa todas as vezes em que se refere à noção de Observação de
fenômenos mentais; antes, fenômenos comportamentais são observáveis e mensuráveis, como bem
sabiam os psicólogos os quais, a exemplo dos behavioristas, rejeitaram a noção de mente, seja por
motivos epistemológicos (não é possível qualquer acesso a fenômenos mentais) seja por motivos
ontológicos (a mente realmente não existe).
Fenômenos mentais são eminentemente subjetivos e privados. Em outros termos, fenômenos
mentais ocorrem apenas para nós: ainda que possamos mensurar a temperatura corporal de um
indivíduo acometido por dada virose, não há como mensurar seu mal-estar, sua indisposição e/ou
suas dores. Um analgésico atua sobre seu cérebro ou sobre sua mente? Se optarmos por afirmar que a
substância química presente no analgésico e em interação com o cérebro atua no cérebro, como
justificar então que a substância química no cérebro atuou sobre a mente, isto é, sobre a dor? Como é
possível essa ligação? Eis um problema para o filósofo da mente.
Muitos são os problemas sobre os quais se detêm os filósofos da mente. Parte desses
problemas foram mencionados acima, no momento em que eu alertava para o fato de que os filósofos
da mente têm reinventado e ressignificado nosso interesse filosófico em relação a questões que têm
sido perscrutadas pelo menos desde os gregos: (i) O que é a mente? É uma substância ou um
processo?; (ii) O que caracteriza os fenômenos mentais?; (iii) A ciência de que dispomos hoje
auxiliou na tentativa de encontrar uma resposta para essas questões?; (iv) Sobre o que estamos
falando quando falamos de mente ou consciência? Além dessas questões gerais, interessam, aos
filósofos da mente, as seguintes questões: (v) a mente se distingue de todos as outras entidades do
universo?; (vi) Mente e cérebro são uma e a mesma coisa ou a mente é outra coisa em relação ao
cérebro?; (vii) Se é verdade que a mente é outra coisa em relação ao cérebro, é verdade também que
a mente resulta do cérebro?
4 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
As diferentes respostas para esse conjunto de questões é o que está por trás das inúmeras
orientações que caracterizam a filosofia da mente, desde as dualistas (corpo e mente são duas
substâncias distintas) até as monistas ou unicistas (corpo e mente são apenas uma coisa, seja matéria
seja espírito), passando por perspectivas que situam entre os extremos, tais como as funcionalistas e
as emergentistas, dentre tantas outras. Os inúmeros manuais de filosofia da mente disponíveis
apresentam muitas e distintas formas de categorizar as perspectivas filosóficas da mente.
Naturalmente, algumas dessas categorizações são mais plausíveis que outras, e algumas são
realmente muito frágeis. Sobre isso, minha opinião é a de que não existe ainda uma categorização
perfeita. Também acredito que a imperfeição de todas as categorizações não minimiza o mérito dos
esforços de classificar as perspectivas e tendências filosóficas gerais em relação ao problema das
relações mente-corpo. Essas perspectivas e tendências constituem o nosso primeiro norte, isto é, a
nossa primeira referência em relação ao modo como devemos nos situar (ou pelo entender) as
principais discussões em filosofia da mente.
As supramencionadas categorizações de perspectivas e tendências filosóficas gerais em
relação aos problemas de filosofia da mente constituem o ponto de referência para o trabalho que
proponho empreender nessa disciplina, qual seja, o de oferecer uma introdução a mais sólida e
consistente possível em relação à filosofia da mente, à sua inserção na história da filosofia, da
psicologia e das neurociências, bem como no concernente aos principais problemas sobre os quais a
filosofia da mente se ocupa.
Eis os principais sentidos dessa disciplina: (i) familiarizar os discentes com os problemas que
tornaram possível a emergência de uma área de conhecimento dedicada ao equacionamento
filosófico da mente; (ii) familiarizar os discentes com as orientações teóricas que caracterizam as
distintas posições gerais que se assumem para esses problemas filosóficos acerca da mente e de suas
(supostas) relações com o cérebro/corpo; e, por fim, (iii) familiarizar os discentes com uma discussão
contemporânea, baseada em argumentos (analítica), e cientificamente embasada (interdisciplinar)
acerca do clássico e sempre instigante problema das relações entre a mente e o corpo.
4. OBJETIVOS
Para atingirmos os objetivos que proponho por meio dessa disciplina, dividirei o semestre
letivo em sete partes, conforme apresento no Programa (geral e detalhado) a seguir, que, portanto,
descreve os objetivos dessa disciplina.
5. PROGRAMA
(1) Introdução à Filosofia da Mente: Caracterização da Filosofia da Mente e diferentes abordagens
no estudo da mente;
(2) Problemas centrais de Filosofia da Mente;
(3) Modelos mecânicos da mente;
(4) Intencionalidade e consciência;
(5) Há algo errado com a Filosofia da Mente? O diagnóstico de John Searle;
(6) Consciência e relação mente-cérebro: Uma introdução à filosofia da mente a partir da posição de
John Searle; e,
(7) De volta à subjetividade e ao problema das relações mente-corpo: demonstrar as razões pelas
quais o clássico paradigma do problema mente-corpo deve dar espaço a uma abordagem mais
compreensiva e renovada, centrada no conjunto de relações de interação e de integração entre
consciência, mente, cérebro, corpo e ambiente.
5 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
5.1 PROGRAMA DETALHADO
(1.1) Introdução à Filosofia da Mente: Caracterização da Filosofia da Mente
(1.2) Introdução à Filosofia da Mente: Diferentes abordagens no estudo da mente;
(2.1) O Problema Mente-Corpo;
(2.2) O Problema de outras mentes;
(2.3) O Problema da Identidade Pessoal;
(3.1) A máquina de Turing e a máxima “Pensar é computar”;
(3.2) Três vertentes da ciência cognitiva;
(4.1) Intencionalidade originária e Intencionalidade derivada;
(4.2) Consciência e Subjetividade;
(5.1) Apresentação dos supostos erros da atual Filosofia da Mente;
(5.2) O legado cartesiano;
(5.3) A virada materialista;
(5.4) Funcionalismo;
(5.5) Eliminativismo e materialismo;
(5.6) Sobre os fundamentos do materialismo;
(6.1) Consciência e ciência contemporânea;
(6.2) Unidade, intencionalidade e subjetividade;
(6.3) Relação mente-cérebro;
(6.4) Causação mental;
(7.1) Discutir a noção de corpo como alicerce da mente consciente a partir do recurso aos vários
autores que subsidiam essa tese;
(7.2) Apresentar a tese de mente como a emergência de um organismo (encéfalo, corpo propriamente
dito e ambiente) vivo em funcionamento;
(7.3) Delinear a ideia de que (i) mente e (ii) mente consciente (consciência) são dois níveis
processuais distintos de um mesmo organismo; e,
(7.4) Debater a possibilidade de uma posição alternativa não apenas em relação às posições dualistas
do problema mente-corpo, mas também em relação aos modelos materialistas centrados no cérebro.
6 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
5.2 Material Básico
Material básico para o desenvolvimento dos programas 1, 2, 3 e 4:
(1) GONZALEZ, Maria Eunice Quilici; BROENS, Mariana Claudia; LECLERC, André. Filosofia da
Mente. In: PRADO, Lúcio Lourenço; SCHLÜNZEN JUNIOR, Klaus; SCHLÜNZEN, Elisa Tomoe
Moriya (Orgs.). et al. Filosofia. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista:
Núcleo de Educação a Distância da Rede São Paulo de Formação Docente (REDEFOR), 2013. 426
p. ISBN 978-85-7983-499-8. (Coleção Temas de Formação, v. 1). Disponível em:
<http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/179736>. Acesso em 02 jan. 2017.
Material básico para o desenvolvimento dos programas 5 e 6:
(1) UZAI JUNIOR, Paulo. A Relação Mente-Corpo em John Searle. 2009. 149 p. Dissertação
(Mestrado em Filosofia) – Universidade Estadual Paulista, Marília, SP, 2016.
Material básico para o desenvolvimento do programa 7:
(1) DAMÁSIO, António. O Erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
(2) DAMÁSIO, António. O Mistério da Consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de
si. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
(3) DAMÁSIO, António. Em Busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos. São Paulo:
Companhia das Letras, 2004.
(4) DAMÁSIO, António. E o Cérebro Criou o Homem: construindo o cérebro consciente. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
Observação: O material complementar é mais avançado, e será oferecido semanalmente, ao longo
do semestre.
7 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
6 CRONOGRAMA
DATA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1 (07 de Abril ou 28 de abril, em caso de 1) Apresentação do Plano de Ensino.
não ter o primeiro dia de aula — calourada —,
como usualmente ocorre)
Aula 2 (28 de abril ou 05 de maio)
1) Introdução à filosofia da mente:
caracterização da filosofia da mente e diferentes
abordagens no estudo da mente
Aula 3 (05 de maio)
1) O problema mente-corpo
Aula 4 (12 de maio)
1) O problema da Identidade Pessoal
Aula 5 (19 de maio)
1) PRIMEIRA PROVA.
PROVA DISSERTATIVA (primeiro dia até a
aula 4). A primeira prova valerá 100,0 (cem)
pontos.
Aula 6 (26 de maio)
1) Intencionalidade, consciência e subjetividade
Aula 7 (02 de junho)
1) Apresentação dos erros da Filosofia da Mente
Aula 8 (09 de junho)
1) Apresentação dos erros da Filosofia da Mente
Aula 9 (23 de junho)
1) Os fundamentos do materialismo
Aula 10 (30 de junho)
1) SEGUNDA PROVA.
PROVA OBJETIVA (primeiro dia até a aula
09). A segunda prova valerá 100,0 (cem) pontos
Aula 11 (07 de julho)
1) Consciência e ciência contemporânea
Aula 12 (14 de julho)
1) Causação mental
Aula 13 (21 de julho)
1) Emergentismo: mente como a emergência de
um organismo (encéfalo, corpo propriamente
dito e ambiente) vivo em funcionamento
Aula 14 (28 de Julho)
1) TERCEIRA PROVA.
PROVA DISSERTATIVA (primeiro dia até a
aula 13). A terceira prova valerá 100,0 (cem)
pontos.
8 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
7. METODOLOGIA
Aulas expositivas e com debates para apresentação e explicação do texto e dos problemas
filosóficos aí presentes, com uso de recursos audiovisuais (data-show).
8. AVALIAÇÃO
Por meio de seu regimento1, e mais especificamente em sua subseção V (Sobre a Verificação
do Rendimento Escolar) da seção I (Dos Cursos de Graduação) do Capítulo I (Da Educação
Superior) do Título IV (Do Regime Didático-Científico), a UFU dispõe sobre as exigências que se
impõem a docentes e a discentes quanto a frequência e quanto a outros critérios de verificação do
rendimento. No artigo 113 dessa subseção V, a UFU declara ser regida pela regra de que o
aproveitamento e a frequência são eliminatórios por si mesmos, acrescentando, em seu § 1º, que é
vedado o abono de falta senão em casos regulados por lei. Logo adiante, ainda no artigo 113, o § 4º,
afirma que será considerado aprovado o aluno que frequentar pelo menos setenta e cinco por cento
das atividades obrigatórias da disciplina e totalizar pelo menos sessenta pontos na soma de suas
avaliações. O guia acadêmico2, por sua vez, e na seção Avaliação, afirma: “ A Avaliação [...]
abrange os aspectos de assiduidade e aproveitamento acadêmico. Entende-se por assiduidade a
frequência às atividades correspondentes a cada componente curricular e por aproveitamento o
resultado da avaliação do discente nas atividades desenvolvidas no componente curricular. Para cada
componente curricular são distribuídos 100 pontos em, no mínimo, duas oportunidades diferentes
para os cursos de regime semestral [...]. Para ser aprovado, o discente precisa alcançar, no mínimo,
60 pontos no aspecto de aproveitamento e 75% no aspecto da assiduidade às atividades curriculares
efetivamente realizadas. O professor pode, a seu critério e independentemente de justificativas,
conceder a avaliação fora de época ao discente, atendendo os prazos de vista e revisão de avaliação.
Se o professor recusar o pedido, o aluno poderá requerer ao Colegiado de Curso, no prazo de cinco
dias úteis da realização da avaliação, outra atividade avaliativa em substituição àquela a que esteve
impedido de comparecer. São considerados impedimentos para comparecer à avaliação: exercícios
ou manobras efetuadas na mesma data e hora, em virtude de incorporação nos Núcleos de Preparação
de Oficiais de Reserva (NPOR): Lei n° 4375, de 17 de agosto de 1964; doença confirmada por
atestado médico; luto pelo falecimento de parentes e qualquer outro fato relevante devidamente
comprovado, a critério do Colegiado de Curso. Caso o Colegiado de Curso defira o requerimento, o
professor terá cinco dias úteis para marcar a data de realização da avaliação.”
De posse dessa legislação e das diretrizes da UFU, e sobretudo em função de meus princípios
didáticos e pedagógicos, a avaliação dessa disciplina demandará 3 (três) critérios não excludentes
entre si no que tange à relação ensino-aprendizagem: (1) assiduidade e pontualidade, ou seja,
presença/frequência nas aulas e nas discussões; (2) assimilação de argumentos e conhecimentos, cuja
aferição ocorrerá por meio de 1 (uma) prova objetiva (segunda prova, aula 10) com consulta ao
caderno pessoal e individual do aluno (sem consulta ao material fornecido pelo professor); (3)
capacidade de refletir a partir dos conhecimentos adquiridos na disciplina, cuja aferição ocorrerá por
meio de 2 (duas) provas dissertativas (primeira e terceira provas, aula 05 e aula 14) com consulta ao
caderno pessoal e individual do aluno (sem consulta ao material fornecido pelo professor).
1
Disponível em: <http://www0.ufu.br/documentos/legislacao/Regimento_Geral_da_UFU.pdf>.
Disponível em: <http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/arquivo/psicologia_guia_acad_ufu_20161.pdf>.
2
9 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Portanto, ao longo da disciplina o aluno será submetido a verificação de frequência e realizará
3 (três) avaliações: 1 (uma) prova objetiva e 2 (duas) provas dissertativas com consulta ao caderno
pessoal e individual do aluno (sem consulta ao material fornecido pelo professor). As 3(três)
avaliação se referem aos estágios em que estaremos em nossos estudos.
A correção das avaliações se baseará nos seguintes critérios: (i) domínio do conteúdo (40
pontos), (ii) clareza conceitual, correção ortográfica, gramatical e de formatação (35 pontos) e (iii)
bom uso da argumentação e exposição das ideias (25 pontos).
Ao longo do semestre, os alunos poderão ser convidados a realizar tarefas “extra-classe” para
fixação de conteúdo e assimilação das argumentações. Dentre essas tarefas, podem ocorrer
fichamentos e/ou elaboração de testes. Essas tarefas de revisão do conhecimento não
necessariamente valem pontos, mas sua realização integral pode auxiliar na avaliação do aluno, o que
dependerá também da análise de frequência.
9. OBSERVAÇÕES GERAIS
Em todas as aulas serão realizadas verificações de frequência no final da aula, considerando
os seguintes horários: (i) A primeira aula ocorre entre 13:10 hs e 14:00 hs; (ii) A segunda aula ocorre
entre 14:00 e 14:50 hs; (iii) O intervalo ocorre entre 14:50 hs e 15:00 hs; (iv) A terceira aula ocorre
entre 15:00 hs e 15:50 hs e (v) a quarta aula ocorre entre 15:50 e 16:40 hs.
Cada uma das aulas corresponde a 1 (uma) presença ou a 1 (uma) falta, o que significa
que cada um desses dias corresponde a 4 (quatro) presenças ou a 4 (quatro) faltas.
O (A) discente estará automaticamente reprovado (a) na disciplina por frequência após
atingir o limite máximo permitido para faltas, ou seja, 25% da carga horária do curso, ou a partir de
14 faltas (isto é, 15 faltas), já que nossa carga horária prevista é de 56 horas-aula.
(i) A primeira prova é dissertativa, e ocorrerá na aula 5 (cinco), e versará sobre o conteúdo
ministrado desde o primeiro dia até a aula 4 (quatro). A primeira prova valerá 100,0 (cem) pontos.
(ii) A segunda prova é objetiva, e ocorrerá na aula 10 (dez), e versará sobre o conteúdo
ministrado desde o primeiro dia até a aula 11 (onze). A segunda prova valerá 100,0 (cem) pontos.
(iii) A terceira prova é dissertativa, e ocorrerá na aula 14 (quatroze), e versará sobre o
conteúdo ministrado desde o primeiro dia até a aula 13 (treze). A terceira prova valerá 100,0 (cem)
pontos.
10 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
A média final consistirá da divisão da soma das 3 (três) provas (300 pontos) e a subsequente
divisão por 3 (três).
(a) Se, por exemplo, um aluno com 10 (dez) faltas pontuar 50,0 na primeira prova, 70,0 na segunda
prova e 60,0 na terceira prova, temos que 50+70+60= 180 pontos, e que 180 ÷ 3 = 60,0 pontos.
Nesse caso, o aluno estará aprovado, já que a média para a aprovação na UFU é de 60,0 pontos, e
já que o aluno não atingiu 25% de faltas na disciplina, uma vez que no artigo 113 dessa subseção V,
a UFU declara ser regida pela regra de que o aproveitamento e a frequência são eliminatórios por
si mesmos.
(b) Se, por exemplo, um aluno com 10 (dez) faltas pontuar 40,0 na primeira prova, 30,0 na segunda
prova e 50 no artigo, temos que 40+30+50= 120 pontos, e que 120 ÷ 3 = 40,0 pontos. Nesse caso, o
aluno estará reprovado por pontos, e não por faltas.
(c) Alunos com mais de 14 (quatorze) faltas estarão necessariamente reprovados,
independentemente da nota que tiraram.
Observação: Caso haja necessidade de vista de prova, o docente e o discente combinarão horários e
locais adequados para o discente.
11 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR NÃO-OBRIGATÓRIA:
ABATH, André Joffily. Nada Vendo no Escuro, Nada Ouvindo no Silêncio. Dois Pontos, 9.2, 2012.
ABRANTES, Paulo. A psicologia de senso comum em cenários para a evolução da mente humana.
Manuscrito, 29.1, 2006.
ABRANTES, Paulo. Philosophy of mind. J. Kim [resenha]. Principia, 2010.
ABRANTES, Paulo. A psicologia do senso comum em cenários para a evolução da mente humana.
Manuscrito, 29.1, 2006.
ABRANTES, Paulo. Philosophy of Mind, J. Kim. Principia, 1.2, 1997.
ÁLLAN, Sylvio e SOUZA, Carlos. Intencionalidade em tomasello, searle, dennett e em abordagens
comportamentais da cognição humana. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 27(2).
ALMADA, Leonardo Ferreira. Percepção Emocional e Processamento de Informações Emocionais
no Reconhecimento de Expressões Faciais: origens psicológicas do julgamento social. Dois Pontos,
9.2, 2012.
ALMADA, Leonardo Ferreira. As relações neurais de interação e integração entre raciocínio moral e
emoções: um diálogo das neurociências com as éticas contemporâneas. Ethic@, 9.1, 2010.
ALVES, Marco Aurélio Sousa. Content, object, and phenomenal character. Principia, 16.3, 2012.
BALDWIN, Thomas. Russell on Memory. Principia, 5.1-2, 2001.
BAUMANN, Peter. Mind and World, John Mcdowell. Principia, 2.1, 1998.
BENSUSAN, Hilan. Como levar estados mentais a sério (epifenômenos e fingimentos). Manuscrito,
25.3, 2005.
BENSUSAN, Hilan. Como levar estados mentais a sério (epifenômenos e fingimentos). Manuscrito,
25.3, 2005.
BIMBENET, Etienne. Como seria ver como um ser humano?. Dois Pontos, 9.1, 2012.
BIRO, John. Intelligence, behavior and internal processing/Inteligência, comportamento e
processamento interno. Manuscrito, 30.2, 2007.
BROOKS, R. Inteligência sem representação. Tradução: Pedro R. de Oliveira. filosofiadamente.org,
(Acesso em 12 de junho de 2012).
CANGUILHEM, Georges. O cérebro e o pensamento. Natureza Humana, 8.1, 2006.
12 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CHURCHLAND, Paul. Matéria e Consciência: uma introdução contemporânea a Filosofia da
Mente. São Paulo: UNESP, 2004.
DAVIDSON, D. A emergência do pensamento. Tradução: Helder B. A. de Carvalho. Pensando, 1,
2010.
DAVIDSON, D. Conhecer a própria mente. Tradução: Luís M. S. Augusto. Crítica, 2004.
DAVIDSON, D. Pensamento e fala. Cognitio-Estudos, 10.1, 2013.
DAVIDSON, D. Essays on actions and events. 2nd ed Oxford: Clarendon Press, 2001.
DAVIDSON, D. Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: Clarendon Press, 2001.
DENNET, Daniel e KINSBOURNE, Marcel. O tempo e o observador. Tradução: Luís M. S.
Augusto. Crítica, 2004.
DENNETT, D. Onde estou eu?. Tradução: João F. Teixeira. filosofiadamente.org, (Acesso em 12 de
junho de 2012).
DENNETT, D. Hal cometeu assassinato?. Tradução: Pedro R. Oliveira. filosofiadamente.org,
(acesso em 12 de junho de 2012).
DESCARTES; ELISABETH. Correspondências de 1643 entre Descartes e Elisabeth. Inquietude,
4.1, 2013.
DUTRA, Luiz Henrique de Araujo. Ação, Comportamento e Movimento. Manuscrito, 29.2, 2006.
DUTRA, Luiz Henrique de Araujo. Ação, comportamento e movimento. Manuscrito, 29.2, 2006.
DUTRA, Luiz Henrique de Araujo. Propositional Attitudes, intentionality, and Lawful Behaviors.
Principia, 7.1-2, 2003.
ESTEVES, Julio. Como aprendemos o que é dor? Uma análise crítica do §244 das Investigações
Filosóficas de Wittgenstein. Manuscrito, 29.2, 2006.
FALABRETTI, Ericson Sávio. A pintura como paradigma da percepção. Dois Pontos, 9.1, 2012.
FARIA, Paulo. Memory as acquaintance with the past: some Lessons from Russell, 1912-1914.
Kriterion, 121, 2010.
FARIA, Paulo. Unsafe reasoning: a survey. Dois Pontos, 6.2, 2009.
FISCHBORN, Marcelo. Davidson on the Impossibility of Thought without Language. Comments on
Diana I. Pérez. Principia, 16.3, 2012.
FISCHBORN, Marcelo. Monismo anômalo: uma reconstrução e revisão da literatura. Principia,
18.1, 2014.
13 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FUCHS, Thomas. The Brain: A mediating organ. Journal of Consciousness studies, v. 18, n. 7-8, p.
196-221, 2011.
GALLAGHER, Shaun. Philosophical conceptions of the self: implication for Cognitive Sciences.
Trends in Cognitive Sciences, v. 4, n. 1, p. 14-21, 2000.
GALLAGHER, Shaun. How the Body Shapes the Mind. Oxford: Oxford University Press, 2005.
GOMES, Gilberto. Is consciousness epiphenomenal? Comment on Susan Pockett. Journal of
Consciousness Studies, 12 (12), 2005.
GOMES, Gilberto. The timing of conscious experience: a critical review and reinterpretation of
Libet’s research. Consciousness and Cognition, 7.4, 1998.
GOMES, Gilberto. Free will, the self, and the brain. Behavioral Sciences & the Law, 25.2, 2007.
GOMES, Nelson. Physicalism and Early Behaviourism. Disputatio, 4.34, 2012.
HASELAGER, WILLEM; QUI, Maria. Causalidade circular e causação mental: uma saída para a
oposição internalismo versus externalismo?. Manuscrito, 25.3, 2005.
HATFIELD, Gary. Sense data and the philosophy of mind: Russell, James, and Mach. Principia, 6.2,
2002.
HEBECHE, Luiz. O conceito de imaginação em Wittgenstein. Natureza Humana, 5.2, 2003.
HOME, H. J.. O conceito de mente. Natureza Humana, 6.2, 2004.
HORWICH, Paul. Explaining intentionality. Manuscrito, 31.1, 2008.
HUME, D. Dissertação sobre as paixões. Tradução: Jaimir Conte. Princípios, 29, 2011.
KANT, Immanuel. Observações referentes a Sobre o órgão da alma. Natureza Humana, 5.1, 2003.
KIM, J. Fisicismo. Tradução: Vítor Guerreiro. Crítica, 2006.
KLAUDAT, A. Indetermination of the mental in anomalous monism and particularism in action.
Philósophos, 12 (2), 2007.
LAURIER, Daniel. Mind, Davidson and Reality. Principia, 9.1-2, 2005.
LAZZERI, F. Referir-se-ão as Categorias Psicológicas Ordinárias a Causas Internas do
Comportamento?. Philósophos, 18.1, 2013.
LAZZERI, F. Resenha de ‘Externalism’, de M. Rowlands. Peri, 3.2, 2011.
14 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
LAZZERI, Filipe. Um balanço de parte da teoria dos sistemas intencionais de Dennett. Psicologia:
Teoria e Pesquisa, 28 (2), 2012.
LAZZERI, Filipe. Acerca da taxonomia do mental para contextos que requerem neutralidade.
Principia, 16.3, 2012.
LAZZERI, Filipe e OLIVEIRA-CASTRO, Jorge. Um Exame de Objeções a Ryle sobre o
Funcionamento dos Termos Psicológicos Intencionais. Abstracta, 6 (1), 2010.
LECLERC, André. Mente e “mente”. Aurora, 22 (30), 2010.
LECLERC, André. Operações sociais da mente. Veritas, 55.2, 2010.
LIMA FILHO, M. M. de. O Experimento de Pensamento do Quarto Chinês: A Crítica de John Searle
à Inteligência Artificial Forte. Argumentos, 3, 2010.
LISBOA, Wladimir Barreto. Algumas observações acerca do discurso mental e do discurso verbal
em Thomas Hobbes. Dois Pontos, 3.1, 2006.
LUNGARZO. Carlos. Semelhanças e diferenças entre processos cognitivos e computacionais.
Manuscrito, 25.1, 2002.
MARTIN, R. M. O pensamento dos animais. Tradução: Luís F. Bettencourt. Crítica.
MARTINS, Paula Mousinho. Autoconhecimento e perspectivas externistas: o compatibilismo em
debate. Scientiae Studia, 11.2, 2013.
MCDOWELL, John. Capacidades conceituais na percepção. Dois Pontos, 3.1, 2006.
MCDOWELL, John H.. Naturalismo na filosofia da mente. Veritas, 58.3, 2013.
MENDONÇA, W. Deweys Metaphysics of Mind. Abstracta, 3 (2), 2007.
MESTI, Diogo. Teorias atemporais da percepção. Dois Pontos, 9.2, 2012.
MOGRABI, Gabriel José Corrêa. Emergência, Mente e Decisão: A Relevância Causal de Diferentes
Níveis. 2008. 332 p. Tese (Doutorado em Filosofia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, RJ, 2008.
MONTENEGRO, Maria. Como descrever eventos mentais?. Manuscrito, 29.2, 2006.
NASCIMENTO, Laura Machado do. NOË, Alva. Out of our heads: Why you are not your brain, and
other lessons from the biology of consciousness. Principia, 16.3, 2012.
OCKHAM, Guilherme. Quodlibet III, Questão 12 – Se uma proposição mental é composta pelas
coisas ou pelos conceitos. Tradução: Márcio P. Cenci. Thaumazein, n. 8, 2011.
PEQUENO, Marconi. O papel das emoções nas determinações da ação. Manuscrito, 25.3, 2005.
15 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PEREIRA, M. Propostas sobre a estrutura filosófica da psiquiatria contemporânea [resenha]. Rev.
Latinoam. Psicopat. Fund., VIII, 3, 2005.
PEREIRA, Roberto Horácio Sá. Uma Defesa da Concepção Existencial do Conteúdo da Percepção.
Dois Pontos, 9.2, 2012.
PÉREZ, Diana. Eliminativismo, cambio conceptual y conceptos mentales. Manuscrito, 29.2, 2006.
PÉREZ, Diana. Is Thought without Language Possible?. Principia, 9.1-2, 2005.
PINTO, Andréa. A consciência fenomênica teria uma função adaptativa? Um ensaio em filosofia da
mente. Unesp (dissertação de mestrado), 2008.
PLACE, U. T. É a consciência um processo cerebral?. Tradução: Saulo F. Araujo.
filosofiadamente.org, (acesso em 12 de junho de 2012).
PORCHER, José Eduardo. Against the Deflationary Account of Self-Deception. Humana.Mente,
20:67-84, 2012.
PORCHER, José Eduardo. Is self-deception pretense?. Manuscrito, 37.2, 2014.
PRATA, Tárik de Athayde. É o naturalismo biológico uma concepção fisicalista?. Principia, 16.2,
2012.
PSARROS, Nikos. The judgment-view of pain. Manuscrito, 27.2, 2004.
RECANATI, Franãsois. (Anti-)descriptivism, mental files, and the communication of singular
thoughts. Manuscrito, 32.1, 2009.
SAGAL, P. T. Podem as máquinas pensar?. Tradução: Desidério Murcho. Crítica.
SALLES, João Carlos. Percepção e Cor: Nota sobre o Octaedro da Cores em Wittgenstein. Dois
Pontos, 9.2, 2012.
SANT’ANNA, A. Evolução, funcionalismo e intencionalidade. Inquietude, v. 3, n. 1, 2012.
SANT’ANNA, André R. O problema dos qualia na filosofia da mente. Aproximação, 2, 2013.
SANTOS, João Luis da Silva. A abordagem da natureza da mente por Descartes e a crí-tica de
Damásio. Princípios, 15.24, 2008.
SCHULTZ, Sérgio. A análise gödeliana do conceito de percepção. Dois Pontos, 9.2, 2012.
SEARLE, John. A Redescoberta da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
SERPA Jr., Octavio Domont. Psiquitria e neurociências: como “redescobrir” o cérebro sem eclipsar
o sujeito. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. 2, p. 110-124, 2004.
16 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
SILVA, João Carlos Salles Pires da. On Remarks on Colour. Princípios, 13.19-20, 2006.
SILVA, Porfírio. Intencionalidade: mecanismo e interacção. Principia, 14.2, 2010.
SKIDELSKY, Liza; PÉREZ, Diana. La distinción personal-subpersonal y la auto--nomía de la
explicación de nivel personal en Dennett. Manuscrito, 28.1, 2005.
STEIN, Sofia. Os pressupostos da visão eliminativista de Quine. Manuscrito, 25.3, 2005.
STEINER, Pierre. Boundless thought. The case of conceptual mental episodes. Manuscrito, 35.2,
2012.
SYMONS, John. Emergence and Reflexive Downward. Principia, 6.1, 2002.
TEXEIRA, João de Fernandes. La mente y sus problemas. Principia, 9.1-2, 2005.
TURING, Alan. Computação e inteligência. Tradução: Fábio C. Hansen. filosofiadamente.org,
(acesso em 12 de junho de 2012), 2012.
VALLÈE, Richard. Learning . Manuscrito, 31.1, 2008.
VANDERVEKEN, Daniel. Attempt, success and action generation. Manuscrito, 25.3, 2005.
VARELA, Francisco; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor. A Mente Incorporada: Ciências
Cognitivas e Experiência Humana. Porto Alegre, RS: Artmed, 2003.
VERDEJO, Victor. Pierre’s rational and public beliefs. Principia, 16.3, 2012.
WARREN, Nicolas de. Consciência virtual e imaginário. Scientiae Studia, 7.4, 2009.
ZILIO, Diego. Relacionismo substancial: a ontologia do comportamento à luz do behaviorismo
radical. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 28 (1), 2011.
11. APROVAÇÃO
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______
Coordenação do Curso de Graduação em: _______________________________________________
17 de 17
Universidade Federal de Uberlândia – Avenida João Naves de Ávila, no 2121, Bairro Santa Mônica – 38408-144 – Uberlândia – MG