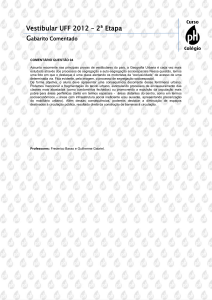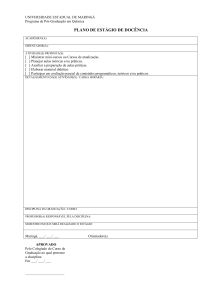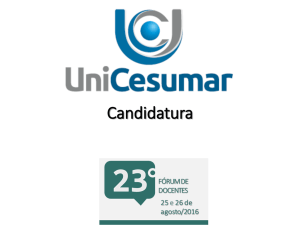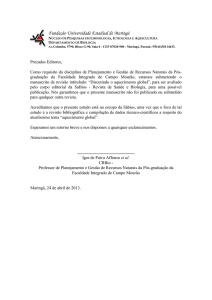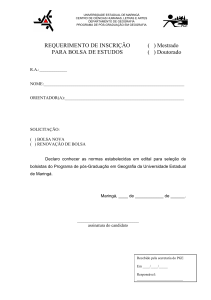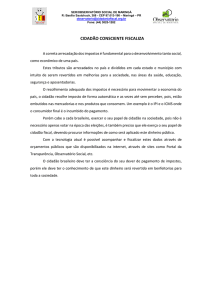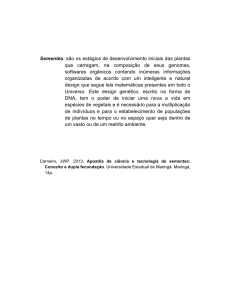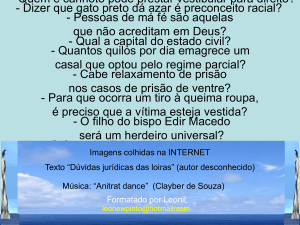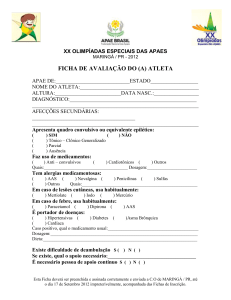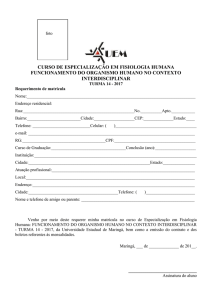71
http://revista.famma.br/unifamma/
ISSN printed: 1677-8308
A PRISÃO COMO PRODUTO DE UM PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
EXCLUDENTE E DESIGUAL
Letícia Gonçalves MARTINS*
Joelma Marcela SCHEIDT**
1
RESUMO
Neste artigo, apresentar-se-á a questão da segregação socioespacial e sua
estreita relação com a prisão, na qual a pena restritiva de liberdade torna-se o
ápice da segregação e exclusão social, percebendo que essas pessoas que foram
empurradas para além dos limites da cidade, agora, estão contidas pelos muros
do cárcere. O objetivo do estudo é demonstrar que a segregação socioespacial e
a prisão são separadas por uma linha tênue, onde, primeiramente, foi realizada
uma reconstituição da formação histórica do sistema prisional, como paradigma
punitivo, analisando os processos espaciais relacionados à segregação, que
levam contingentes populacionais a terem dificuldade de acesso a bens urbanos e
equipamentos de infraestrutura. A pesquisa apontou a urgente necessidade de
investimentos em políticas públicas que diminuam a discrepância entre os
espaços sociais, possibilitando que o apenado, ao voltar à realidade social, não
encontre as mesmas condições que originaram o delito.
PALAVRAS-CHAVE: Segregação socioespacial. Prisão. Políticas públicas.
INTRODUÇÃO
A prisão é a forma mais escancarada de segregar pessoas que não se
adequaram as normas vigentes regidas pela sociedade capitalista e que
romperam com o „pacto social‟. Analisando os elementos pré-cárcere, é possível
* Mestranda em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá – UEM, graduada em
Serviço Social pela Universidade Estadual do Centro – Oeste do Paraná (Unicentro). Assistente
Social do Centro de Regime semiaberto de Guarapuava – CRAG [[email protected]].
**Mestranda em Políticas Públicas da Universidade Estadual de Maringá – UEM, graduada em
Serviço Social pela Universidade Estadual do Centro – Oeste do Paraná (Unicentro). Assistente
Social da Penitenciária Industrial de Guarapuava – PIG [[email protected]].
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
72
identificar que grande parte dessas pessoas já sofria a segregação socioespacial,
onde em sua maioria, não possuíam direito a cidade.
A questão a ser levantada, neste trabalho, é que a prisão vem se
mostrando como a continuação da segregação socioespacial ao selecionar a
população de baixa renda, mostrando que é necessário isolar essas „classes
perigosas‟ que não se adequaram ao modo de vida capitalista.
Apesar da existência de uma série de pesquisas que retratam a
criminalidade e seus temas correlatados, não se observa, no Brasil, em grande
escala, a existência de estudos que reflitam sobre o real significado das atuais
posturas políticas sobre a punição, os quais se dedicam a discutir sobre a
ineficácia do sistema prisional.
Diante disso, este estudo visa demonstrar o sistema prisional como um
espaço de confinamento e segregação espacial dos excluídos sociais, ou seja, de
pessoas que já estavam habituadas a essa condição, cujo Estado, através de uma
política do “tudo penal” encarcera em grande escala os segmentos empobrecidos
e excluídos sob a justificativa de manutenção da ordem social.
Este artigo pretende, ainda, apontar algumas razões que estariam na base
da produção das desigualdades territoriais e de direitos fundamentais da cidade, o
que pode servir de amparo para a elaboração de futuras políticas públicas que
diminuam a desigualdade socioespacial.
A PRISÃO E SEU CONTEXTO HISTÓRICO
A prisão, assim como se apresenta na atualidade, fundamenta-se em dois
elementos principais: na privação da liberdade pura e simples e como aparelho
capaz de adequar os indivíduos à ordem social vigente.
A pena prisão sobreviveu, apesar de todos os problemas como rebeliões, a
superlotação e a denúncias de tortura e se consagrou como alternativa mais eficaz
para punir aqueles que romperam com o pacto social, não apenas pelo senso
comum, mas também por ser defendida por uma parcela dos estudiosos.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
73
Essa coesão de pensamento foi produzida pelo modelo liberal de
sociedade, no qual primeiro difundiu-se a ideia de liberdade e do quanto ela é
indispensável ao ser humano, para depois se estabelecer a pena como sendo a
restrição dessa liberdade que adquire grande valor.
Pavarini (2002) enfatiza que foi neste momento que surgiram as primeiras
formas de conhecimento criminológico, baseado em uma teoria do contrato social
que se fundamenta em uma ética utilitarista, na qual o homem é naturalmente
egoísta e, para eliminar uma possível guerra e manter a paz e a ordem, faz-se
necessária a limitação da liberdade em favor de um pacto social que beneficie a
coletividade.
A sociedade que se formava a partir da industrialização maciça buscou
alternativas para aproveitar a mão de obra da classe proletária que se formava e,
quando esse objetivo não era alcançado, investia em afastar essa população
„inútil‟.
Os novos meios de produção necessitaram do desenvolvimento de
estratégias para que os excluídos dos meios de produção aceitassem o trabalho
assalariado, essa nova classe trabalhadora composta por ex-camponeses e
artesãos (PAVARINI, 2002).
Nessa conjuntura, o capital aproveitou ao máximo a mão de obra que era
expulsa do campo e, é nesse momento, que essa mão de obra começa a tornarse excedente, sendo necessário resolver essa questão de ordem pública,
eliminado fisicamente muitos e impondo uma política de terror para os demais,
onde “La conseideración política respecto de las clases marginales cambió a su
vez gradualmente com El siglo XVIII [...]” (PAVARINI, 2002, p. 32).
O sistema prisional surgiu na Europa e nos Estados Unidos, entre os
séculos XVIII e XIX, período correspondente ao surgimento das fábricas, fator que
pode explicar a consolidação do sistema prisional como controle social para a
formação de uma mão de obra dócil e disciplinada. Assim:
[...] não só se potencializam os instrumentos de controle social,
àquelas áreas da esfera da produção, que existem desde a origem
do capitalismo, senão que se criaram novos instrumentos. O novo
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
74
critério que rege é o da capilaridade, da extensão e a invasão do
controle. Já não se prendem (somente) os indivíduos, os
acompanham onde estão normalmente recluídos, fora da fábrica,
no território. A estrutura de propaganda e os meios de
comunicação, uma nova e mais eficaz rede policial e de
assistência social neo-capitalista, pois se deve controlar a cidade,
a área urbana (MELOSSI, PAVARINI, 1985, p. 34).
Desse modo, evidencia-se que a pena privativa de liberdade surge nos dois
últimos séculos, impulsionada pelo novo modelo de produção que transforma de
forma drástica o relacionamento entre os indivíduos. Nessa conjuntura, foram
criadas Instituições que permitiram controlar a mobilidade dos indivíduos,
principalmente dos excluídos do modo de produção, o que configurou uma
estratégia de controle e organização do território, onde “reorganizar a ordem
sócio-espacial foi, portanto, uma necessidade da acumulação do capital:
reorganizar o modo de vida dos trabalhadores para impor o assalariamento e uma
economia de aglomeração” (RIBEIRO, 1999, p. 19).
Para Pinassi (2006), a prisão foi utilizada com o intuito de obrigar o pobre
“desocupado”, o trabalhador desempregado, o mendigo a se adequar as condutas
da sociedade, determinando que, quem vive fora delas, fossem consideradas
“classes perigosas.”
Diante disso, é possível perceber que o surgimento da Instituição Prisão
teve como objetivo o controle social sobre as camadas pobres da população, para
que essa população se adaptasse ao novo modo de vida capitalista. As modernas
prisões nasceram de um projeto de segregação dos indivíduos pelo sistema
econômico que se formava.
Nesse contexto, o controle social é exercido pela classe dominante que
legitima o aparato do Estado em ações violentas contra a população pobre,
segregando e empurrando essa população para as periferias, com o discurso de
proteção aos „cidadãos‟ contra as classes denominadas „perigosas‟. Melossi e
Pavarini (1985) afirmam que as parcelas mais ricas da população exercem um
típico mecanismo de manifestação violenta nas sociedades modernas, onde:
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
75
Todo sistema de controle se fundamenta nas relações de
produção (historicamente determinadas) e dado que esse
equilíbrio foi rompido nas fábricas com o intento de restabelecer o
poder nas relações de produção que obriga o capital a jogar a
cartada em um novo tipo de controle social e a planejar (expor),
ainda que sob seu ponto de vista, o problema carcerário
(MELOSSI; PAVARINI, 1985, p.85).
A pena de prisão década após década vem encarcerando um número cada
vez maior da população pobre, legitimada por um clamor da sociedade pelo
endurecimento das penas e pela criminalização dos conflitos sociais, em uma
sociedade do „tudo penal‟.
A sensação de insegurança difundida pelos meios de comunicação
corrobora para que o Estado possa investir de forma dura contra a população
pobre, pois as ações violentas por parte de aparelhos institucionais se tornam
espetáculos e são aplaudidas pela população.
A formação de estereótipos no espaço prisional e de um padrão para se
viver em sociedade é difundido pela mídia, onde, segundo KARAM (1995), é
observado o aumento crescente da violência, divulgado maciçamente pelos meios
de comunicação, em sua maioria são atribuídos aos membros pertencentes às
famílias pobres, que sustentam o clamor social de apelo de endurecimento das
penas, mas não ocorre em igualdade a divulgação das condições em que vivem,
bem como os fatores estruturais que levaram esses indivíduos a entrarem em
situação de violência e criminalidade.
FOUCAULT (1982), em sua obra, analisa que foi necessário constituir o
povo como um sujeito moral, separando-o da delinquência e assim mostrando os
delinquentes como perigosos não apenas aos ricos, mas também para os pobres,
responsabilizando esse grupo de pessoas amoral por todos os crimes e vícios.
No seu livro Vigiar e punir, FOUCAULT (2002) realiza um estudo minucioso
sobre o nascimento e o funcionamento da prisão. Ao analisar a formação histórica
das sociedades dos séculos XVIII e XIX, o autor verifica a existência de uma
hierarquia exercida por uma disciplina repressiva que visa tornar o indivíduo útil,
dócil e disciplinado através do trabalho. Essa disciplina atinge o corpo do
indivíduo, controlando seus gestos, hábitos, atitudes e comportamento.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
76
Diante disso, o autor nos mostra que essas instituições foram criadas para
transformar os pobres e proletários em corpos dóceis e disciplinados, que
aceitassem sem revolta a disciplina das fábricas.
Com o fim do compromisso com o Estado de bem-estar social, o Estado
americano substituiu progressivamente o (semi) Estado Providência por um
Estado penal e policial, onde a política centrou-se em criminalizar a miséria em
uma “contenção punitiva”, vindo essa política punitiva a substituir as políticas
sociais (WACQUANT, 2003, p.19-20).
O autor também defende a tese da transformação do Estado de bem - estar
social para o Estado Penal, processo que ainda está em andamento nos Estados
Unidos, e que pode explicar o crescimento exorbitante do aprisionamento nesse
país.
Nessa conjuntura, com o desmantelamento do Estado de bem-estar social
e a diminuição gradativa dos investimentos em políticas de Assistência Social, a
consequência é o aumento do desemprego e a precarização do trabalho e, por
fim, o aumento da criminalidade, pois a criminalidade se torna uma estratégia de
sobrevivência para a população espoliada dessa nova ordem social.
É importante ressaltar que reintegrar os excluídos sempre foi uma
necessidade ideológica que em época de pleno emprego não incomodava os
interesses do capital, mas a partir do momento que o desemprego, assim como os
problemas sociais se tornaram mais visíveis, percebeu-se os custos da
ressocialização e a necessidade de se investir apenas em afastamento dos
„indesejáveis‟.
Dessa forma, com o desmantelamento do Estado de bem-estar social,
investir em tratamento penal começou a ser visto como desperdício de dinheiro
público, pois se acreditava que o tratamento não evitava a reincidência criminal.
GARLAND (2008) destaca que, ao contrário da política criminal dos anos
1950 a 1970, onde o cárcere destinava-se a prevenir e combater o crime, a
política penal e policial abandona a perspectiva humanista de reinserção do
apenado para focalizar e promover mecanismos de controle.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
77
O Estado a fim de conter as desordens causadas pela exclusão social,
como o desemprego, a imposição do trabalho precário e a restrição da proteção
social, amplia a estratégia de criminalizar as denominadas “classes perigosas”.
O mesmo Estado que favorece a acumulação do capital através do trabalho
precário, que empurra um contingente populacional à situação de desemprego,
combate suas consequências com o aumento da repressão.
BARATTA (2006) aponta que o surgimento do terrorismo e o aumento da
criminalidade conduziram a uma reação por parte do Estado que modificou o
regime carcerário e a política de uso das prisões, onde a construção de presídios
de segurança máxima aparece como uma renúncia explícita dos objetivos da
“ressocialização” e vem reafirmar a função que a prisão sempre teve: a de
depósito de indivíduos que devem ser isolados da sociedade.
Em seus estudos, WACQUANT (2011) aponta que as políticas do novo
Estado Penal demanda por mais policiamento e o endurecimento das penas, onde
o cárcere deve ter a única função de punir de forma enérgica os „indesejáveis‟, os
economicamente improdutivos que são retirados das ruas. A população
incentivada pela mídia clama por mudanças nas leis que venham a endurecer as
penas e criminalizar condutas consideradas antissociais. Como resposta, em Nova
York, é criado o programa „tolerância zero‟ pelo ex-prefeito Rudolph Giuliani.
WACQUANT (2011) observa ainda que, na América Latina, o tratamento
policial e judiciário da miséria não permite a consolidação da democracia, uma vez
que
restabelece
uma
verdadeira
„ditadura
sobre
os pobres‟,
em
uma
„criminalização da miséria e a punição dos pobres‟.
No Brasil, que possui uma democracia recente, verifica-se que o Estado de
bem – social nunca se consolidou para a maior parte da população, no qual
Wacquant (2003, p. 19) descreve que:
No decorrer das três últimas décadas, ou seja, depois dos
confrontos raciais que abalaram os grandes guetos de suas
metrópoles, a América lançou-se numa experiência social e
política sem precedentes nem paralelos entre as sociedades
ocidentais do pós-guerra. A substituição progressiva de um semi –
Estado – providência por um Estado Penal e policial, no seio do
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
78
qual a criminalização da marginalidade e a contenção punitiva
dadas às categorias deserdadas faz as vezes da política social.
O aumento descontrolado da população carcerária levou os governos a
construírem novas Unidades Prisionais como medidas paliativas que não resolvem
a questão penitenciária, pois cada vez mais pessoas adentram no cárcere, sendo
uma equação que não se podem resolver apenas com construção de mais
Unidades Prisionais, sem procurar investigar o porquê cada vez mais as pessoas
vem entrando em situação de violência e ingressam na criminalidade.
O encarceramento em massa visou mascarar a crescente exclusão
capitalista, a pobreza que se tornou visível e começa a incomodar, sendo
necessário isolar os indivíduos que não se adaptaram à nova sociedade que se
formava.
Diante desses fatos, é possível identificar que as medidas que os
governantes tomaram nas últimas décadas para enfrentar o problema da violência
crescente foi cada vez mais segregar os cidadãos pobres, empurrando-os para as
periferias e para a prisão.
O quadro abaixo demonstra o aumento do encarceramento no Brasil
seguido pela crescente construção de Unidades Prisionais, medida que tem se
mostrado paliativa, pois também é crescente o déficit de vagas como se pode
observar:
ANO
UNIDADES
PRISIONAIS
POPULAÇÃO
PRISIONAL
VAGAS
DÉFICIT DE
VAGAS
1995
309
148.760
65.883
82.877
179.489
128.815
2002
2003
MANDATOS DE PRISÃO
A SEREM CUMPRIDOS
239.345
1262
308.304
2006
401.236
2007
385.000
500.000
190.994
140.000
Quadro 1- Oferta e déficit de vagas no sistema prisional brasileiro
Fonte: BRASIL (2012a)
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
79
Em relação ao Estado do Paraná, o relatório de acompanhamento do
Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2012b), intitulado Raio X Carcerário,
constatou que o Paraná é um lugar de contrastes. Existem penitenciárias novas e
modernas, com equipe de apoio psicossocial, mas também possui inúmeras
Instituições que atendem apenas à custódia do apenado.
Os dados apresentados pelo Relatório do Conselho Nacional de Justiça
(BRASIL, 2012b) apontam que é preciso reverter esse quadro crescente de
encarceramento no Brasil com políticas públicas de enfrentamento à pobreza que
não coloquem a criminalidade como única alternativa de sobrevivência e com o
estabelecimento de penas alternativas que possam tornar a prisão uma exceção.
A CIDADE PARA OS INCLUÍDOS E OS DESPOSSUÍDOS
Para se pensar a prisão é necessário compreender como se estruturou o
desenvolvimento do território brasileiro, onde o surgimento das prisões no Brasil
está estreitamente ligado à formação socioespacial, pois ocorreram inúmeras
transformações do território oriundas das modernizações, sendo que a
“desigualdade é um traço histórico e dominante na estruturação da realidade
social Brasileira, cujas raízes remontam à nossa história escravista e aos
mecanismos de posse da terra regulamentados na „Lei das Terras‟, de 1850”
(RODRIGUES, 2004, p.18).
Com o aumento populacional das cidades, veio à necessidade de
transformações, como construções de pontes, alargamentos de avenidas, etc.
Diante disso, foi necessária a transferência dessa população que residia nesses
locais, onde em grande maioria, passaram a residir nas periferias, no entorno das
cidades, muitas vezes formando um cinturão de miséria, como é o caso da maioria
dos centros urbanos, sendo que:
As cidades que passaram por esse processo acelerado de crescimento
demográfico, foram dotadas com redes de água e esgotos, grandes
avenidas, ruas pavimentadas e iluminadas. Mas nem todos foram
beneficiados, pois boa parte dos segmentos populares passaram a residir
em loteamentos periféricos, o que redundava numa série de sacrifícios e
carências (ROLIM, 1999, p. 2).
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
80
Essa população, que foi jogada para além dos limites da cidade, ou em
periferias, ocupou um território sem infraestrutura, sem rede de esgoto, asfalto e
uma moradia digna, passando a não gozar do direito à cidade.
Nesses locais, é frequentemente notável a ausência ou pouca atuação do
Estado, fator que corroborou para a instauração do crime, principalmente do
tráfico, onde em muitos locais, o crime também organiza a comunidade e se faz
presente onde o Estado deixa de atuar.
Cotidianamente encontramos famílias morando em condições insalubres,
em áreas de risco ou invasões por não apresentar condições de adquirir a casa
própria, reafirmando o déficit habitacional e a preponderância dos ditames do
mercado imobiliário que decide onde cada um deve morar:
Considerando que a sociedade é de classes, portanto, a diferenciação
social lhe é inerente, a ocupação segmentada dos espaços urbanos foi
definida por uma hierarquia socioeconômica que descende do centro
para a periferia, constituindo, consequentemente, um território urbano
caracterizado por processos de segregação socioespacial que, além da
diferenciação inerente do sistema capitalista, reserva espaços
diferenciados segundo a condição de classe do morador: às elites, às
áreas centrais consolidadas com toda infraestrutura e equipamentos que
garantem uma ótima condição de vida na cidade e, às classes de baixa
renda, às áreas periféricas, sem as condições das centrais e distantes, o
que dificulta, ainda, a mobilidade da população que nelas habita
(RODRIGUES, 2004, p. 229).
As transformações da estrutura econômica decorrentes do desenvolvimento
provocam uma rápida urbanização e também uma crescente concentração de
riqueza na área urbana, onde os serviços públicos garantem a infraestrutura
necessária para o bem estar dessa população de alto poder aquisitivo, elevando o
preço da terra nessas áreas.
Nos centros urbanos, a dificuldade de acesso à terra tem sido fator
determinante de carências e desigualdades sociais. Os altos preços da terra
determina a segregação populacional. Essa população é forçada a buscar moradia
em áreas distantes, desprovidas ou insuficientemente coberta por serviços
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
81
públicos, sendo necessário arcar com o preço elevado do transporte para chegar
ao centro urbano e ter acesso a bens e serviços.
Assim sendo, compreende-se que, na urbanização brasileira, ocorre uma
distribuição desigual dos bens e serviços, com o crescente privilégio às classes
detentoras de poder aquisitivo elevado2 que residem em áreas cobertas por
assistência
de
saúde,
educacional
e
toda
infraestrutura
necessária
ao
desenvolvimento humano, sendo possível observar que, nessas áreas, ocorre a
especulação imobiliária1, fator que contribui para elevar o valor da terra.
RODRIGUES (2004) aponta que o mercado imobiliário se mantém
economicamente forte, no qual busca apoio político para representá-lo em todas
as instâncias do município e de outro lado,
[...] a população de baixas rendas, que engrossa as listas de espera por
subsídios públicos para a aquisição da casa própria, resta ocupar as
franjas periféricas das cidades, cada vez mais distantes dos espaços de
qualidade superior que a sociedade globalizada tem a oferecer
(RODRIGUES, 2004, p.134).
Para compreender a formação territorial e social brasileira, é imprescindível
observar que as reformas urbanísticas visaram trazer a modernidade aos grandes
centros e, para isso, precisavam fazer uma „limpa‟ na cidade, pois as classes
populares sujavam a imagem da cidade com seus casebres ou os cortiços e:
Portanto, nos deparamos com um ambiente espacial e sobretudo
socialmente segmentado, onde os presságios fascinantes da
modernidade não foram concedidos a todos, na medida em que, com as
reformas urbanísticas, além de se excluírem os setores populares,
procurou-se tirá-los do alcance da visão, com a delimitação e
determinação dos espaços que deveriam ocupar (ROLIM, 1999, p. 44).
O processo de segmentação socioterritorial separa as classes sociais em
grupos que possuem o acesso a bens e serviços e outro que vive em situação de
exclusão social, onde:
1
Entende-se por especulação imobiliária, as áreas que tem acesso facilitado ao comércio, escolas, hospitais e
mercados, áreas que tem uma crescente valorização e impede que as populações de baixa renda adquira uma
moradia nessas áreas.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
82
Nos locais de grande vulnerabilidade social, observamos grande número
de jovens com baixa renda e baixos índices de emprego, ou seja, locais
onde há uma desordem social evidente, uma superposição de carências
e uma ausência sistemática de políticas publicas, principalmente de
ações de promoção da cidadania (SOUZA, 2006, p. 13).
Diante disso, percebe-se que essas regiões são muitas vezes esquecidas
pelo poder público, há uma carência de serviços básicos como saneamento,
saúde, etc. Esse pouco investimento possibilita que nessas “regiões socialmente
degradadas, existam os ingredientes necessários à ocorrência de crimes”
(SOUZA, 2006).
Nesse sentido, percebe-se que a segregação socioespacial não é apenas
uma separação de habitantes dentro de uma cidade, mas ela se fundamenta nas
desigualdades sociais, no acesso fragilizado de parte da população a bens e
serviços.
O Estado toma medidas de enfrentamento contra essa situação de
desordem de forma punitiva ao invés de investir em políticas públicas de
promoção da cidadania, onde:
Para responder ao recrudescimento da criminalidade, presenciamos,
geralmente, uma série de medidas reativas, tanto em âmbito nacional
como estadual. Muitas vezes, essas medidas se concretizam na violência
e truculência das ações policial, enfatizando o aumento do poder punitivo
do Estado e restringem as noções de direitos e de cidadania. As visões
meramente reativas se preocupam apenas com a manutenção da
“ordem” de um Estado patrimonialista e respondem com evidente
limitação à opinião pública inconformada com o crescimento vertiginoso
da criminalidade. Surtem alguns resultados temporários e pontuais, mas
não reverte o aumento dos crimes (SOUZA, 2006, p. 11).
Quando essa população avança para os limites da cidade, muitas vezes
busca os bens materiais aos quais não tem acesso na periferia. O relatório
apresentado em 2012 pelo Departamento Penitenciário Nacional mostrou que
52% dos apenados cumprem pena por algum tipo de delito contra o patrimônio,
sendo que:
Devido à potencialização dos conflitos, havia uma certa perplexidade
diante das experiências de vida que pupulavam no cotidiano citadino,
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
83
consideradas pelas elites como indesejáveis e ameaçadoras, porém
inevitáveis. Nesse momento de definição de uma política de segurança
pública, aumentou a convicção da necessidade de tomar medidas para
vigiar e controlar as levas de pessoas que insistiam em permanecer no
espaço urbano de forma „perigosa‟ (ROLIM, 1999, p.4).
A marginalização da população que habita os territórios destinados aos
“despossuídos” cria um pensamento hegemônico na sociedade de que a
criminalidade está intrinsecamente ligada à pobreza, mas é um erro “atribuir o
crime à pobreza, de forma mecânica e simplista, sem levar em conta as
mediações culturais, entre outras, ofende os pobres e não explica porque a
maioria da população pobre não comete crimes” (SOARES, 2004, p. 110).
É fundamental esclarecer que a criminalidade não é inerente à pobreza,
mas ela é mais perceptível nela. Em todas as sociedades, registram-se a
ocorrência de crimes de colarinho branco, mas muitos desses crimes não são
punidos em razão de uma seletividade que faz a justiça criminal, essa sim
seleciona a pobreza:
O fator fundamental aqui é o volume da criminalidade. À medida que
aumenta o montante de crimes, surgem problemas imediatos acerca de
como lidar com isso burocraticamente, com recursos limitados em termos
de detenção e isolamento. Em alguma medida, a seletividade ocorre
inevitavelmente, considerando o universo onde se está procurando o
crime, como se decide quem é de fato criminoso, como instruiu se caso e
isola o criminoso. Perde-se a justiça individualizada neste processo;
categorias inteiras de pessoas se tornam suspeitas e a justiça se aparta
da punição (YOUNG, 2002, p. 74).
Conforme o autor afirma, “o crime é muito mais disseminado do que sugere
o estereótipo criminoso”, mas é a partir deste estereótipo que o sistema de justiça
criminal seleciona amostragens de determinada categoria que é estigmatizada e
“no tocante a suspeita, a polícia deixou de suspeitar de indivíduos e passou a
suspeitar de categorias sociais” (YOUNG, 2002, p. 71 - 74).
Numa conjuntura urbana desigual, a lei e a ordem também são aplicadas de
forma desigual; as áreas que possuem escolas deterioradas e o serviço público
precário, também possuem um policiamento aleatório, nestas áreas, a polícia não
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
84
é empregada para garantir a segurança, mas vigia a população como um todo
(YOUNG, 2002, p. 84).
As pessoas que possuem o símbolo da marginalidade são constantemente
abordadas e evitadas nos espaços públicos, dessa forma, ocorre a “sujeição
criminal, através da qual são selecionados preventivamente os supostos sujeitos
cujo caráter é socialmente considerado como „propenso a cometer um crime‟”
(MISSE, 2003, p. 120).
Ao estabelecer o conceito de “sujeição criminal”, MISSE (2003) aponta que
a representação que é feita dos pobres lhes confere responsabilidade pela
criminalidade. O autor explica que todo bandido é identificado como pobre, mesmo
que nem todo pobre cometa crimes e um indivíduo que não seja pobre ao cometer
um crime, nunca será identificado como um bandido. Essa representação que a
sociedade faz do crime é muito interessante, pois se verifica que as pessoas ficam
surpresas quando uma pessoa educada, bem vestida e de boa aparência comete
um crime, sendo costumeiro a expressão „não tem cara de bandido‟.
Essa surpresa acontece porque a sociedade tem em seu imaginário o
estereótipo de que o criminoso é o indivíduo que está mal vestido, negro ou pardo
e que possui uma forma simples de se expressar verbalmente.
É baseado nesse imaginário social que as agências policiais e de justiça
perseguem e selecionam este estereótipo e “ainda que o crime possa ocorrer em
qualquer classe social, há fatores que induzem a seleção de certas ações como
criminais e, também, impulsionam a persecução estatal de detecção e punição”
(MISSE, 2003, p. 22).
Analisando dessa forma, fica claro perceber porque a prisão é o lugar
destinado aos pobres, aos moradores da periferia que possuem acesso desigual a
justiça, às políticas de habitação e educação.
O relatório do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), emitido em
2012, revela ainda a distribuição dos apenados por grau de instrução, onde a
maioria apresenta um baixo grau de escolaridade, sendo que o maior grupo tem o
ensino fundamental incompleto (BRASIL, 2012b).
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
85
Dados estatísticos do DEPEN (2010) apontam que, no Brasil, 32% da
população carcerária possuem de 18 a 24 anos de idade e 27% tem de 25 a 29
anos, somando 59% da população carcerária é formada por jovens, jovens estes
que representam em sua maioria a falha de políticas públicas, principalmente na
área de educação (BRASIL, 2012b).
O relatório não faz referência sobre a situação socioeconômica dos
apenados, mas o cotidiano nos revela empiricamente que o perfil do apenado é
formado pela população pobre, que residem nas periferias das cidades.
O perfil do apenado nos revela também a necessidade de se pensar a
prisão, a cidade e o território, onde é possível identificar que a formação
socioespacial do território marginalizou populações que vivem em torno das
cidades e colocou a prisão como forma de gerenciar essas populações, a qual
WACQUANT (2003) vai denominar de “gestão da miséria”.
LIMITES E POSSIBILIDADES DO PROCESSO DE REINSERÇÃO SOCIAL
Com o crescimento urbano, ocorreu um déficit de vagas nos municípios e,
para atender esse déficit, foram construídas Unidades Prisionais em determinadas
regiões, sendo que o apenado deixou de cumprir a pena restritiva de liberdade na
mesma cidade ou região em que ocorreu o delito, perdendo muitas vezes o
vínculo familiar e de amizade que construiu durante toda a vida.
O cumprimento de pena deve ser o mais próximo da família e da sociedade,
evitando o isolamento total do indivíduo, pois a edificação o fecha, o limita em
espaço e relações sociais e:
Quando resenhamos as diferentes instituições de nossa sociedade
ocidental, verificamos que algumas são muito mais “fechadas” do que as
outras. Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira
a relação social com o mundo externo e por proibições à saída que
muitas vezes estão incluídas no esquema físico, como postas fechadas,
paredes altas e arame farpado. A tais estabelecimentos dou o nome de
instituições totais (GOFFMAN, 1978, p.16).
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
86
O não cumprimento da pena em local o quanto mais próximo da família
ocasiona muitas vezes o enfraquecimento ou até mesmo a perda do vínculo
familiar, porém, em muitos casos, ocorre a migração da família para as cidades
que possuem presídios, com o intuito de facilitar a visita ao apenado. A realidade
tem mostrado que a cidade não está preparada para receber esses novos
habitantes que necessitam de escola, saúde, transporte e moradia, passando essa
população a formar aglomerados urbanos em torno dos presídios.
Aos apenados que retornam ao seu município de origem, é necessário
identificar a rede de serviços existentes nesse município para encaminhamento
após o cumprimento de pena, objetivando a sua reinserção econômica, o
acompanhamento familiar, pois o retorno ao convívio social é naturalmente difícil
após anos de restrição de sua liberdade, fator que é agravado pelo rótulo que
muitas vezes recebe de ex-presidiário.
O estigma trazido pela população carcerária contribui para o descaso,
atribuindo-se um rótulo a essa população, o que torna a efetivação de direitos
nessa área um desafio, sendo necessária a atualização e o monitoramento das
políticas criminais e penitenciárias em que o Estado adote uma postura ativa e não
apenas inerte frente a essa problemática.
Verifica-se que essa população carcerária, além da segregação física,
também sofre uma ruptura com a sociedade, pois rompeu com o pacto social, ou
seja, infringiu normas de convívio social, sendo, portanto estigmatizada, onde o
estigma refere-se:
[...] aos sinais corporais de determinadas pessoas, pelos quais se
procurava evidenciar algo extraordinário ou mal sobre o seu status moral.
Determinadas pessoas eram identificadas por sinais a ferro ou a fogo, a
fim de que ficasse clara sua condição de preso, escravo ou traidor, assim,
tais pessoas eram evitadas, especialmente em locais públicos
(GOFFMAN, 2001, p.49).
Os estereótipos criados sobre a população privada de liberdade contribuem
para que essa população seja esquecida. Acredita-se que uma das causas que
pode explicar essa desatenção por parte dos representantes políticos é o fato dos
presos serem impedidos de votar.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
87
Frente a essa problemática, é necessário o desenvolvimento de políticas
públicas que diminuam a distância entre a sociedade e o apenado no intuito de
desmistificar esse estereótipo formado e alimentado pelos altos muros da prisão.
O obstáculo que se levanta entre a pessoa que foi criminalizada e a
sociedade são acompanhados por um ânimo hostil, pois o preso não é
mais visto como um indivíduo diferente e sim, como um desigual, de
modo a frustrar uma verdadeira reinserção. Os muros do cárcere
representam uma violenta barreira que separa a sociedade de uma parte
de seus próprios problemas e conflitos (BARATTA, 2006, p. 76).
A Lei de Execução Penal preconiza que as ações desenvolvidas no âmbito
prisional devem garantir e fortalecer direitos que não foram restritos com a
privação de sua liberdade, devendo-se oportunizar condições reais para a
transformação e superação da realidade que originou o delito. Nesse sentido, a
LEP prevê a cooperação entre o Estado e a comunidade objetivando a
organização e a implementação de programas e projetos nas mais diversas áreas
das políticas públicas (saúde, trabalho, educação e etc.).
A execução penal demanda uma articulação da rede de serviços locais nas
distintas esferas governamentais e ainda pela articulação com a sociedade civil. A
realização de um diagnóstico detalhado acerca da oferta de serviços e ações
governamentais dos diversos municípios que compõe uma região seria de
extrema relevância para o aprimoramento do processo de reinserção social.
Considerações finais
A sociedade capitalista vem se reproduzindo e gerando alguns poucos
contentados e uma massa de descontentes que também quer partilhar os bens
que essa sociedade produziu, na qual esse desejo, que é instigado pelos meios de
comunição, a sociedade do „ter‟, vai gerar comportamentos indesejados e o
Estado em resposta pune energicamente os pequenos delitos em favor do
patrimônio.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
88
As cidades desenvolveram-se e, com o desenvolvimento, surgiu a
necessidade
de
modernização,
cujas
reformas
urbanísticas
trouxeram
adequações ao crescente fluxo de pessoas e veículos e empurraram para as
periferias e entorno das cidades, as populações de baixas rendas.
3
Nesse contexto, compreende-se que a cidade vem seguindo a lógica
perversa da desigualdade capitalista, onde essa investigação procurou desvendar
o processo de segregação socioespacial, observando que parte da população é
empurrada para a periferia das cidades e parte dela sofre a exclusão total na
prisão.
A dinâmica urbana privilegia parte da população com maior nível de riqueza
acumulada e espolia grande parte da população que não tem suas necessidades
de consumo reconhecidas, fator que é essencial ao modo de vida urbano e
capitalista, o que resulta em uma urbanização excludente e desigual.
O Estado, ao fazer pouco investimento na área social e na periferia, permite
que as pessoas busquem formas de sobrevivência em territórios que muitas vezes
são controlados pela violência, reprimindo com a ação policial e a prisão.
A compreensão de como ocorre o processo de segregação socioespacial
nos leva a entender que a prisão é o ápice dessa segregação, da exclusão social,
na qual se verifica que, grande parte da população carcerária, assim como suas
famílias, não possui direito a cidade e tem, na maioria das vezes, acesso restrito a
políticas de educação, saúde e promoção da cidadania.
O estudo demonstrou que a segregação socioespacial, ao produzir o
isolamento social, torna-se o fator mais importante da desigualdade, gerando o
processo de exclusão social e é na prisão que esse indivíduo segregado
socialmente vai sofrer a “exclusão total”2.
As dificuldades enfrentadas no Sistema Penal revela que o processo de
reinserção social deve ser orientado para que o apenado não volte às condições
de vida que originou a prática do delito, sendo necessário acompanhamento e
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
89
encaminhamento à rede de serviços para a garantia do acesso a políticas públicas
que promovam a sua cidadania.
Para o enfretamento dessa realidade4 perversa, é necessário que o Estado
assuma o seu papel e invista crescentemente em políticas públicas eficazes de
saneamento básico e oferta de bens e serviços nessas áreas degradadas,
permitindo que as populações de baixas rendas façam gozo de uma vida digna a
qual tem direito e diminuam as desigualdades sociais, investindo também no
acesso igualitário dessa população a justiça, evitando assim que seja alvo de uma
seletividade por parte da justiça criminal.
THE PRISON AS A PRODUCT OF A PROCESS OF EXCLUDING AND
UNEQUAL URBANIZATION
ABSTRACT
In this article it will be presented the issue of spatial segregation and its close
relationship with the prison, where the restrictive of freedom punishment becomes
the apex of segregation and social exclusion, realizing that these people, who were
pushed beyond the limits of the city, are now contained by the walls of the prison.
The aim of this study is to demonstrate that the spatial segregation and the prison
are separated by a thin line, which was first held a reconstruction of the historic
prison system, as punitive paradigm by analyzing spatial segregation processes,
which takes population contingents to have difficulty accessing the urban
properties and infrastructure equipment. The research pointed out the urgent need
for investments in public politics that will reduce the discrepancy between the
social spaces, allowing the inmates to return to social reality, and not find the same
conditions that gave rise to the offence.
KEYWORDS: Spatial segregation. Prison. Public politics.
2
Para Goffman (2001), ao ser admitido numa Instituição total, o individuo passa por um processo
de despedida e recomeço. No processo de admissão se obtêm do individuo a sua historia de vida,
sendo ele fotografado, pesado, medido, recebe um número e uniforme, onde passa a pertencer a
um padrão, à uma instituição fechada
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
90
REFERÊNCIAS
BARATTA, A. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal. Rio de Janeiro:
ICC/REVAN, 2006.
BRASIL. Ministério da Justiça. Oferta e déficit de vagas no sistema prisional
brasileiro. Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7BD574E9CE-3C7D-437A-A5B62166AD2E896%7D&Team=&params=itemID=%7BC37B2AE9-4C68-4006-8B1624D28407509C%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11A26F70F4CB26%7D>. Acesso em 23 de jul. 2012a.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Mutirão Carcerário: Raio X do Sistema
Penitenciário Brasileiro. Brasília, DF, 2012b.
FOUCAULT, M. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Focault. Rio de
Janeiro: Graal, 1982.
______. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 25. ed. Petrópolis:
Vozes, 2002.
GARLAND, D. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade
contemporânea. Rio de Janeiro: Revan, 2008.
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.
Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
___________. Manicômios, Prisões e Conventos. 7. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2001.
KARAM. M. L. De crimes, penas e fantasias. Rio de Janeiro: Luam, 1995.
MELOSSI, D.; PAVARINI, M. Los Orígenes Del sistema penitenciário. 2. ed.
Buenos Aires: Siglo XXI ed., 1985.
MISSE, M. Sobre a construção social do crime no Brasil. Esboços de uma
interpretação. 2003, p. 120-146. Disponível em:
<http:\\www.Segurancacidada.org.br\biblioteca\texto\k6-crcrime.pdf>. Acesso em:
17 abr. 2013.
PARANÁ. Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Dados Consolidados do
Sistema Penitenciário do Paraná. Disponível em: <HTTP www.depen.pr.gov.br
arquivos\\file\\gestao2009-1(1).pdf>. Acesso em: 21 jul. 2012.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013
91
PAVARINI, M. Control y dominación: teorias criminológicas burguesas y
proyecto hegemónico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.
PINASSI, M. O. No mundo do capital, a ocasião faz o ladrão. Margem Esquerda:
Ensaios Marxistas. São Paulo, v. 8, p. 42-49, 2006.
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. O Estatuto da Cidade e a questão urbana
brasileira. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz; CARDOSO, Adauto Lúcio (Org.).
Reforma Urbana e Gestão Democrática: promessas e desafios do Estatuto da
Cidade. Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 11-26.
RODRIGUES, A. L. A pobreza mora ao lado: segregação socioespacial na
Região Metropolitana de Maringá. 2004. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) –
Pontifícia Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.
ROLIM, R. C. O policiamento e a ordem: história da polícia em Londrina 1948 –
1962. 3. ed. Londrina: EDUEL. 1999.
SOARES, M. V. B. Cidadania e Direitos humanos. In: CARVALHO, J. S. F de.
Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Vozes, 2004.
SOUZA, R. S. R. Políticas Públicas e violência. Democracia Viva, Rio de
Janeiro, v. 33, p. 38-43, 2006.
YOUNG, J. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença
na modernidade recente. Tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Revan; Instituto
Carioca de Criminologia, 2002.
WACQUANT, L. As Prisões da Miséria. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
______. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de
Janeiro: Revan, 2003.
RevUnifamma, Maringá, v.12, n.1, p.71-84, ago. 2013