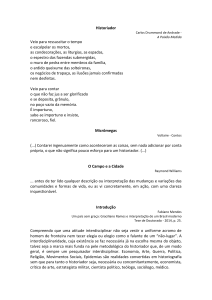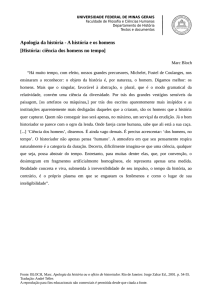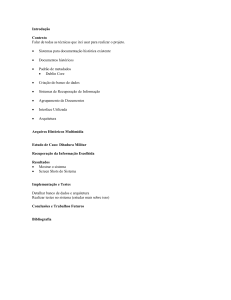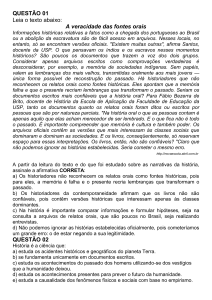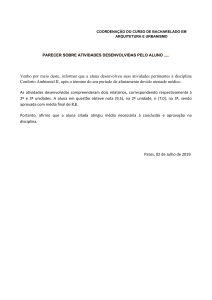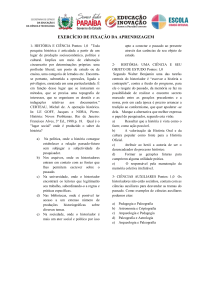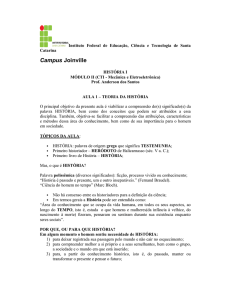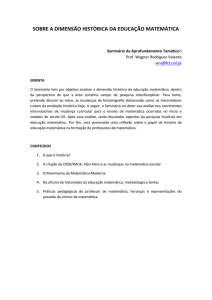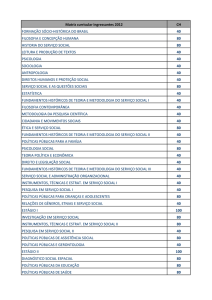O ENSINO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E AS FONTES
Eva Waisros Pereira/UNB
Lúcia Maria da Franca Rocha/UFBA
Introdução
O presente estudo é o resultado de reflexões sobre a utilização das fontes no ensino
da História da Educação Brasileira, decorrente de pesquisa realizada pelas autoras, ao
longo de três semestres letivos, junto a alunos de graduação do curso de pedagogia e de
outras licenciaturas. A metodologia utilizada teve por base o desenvolvimento de um
trabalho pedagógico, de caráter experimental, no qual aliou-se o conteúdo da disciplina a
atividades específicas relacionadas às fontes.
A idéia de trabalhar com documentos em sala de aula emergiu da preocupação de
fazer o aluno compreender que a história é uma construção e não mero reflexo dos
acontecimentos, e que o historiador, no seu ofício, utiliza-se das fontes como matéria prima
indispensável para construir o fato histórico, a partir do seu objeto de estudo e da
problemática proposta. Ao iniciar os alunos nos caminhos da produção do conhecimento
histórico, teve-se, sobretudo, a pretensão de mostrar-lhes que o resultado da pesquisa,
materializado em livros e textos, não traduz uma verdade absoluta e um saber definitivo,
uma vez que essa produção depende da postura teórica do historiador e das escolhas que
realiza.
Os resultados alcançados, embora ainda preliminares, indicam a efetividade da
utilização das fontes no ensino da História da Educação Brasileira e sua contribuição para
o fortalecimento teórico e prático da formação docente.
Um novo olhar sobre a História da Educação Brasileira
Estudos recentes evidenciam que a disciplina História da Educação Brasileira,
desde a sua origem, tem sido marcada pelo caráter utilitário, sendo a sua eficácia medida
não pelo que é capaz de explicar e interpretar dos processos históricos objetivos da
educação, mas pelo que oferece de justificativas para o presente e de guia para a
construção do futuro (Warde, 1990: 9). Nessa ótica, o conhecimento histórico tem em vista
a melhoria das práticas pedagógicas. Em face da relevância atribuída às práticas
pedagógicas nos cursos de formação de professores, tornava-se necessário dar respostas
imediatas aos problemas que surgiam na ação educativa. Daí, no dizer de Warde (1998:91),
a História da Educação estar marcada pela pragmatização. Prevalecia o entendimento de
que a disciplina, ao estabelecer relação mecânica entre o passado, o presente e o futuro,
possibilitaria, mediante o estudo do passado, compreender o presente e intervir no futuro,
evitando que se cometessem os mesmos erros dos antepassados. No entanto, como
questionam Lopes e Galvão (2001: 26), teria a História da Educação esse poder?
Pesquisas que avaliam a produção científica na área identificam um número
significativo de estudos em História da Educação pautados por narrativas que
desconsideram as descontinuidades, retrocessos, ambigüidades e contradições que
caracterizam a História (LOPES; GALVÃO, 2001: 38). Esses estudos concebem o
processo histórico de forma linear, desenvolvendo-se mediante etapas sucessivas, numa
marcha contínua rumo ao progresso, ignorando as práticas educativas dos vencidos e
assumindo um caráter homogeneizador. Como assinalam Cabrini et al (2000: 36), esses
conteúdos “tradicionais” (...) procuram reconstituir uma totalidade enganosa, uma única
história (...)..
Não obstante, os pressupostos positivistas que fundamentam essa concepção de
história têm sido criticados por outras tendências, como o marxismo, e, mais recentemente,
pela Nova História.
Warde (1998: 94-95) destaca a recente aproximação e identificação da História da
Educação com os processos cognitivos em curso no campo específico da história,
fenômeno esse que atribui a diversos fatores, especialmente à proeminência da História
Cultural sobre outras vertentes da História. Em decorrência dessa aproximação,
significativas mudanças vêm ocorrendo no campo da História da Educação, configurando
novos problemas, novas abordagens e novos objetos (NUNES, 1992:151).
A influência culturalista no campo da história da educação é comentada por Warde
(1998: 96):
Em primeiro lugar, e por uma razão de mais longo
alcance, penso que os educadores, enfim, encontraram a partir da História, um
lugar adequado, para acomodar a educação. A cultura é indiscutivelmente um
bom lugar para inscrever os objetos, os sujeitos, as práticas e as instituições
educacionais. Aliás, foi preciso ler os novos historiadores da cultura para se ter
revalorizados muitos dos temas menosprezados no campo pedagógico (...). Em
segundo lugar, incitados a citar novos objetos, novos problemas, a história
cultural abriu para os educadores um manancial inesgotável de novas fontes.
No entanto, pesquisadores constatam que os novos conhecimentos produzidos, em
geral, não chegam à sala de aula, gerando a desatualização e a desvinculação entre as
atividades de ensino e de pesquisa. Como diz Rodrigues (2002:586):
A existência de uma defasagem e incongruência entre a produção historiográfica
e os conhecimentos constantes dos programas e atividades dos professores no
ensino de História e História da Educação parece ser recorrente nos diversos
estudos já realizados sobre as mesmas. Entretanto, parece haver controvérsias em
torno das formulações teóricas que se manifestam no sentido de explicar essa
questão, pois essa é uma problemática das mais contingenciais na explicação dos
fatores que permeiam o ensino, principalmente em relação às clivagens entre
ensino e produção do conhecimento, ensino e pesquisa ou disciplina escolar e
área acadêmica.
Esses conhecimentos trouxeram novos elementos para repensar o ensino da
disciplina, uma vez que as novas abordagens permitem que se analise o objeto de estudo
sob diversas perspectivas, fazendo emergir aspectos antes ignorados, desconsiderados ou
secundarizados, desnaturalizando algo já dado, desconstruindo o que já estava assentado,
enfim, possibilitando a releitura do fato histórico.
Partindo da concepção de história como construção, da qual o homem é o agente
principal, nega-se o mito do saber acabado e da história como verdade absoluta
(CABRINI, 2000: 43). Essa postura teórica implica na adoção de práticas educativas que
levem o estudante a valorizar a diversidade de pontos de vista, a refletir criticamente a
respeito, a levantar indagações, criando, assim, um espaço de embate diante do próprio
saber. Dessa forma, o aluno é estimulado a exercer a sua condição de ser intelectualmente
ativo e capaz de construir o seu próprio percurso para a apropriação do conhecimento, o
que se contrapõe radicalmente à prática vigente, que transforma em mercadoria o
conhecimento como produto pronto e acabado.
As estratégias adotadas no ensino da disciplina
O trabalho pedagógico a que se refere este estudo desenvolveu-se com turmas de
História da Educação Brasileira constituídas por alunos de graduação em pedagogia e de
demais licenciaturas, que possuiam experiências diversas. Muitos deles, inclusive, já se
encontravam no exercício do magistério do ensino fundamental e médio. O programa da
disciplina estruturou-se com base na tradicional periodização Colônia, Império e
República, buscando aliar à cronologia temas que pudessem traduzir questões educacionais
relevantes de cada época. Com essa opção, pretendeu-se, por um lado, tratar de todos os
períodos considerados importantes na nossa História da Educação, e, por outro, estudar
assuntos consagrados pela discussão na área, bem como aqueles que, embora importantes,
só recentemente vêm sendo objeto de análise dos pesquisadores. Assim, os textos
selecionados não se limitavam a oferecer ao aluno uma visão geral da trajetória da escola
brasileira, mas permitiam uma leitura da história da educação sob uma pluralidade de
perspectivas.
Na tentativa de compatibilizar a nossa prática docente com os pressupostos que
sustentam a nossa visão de educação e de história, buscamos no desenvolvimento do
conteúdo propiciar condições para que os alunos, mediante a sua atividade, pudessem
apropriar-se
criticamente
dos
conhecimentos.
As
estratégias
adotadas
visavam
fundamentalmente a provocar no aluno uma reflexão histórica sobre o objeto de estudo.
Sistematicamente discutiram-se os textos, procurando tornar explícitas as relações que
surgiram em cada momento da História da Educação, seu caráter dinâmico e contraditório,
bem como as diferentes situações e especificidades que apresentavam. Exemplo disso é o
estudo que realizamos em sala de aula sobre a escolarização dos meninos e meninas em
Minas Gerais durante o Período Imperial, que veio oferecer maior concretude à temática,
uma vez que as macroanálises tendem a obscurecer aspectos relevantes devido a seu
caráter generalizador.
No intuito de exercitar o raciocínio histórico, priorizou-se, no decorrer das aulas, a
expressão oral dos alunos, visando a que levantassem questões acerca do objeto de estudo,
bem como refletissem sobre questões que nós, professores, formulávamos. Isso fez com
que percorressem um caminho próprio, onde se colocavam indagações a respeito dos fatos
educacionais, de como foram e se poderiam ter sido diferentes, o que influiu para que
fossem de uma forma e não de outra, quais foram os seus protagonistas, que interesses
estavam em jogo, o porquê de determinados agentes históricos não terem sido
considerados, etc.
O trabalho com as fontes em sala de aula
Ao iniciar as atividades com as fontes, utilizou-se a literatura sobre o assunto, a fim
de que os alunos tivessem a compreensão do seu significado intrínsico à pesquisa
historiográfica. Nesse sentido, nos detivemos na discussão de alguns aspectos importantes,
quais sejam:
- as fontes não espelham fielmente a realidade e são representação
parcial de um objeto;
- as fontes constituem o testemunho daqueles que as produziram;
- as fontes não falam por si; cabe ao historiador interrogá-las, relêlas e explicar as mensagens nelas contidas.
- a diversidade de fontes atualmente utilizadas em história da
educação, desde as mais tradicionais, como os documentos
escritos, oficiais ou não, leis, portarias, atas, relatórios, discursos,
cartas, revistas, jornais, etc., até aquelas menos convencionais de
que os historiadores atualmente lançam mão, como depoimentos
orais, iconografia, vídeos, filmes, programas de TV, Internet, e
outros testemunhos de linguagens diversas.
Para cada unidade do programa, selecionamos fontes com conteúdos estritamente
relacionados aos textos discutidos em sala de aula. Assim, por exemplo, na educação
colonial, optamos pelas Cartas dos Jesuítas; na instrução escolar durante o Império,
utilizamos a legislação (Constituição de 1824; o Ato Adicional de 1834; a Lei Geral de
Instrução Primária, de 15 de novembro de 1827); no período republicano, o documento
escrito (O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932), além de vídeos, dentre
eles, o que trata da repressão à Universidade de Brasília durante a ditadura militar. Essa
relação proposital entre as fontes e o conteúdo estudado teve em vista possibilitar aos
alunos compreensão mais clara de que as fontes testemunham pensamentos e ações dos
sujeitos do processo histórico no qual surgiram.
Para o desenvolvimento dessas atividades, foram organizados grupos de trabalho,
cabendo aos próprios alunos a escolha dos seus parceiros. Cada grupo deveria fazer uma
leitura cuidadosa do documento e levantar questões. Essa tarefa, num primeiro momento,
apresentou um certo grau de dificuldade para os alunos, porque, segundo seus
depoimentos, estavam habituados a assimilar passivamente o conhecimento que lhes era
transmitido. O nosso intento era, justamente, o de provocar o exercício da reflexão,
especialmente em se tratando de futuros professores, que devem ter consciência de que são
agentes históricos e sujeitos capazes de produzir o seu próprio conhecimento.
Acrescente-se, ainda, que a dificuldade de formular questionamentos, a que nos
referimos acima, advém também dos condicionamentos existentes nos alunos – e que
existem nas pessoas em geral - de que os documentos escritos se impõem como verdades.
No intuito de minimizar as dificuldades apontadas e colaborar para que os alunos
viessem a desvelar as fontes e procurando exercitar o raciocínio deles para desenvolver
uma interpretação, nós, professores, levantávamos indagações à semelhança das que os
historiadores fazem durante o seu trabalho de pesquisa. Assim, formulávamos as perguntas
usuais: o quê? quando? onde? como? por quê? para quê?, etc.
Importante ressaltar que, durante as discussões, surgiam com freqüência questões
relacionadas com as experiências vividas pelos alunos, o que lhes possibilitava se
entenderem como seres históricos e perceberem os conhecimentos a partir de suas
experiências próprias. Exemplo disso, quando se discutia a educação jesuítica, foi o
depoimento de uma aluna ao relatar que estudou numa escola católica e que ficou marcada
pelo rigor disciplinar e ameaças de castigo e de pecado, em caso de desobediência às
normas vigentes. O fato relatado contribuiu para que ela percebesse a lentidão das
mudanças na educação e suas permanências.
No desenvolvimento das atividades,
fomos introduzindo diferentes tipos de documentos e propondo reformulações nos
procedimentos, a partir das avaliações realizadas, no decorrer do curso, com a participação
dos alunos. A cada semestre dávamos um destaque maior a determinadas atividades
relacionadas às fontes. Assim, num dos semestres realizamos, como atividade final da
disciplina, um trabalho sobre o tema: Origem do Sistema de Educação Pública no Distrito
Federal - década de 1960, relacionado à pesquisa que nós, professores, estávamos
desenvolvendo. Os alunos envolveram-se na coleta de documentos e, por nossa orientação,
foram a arquivos, como ao Centro de Documentação da Universidade de Brasília, Arquivo
Público do Distrito Federal, Instituto Histórico-Geográfico do Distrito Federal, entre
outros, realizaram pesquisa bibliográfica, bem como buscaram documentos e informações
em diversas instituições públicas de ensino criadas nos primórdios da construção da Nova
Capital. Na visita realizada à primeira Escola Parque de Brasília, um grupo de alunos
filmou as suas dependências, apresentando posteriormente essa filmagem aos seus colegas
em sala de aula. Nesse processo de coleta de documentos, houve, inclusive, iniciativa por
parte de alguns estudantes de entrevistar professores pioneiros, em busca de maiores
informações. A partir dos dados coletados, os grupos apresentaram relatório sucinto a
respeito e socializaram as informações obtidas ao conjunto de alunos das respectivas
turmas. Ao final do semestre letivo, organizamos, juntamente com os alunos, uma
exposição sobre o tema, no saguão principal da Faculdade de Educação. Foram expostos
documentos sobre a criação do sistema educacional, fotografias, recortes de jornais, cartas,
depoimentos de alguns pioneiros e dados biográficos sobre Anísio Teixeira, responsável
pela elaboração do Plano de Construções Escolares de Brasília. Essa documentação tratava
da educação escolar em seus diferentes níveis, ressaltava as inovações propostas e as
relacionava a experiências anteriores, como a da Escola Parque, em Salvador.
No semestre seguinte, por ocasião da comemoração dos 70 anos do Manifesto dos
Pioneiros da Educação Nova, considerando que o mesmo representa um marco na
educação brasileira, deu-se ênfase a esse documento no trabalho que realizamos sobre as
fontes. Sob a nossa orientação, os alunos organizaram um acervo, que foi exposto ao
público. Essa atividade culminou com um Seminário, que contou com a presença de
professores convidados que pesquisam sobre o assunto. Os alunos participaram do evento
como parte da atividade programada, levantando questões bastante pertinentes.
A visão dos alunos sobre as atividades com as fontes
As atividades de avaliação a que procedemos no decorrer do curso mostram que, de
forma geral, a disciplina contribuiu para que os alunos alcançassem uma maior
compreensão da educação brasileira, especialmente dos problemas que se apresentaram nas
diferentes épocas e de como os agentes históricos atuaram na tentativa de superá-los. Nesse
sentido, é bastante significativa a fala de um estudante da licenciatura de matemática:
A disciplina contribuiu bastante para a minha formação, pois aprendi a ter uma
visão mais clara e mais crítica a respeito dos problemas e das estruturas
educacionais. A única mágoa que tive é que aprendi a ter essa visão apenas no final
da minha graduação.
Na mesma direção, outro aluno reiterou a importância da disciplina para a sua
formação, ao fazer a seguinte declaração:
Eu tinha uma noção intuitiva sobre muitos dos assuntos estudados, porém a análise
aprofundada de alguns tópicos foi essencial para melhorar a minha formação, até
como cidadão.
Tais assertivas são sinais de que a disciplina vem contribuindo para a formação
acadêmica dos estudantes, influenciando o seu desenvolvimento pessoal e dotando-os de
instrumentos capazes de favorecer sua futura atuação profissional. Mais do que isso, ao
afirmarem a melhoria da sua formação, enquanto cidadãos, demonstram que o processo
educacional repercutiu na dimensão política.
Os depoimentos que atribuem importância às contribuições da disciplina na
formação profissional referem-se particularmente ao desenvolvimento do senso crítico e ao
repúdio à passividade, sustentando a importância de se trazer em sala de aula diferentes
versões dos fatos históricos. Essa tomada de consciência estaria induzindo a uma nova
prática docente. Como declara uma aluna, quando eu for educadora atuante, lembrarei dos
aspectos abordados durante as aulas, procurarei redirecionar minha prática.
A introdução das fontes como objeto de estudo durante o desenvolvimento da
disciplina mereceu uma avaliação específica, realizada mediante um pequeno questionário
que formulamos, com o objetivo de obter informações sobre a percepção dos estudantes no
tocante à atividade. Em princípio, parece ter sido consensual a opinião de que esse trabalho
despertou grande interesse e motivou os alunos, tornando as aulas mais dinâmicas, dada a
diversidade das fontes. Particularmente, alguns estudantes ressaltaram a importância dos
vídeos utilizados: A vida de Anísio Teixeira e Barra 68, este último um documentário
sobre a repressão na UnB durante a ditadura militar. O interesse nas atividades
empreendidas foi assim expresso nas palavras de uma aluna: é gostoso, prazeroso, ter em
mãos documentos com a linguagem da época e de manifestações ocorridas há tanto tempo.
A nossa preocupação de aliar os documentos com a literatura estudada, ensejou
que perguntássemos aos alunos se essa relação favoreceu a aprendizagem dos conteúdos
trabalhados na disciplina. Os depoimentos a esse respeito apontam para a validade do uso
das fontes. O fato de os alunos perceberem que a história é uma construção, cuja matéria
prima são as fontes, e que os fatos históricos podem ter várias interpretações, parece-nos
ter sido uma das razões pela qual alcançaram maior compreensão sobre os textos
analisados, dado o entendimento de que os mesmos não são portadores de uma verdade
absoluta, definitiva e única. É nesse sentido que se configura o depoimento de uma aluna:
(...) através das fontes de pesquisa os alunos têm a chance de entender melhor as idéias
dos historiadores e até tirarem as suas próprias conclusões.
Note-se, porém, que o nível de compreensão dos alunos a respeito do significado
das fontes de pesquisa no campo da História da Educação apresentou variações, em virtude
da heterogeneidade das turmas, derivada especialmente da natureza dos cursos de
licenciaturas dos quais provêem. Para alguns alunos, o documento serve para comprovar os
fatos históricos e, assim, dar credibilidade ao conhecimento produzido pelo historiador.
Nesse caso, a premissa a que se referem é a veracidade do documento. Para outros, as
fontes contribuem para tornar o conhecimento mais real, ou seja, tirar o tema apresentado
do campo abstrato. Exemplificando esse entendimento, uma aluna diz: É o caso das Cartas
dos Jesuítas, que aproxima a gente um pouco mais do passado. Há ainda depoimentos que
mostram a importância das fontes primárias, por permitirem ao estudante adquirir
conhecimento e percepções próprias, ao invés de somente repetir as opiniões de
comentadores e historiadores. Tal percepção acentua-se em outras falas em que os alunos
referem-se ao ofício do historiador. Uma delas assinala que:
As fontes de pesquisa são indispensáveis ao trabalho do historiador. O historiador
não inventa a História, ele constrói um conhecimento a partir daquilo que as fontes
concedem. Sem fontes não há como “fazer” História.
Outra fala reforça esse ponto de vista, ao afirmar que
É de extrema necessidade que o historiador vá direto à fonte, pois se ficar
dependendo das interpretações de outrem, formará um juízo, digamos, viciado –
algo até fácil, já pronto, impregnado da ideologia de outrem. (...) É importante que
ele construa sua interpretação da fonte, não desprezando, é claro, as interpretações
existentes.
Importante reflexão sobre o uso de fonte partiu de um aluno de História, que
certamente possui maior embasamento teórico, ao pontuar que
Ao se trabalhar com fontes são necessários conceitos básicos de Teoria e
Metodologia da História. (...) Deve-se ter critério com as fontes, para evitar erros
correntes no senso comum, como por exemplo, a transposição de conceitos, signos
e ícones nitidamente contemporâneos, para épocas e acontecimentos
cronologicamente anteriores, e que, conseqüentemente, possuem outro conjunto de
representações.
De todo esse trabalho realizado, dois aspectos relevantes foram levantados
freqüentemente pelos alunos: o primeiro deles é o reconhecimento de que a metodologia de
ensino adotada tem como cerne o desenvolvimento da capacidade de reflexão.
Comentando sobre a importância desse enfoque, diz um aluno que com isso formamos a
nossa própria concepção, (assim) a Universidade cumpre o seu papel: o de ensinar-nos a
pensar. O segundo aspecto enfatizado é a importância da iniciação na atividade de
pesquisa. Transparece, pelos depoimentos, que tal atividade não é usual no nosso curso de
pedagogia. Como afirma uma estudante: foi uma novidade para mim e é muito importante,
pois apesar de estarmos em uma universidade, as oportunidades de pesquisa são
praticamente nulas. Esse fato é confirmado por um colega do curso de graduação em
Biblioteconomia, ao dizer que foi a primeira vez que fiz um trabalho como este, para falar
a verdade foi ele quem me fez entrar em um projeto de pesquisa no meu departamento
sobre “Impacto Social da Informação”.
Considerações finais
O testemunho dos alunos coloca em evidência a importância de que se reveste a
disciplina História da Educação Brasileira para a formação do educador. A postura teórica
adotada tem-nos conduzido ao que Nunes (2002:44) preceitua como alargamento da
concepção de espaços e fontes de aprendizagem, o que requer ir além da sala de aula,
envolvendo atividades em bibliotecas, museus, teatros, arquivos de escolas, entrevistas,
entre outras. O trabalho com fontes no ensino da História da Educação, de significado
intrínseco para o campo disciplinar, apresenta esse caráter de ampliação de espaços e
fontes de aprendizagem, distanciando-se, assim, de trabalhos centrados exclusivamente no
livro didático.
No desenvolvimento da disciplina, e particularmente nas atividades desenvolvidas
com as fontes, chama-nos a atenção, sobretudo, o potencial que a mesma apresenta - na
forma em que vem se estruturando -, para desenvolver o senso crítico e a autonomia
intelectual do aluno. Segundo Nunes (2002:45),
O grande desafio é fazer com que os docentes consigam (...) desenvolver um
trabalho direcionado para o ideal de formação, que dote os jovens da capacidade
de apropriar-se do conhecimento como instrumento criativo de inserção crítica
na sociedade.
Nessa perspectiva, a disciplina vem ao encontro dos objetivos essenciais atualmente
preconizados para a formação do docente: um profissional reflexivo e autônomo, que seja
capaz de refletir e tomar decisões acerca de sua ação educadora, construindo propostas de
intervenção pedagógica, criando e recriando a sua prática, (NÓVOA, 1995).
Dada a contribuição que a História da Educação Brasileira pode oferecer à
construção de uma nova identidade do professor é fundamental repensar o ensino da
disciplina, ampliando o desenvolvimento de pesquisas que possibilitem inovações nesse
campo. Nesse sentido, a expectativa das autoras é de que os resultados deste estudo,
embora preliminares, possam contribuir para ampliar a discussão a respeito do tema.
Bibliografia
CABRINI, Conceição et al. Ensino de história: revisão urgente. São Paulo: EDUC, 2000.
LOPES, Eliane M. T.; GALVÃO, Ana Maria de O. História da
Educação. Rio de
Janeiro: DP&A, 2001.
NÓVOA, António (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote,
1995.
NUNES, Clarice. História da Educação Brasileira: novas abordagens de velhos objetos. In:
Teoria & Educação, Porto Alegre, (6), p. 151-182.
______ . História da Educação: interrogando a prática do ensino e da pesquisa. In: LOPES,
Ana Amélia B. M. et al. (Org). História da Educação em Minas Gerais. Belo Horizonte:
FCH/FUMEC, 2002, p. 38-57.
RAGAZZINI, Dario. Para quem e o que testemunham as fontes da História da Educação?.
Educar em Revista, Curitiba, (18), p. 13-28.
RODRIGUES, JOSUÉ R. G. O ensino de história da educação no curso de Pedagogia. In:
LOPES, Ana Amélia B. M. et al (Org). História da Educação em Minas Gerais. Belo
Horizonte: FCH/FUMEC, 2002, p. 583-592.
WARDE, Mirian Jorge. Contribuições da História para a educação. Em Aberto, Brasília,
(47), p. 3-11.
______ . Questões teóricas e de método: a História da Educação nos marcos de uma
história das disciplinas. In. SAVIANI, Dermeval et al (Org). História e história da
educação. Campinas, São Paulo: Autores Associados: HISTEDBR, l998, p. 88-99.