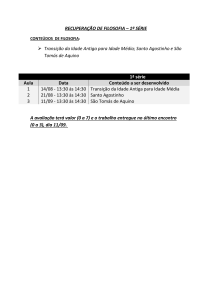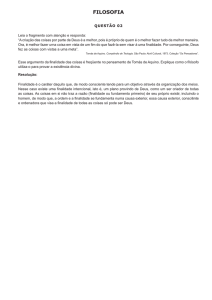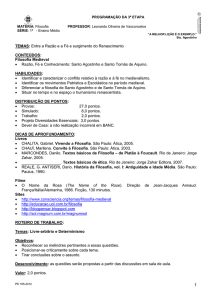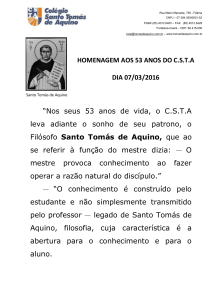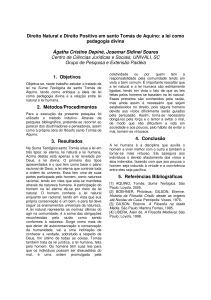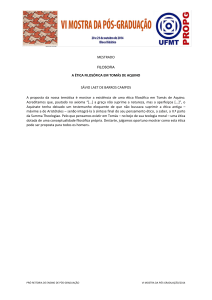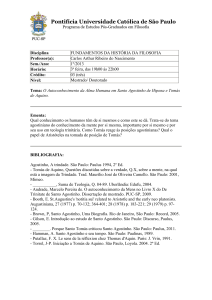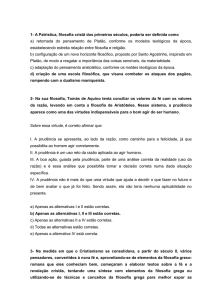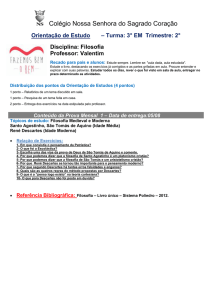A JUSTIÇA EM AGOSTINHO
Na sua principal obra, A cidade de Deus, Agostinho estabelece uma distinção entre
a cidade humana, eivada dos vícios, instabilidades e injustiças próprios dos homens,
que são pecadores a partir do pecado original de Adão e Eva, e a cidade de Deus,
que se estabelece na vida pós-morte, junto aos santos e salvos, e cujas
marcas chegam à Terra por intermédio daqueles que Deus ungiu.
Por conta dessa distinção, na Terra, sua ordem, seus arranjos sociais, sua lei e seus
julgamentos são injustos, na medida da falibilidade e do pecado dos homens. Em
Deus reside a justiça. A chave para o justo passa a ser, então, a fé, a justiça não dos
atos, mas do íntimo do crente.
Nas Confissões, no seu Livro III, são célebres as explicações de Agostinho a
respeito dessa nova justiça, distinta da clássica, pois pautada pela fé:
Ignorava a verdadeira justiça interior que não julga pelo costume mas
pela lei retíssima de Deus Onipotente. Segundo ela formam-se os
costumes das nações e dos tempos, consoante as nações e os
tempos, permanecendo ela sempre a mesma em toda a parte, sem
se distinguir na essência ou nas modalidades, em qualquer lugar. À
face desta lei foram justos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e todos
os que Deus louvou por sua própria boca.1
A justiça, para Santo Agostinho, não se vê no costume, isto é, nas ações do homem
na Terra. Vê-se na lei de Deus. E, assim sendo, não é mensurável pelos atos, mas
apenas pela boca de Deus. É somente assim que se sabe que Abraão e Davi foram
justos. Para Agostinho, ao contrário da tradição jurídica clássica, não é possível
mensurar os atos justos. Chega-se mesmo a considerar uma presunção a busca do
justo pelas próprias atitudes do homem. O justo é uma graça divina.
Está escrito: o justo vive da fé, porque, como ainda não vemos nosso
bem, é preciso que o busquemos pela fé. O próprio bem-viver não o
obtemos com nossas próprias forças, se quem nos deu a fé, que nos
leva a crer em nossa debilidade, não nos auxilia a crer em nossa
debilidade, não nos auxilia a crer e a suplicar. Com estranha vaidade,
fizeram a felicidade depender de si mesmos aqueles que julgaram
encontrar-se nesta vida o fim dos bens e dos males e, assim,
radicaram o soberano bem no corpo ou na alma, ou nos dois juntos.2
Também Agostinho opera um afastamento da tradição clássica ao tratar da justiça
agora como lei retíssima e eterna. Sendo expressão divina, a lei é imutável, e seus
conteúdos de justiça e injustiça são os mesmos para todos os povos e tempos.
Porventura a justiça é desigual e mutável? Não. Os tempos a que ela
preside é que não correm a par, pois são tempos. [...] Não reparava
que a justiça, a que os homens retos e santos se sujeitaram, formava
nos seus preceitos um todo muito mais belo e sublime. Não varia na
sua parte essencial, nem distribui e determina, para as diversas
épocas, tudo simultaneamente, mas o que é próprio de cada uma
delas.3
1
Santo Agostinho, Confissões. Petrópolis, Vozes, 2001, p. 67.
Santo Agostinho, A cidade de Deus. Petrópolis, Vozes, 2001, Parte II, p. 388.
3
Santo Agostinho, Confissões, op. cit., p. 67-68.
2
Inaugura-se, com Agostinho, uma outra visão daquilo que se possa chamar por
direito natural. Para os gregos, o direito natural era a busca da natureza das coisas,
flexível, histórica, social, de cada caso. Para a tradição medieval, o direito natural –
se é que assim se pode chamá-lo na visão agostiniana – é um rol de regras
inflexíveis, não naturais no sentido de que não se v êem na natureza nem na
sociedade, mas que são oriundas do desígnio divino. Nem com a tradição estóica a
visão agostiniana sobre a justiça se parece. Para Cícero, a lei natural era a mesma
porque a natureza do homem é a mesma, e a razão assim também. Para
Agostinho, não é a razão que alcança o justo, nem a natureza do homem, mas o
desígnio de Deus, que é insondável em suas razões.
O poder e a obediência
Sendo a justiça uma expressão divina e os homens pecadores, as ações do homem,
na Terra, são injustas. O mesmo se pode então pensar sobre as leis humanas. Por
extensão, os poderes humanos são defeituosos. Isso levaria a uma insubordinação
à ordem terrena, mas será justamente o contrário que proporá Agostinho.
É verdade que se deva reconhecer a injustiça e a provisoriedade do mando terreno.
A autoridade é injusta, porque é falível. No entanto, Agostinho reconhece que a
autoridade assim o é por conta dos desígnios de Deus, restando então ao homem,
temente a Deus, submissão aos poderes terrenos.
Assim sendo, os homens, ainda que compreendendo que as leis humanas, por sua
falibilidade, são injustas, devem a elas se submeter. As instituições são injustas,
mas o seu poder, ainda assim, deve ser respeitado. Tratando dos juízes, que,
humanamente, podem errar, porque a plena justiça nos julgamentos seria só divina,
mesmo de tal modo Agostinho manda que julguem, para manter a ordem, pois a
sociedade não pode prescindir de tal autoridade. Ainda que injustamente o tribunal
se valha da tortura para arrancar a verdade do réu, a tortura é uma miséria e uma
barbaridade, mas o julgamento é necessário para a manutenção da ordem social:
Que dizer dos juízos que os homens fazem dos homens, atividade
que já não pode faltar nas cidades, por mais em paz que estejam? Já
pensamos alguma vez em quais, quão miseráveis e quão dolorosos
são? [...] Nessas trevas da vida civil, juiz que seja sábio se sentará
ou não no tribunal? Sentar-se-á, sem dúvida, porque a isso o
constrange e obriga a sociedade humana, a qual ele considera crime
abandonar. [...] O juiz sábio não se julga culpado de tantos pecados
e de tão enormes males, porque não os pratica com vontade
perversa, mas por invencível ignorância, e, como a isso o força a
sociedade humana, também por ofício se vê obrigado a praticá-los.
No caso há, por conseguinte, miséria do homem e não malignidade
do juiz.4
A filosofia do direito cristã medieval, assim, finca-se num exacerbado
conservadorismo, de legitimação das injustiças terrenas em razão de uma
insondável vontade divina. Tal visão conservadora, impondo o respeito à ordem
acima da preocupação com a justiça dos julgamentos, das distribuições e das ações,
já faz de Agostinho um grande antecipador do modo de pensar moderno.
4
Santo Agostinho, A cidade de Deus, op. cit., p. 394.
SÃO TOMÁS DE AQUINO
No início da Idade Média, o pensamento de Santo Agostinho tornou-se doutrina
imediata e oficial da Igreja para o que tange às questões de teologia e filosofia. Sua
proeminência foi inabalável até a parte final da Idade Média. Não houve filosofia que
rivalizasse com a agostiniana em prestígio no mundo cristão medieval.
As bases para o agostinianismo estavam assentadas. Os ecos filosóficos do
passado eram apenas os platônicos, ou neoplatônicos, e se ajustavam às ideias de
Agostinho. Os debates medievais, durante muito tempo, ignoraram fontes filosóficas
distintas. No entanto, nos séculos finais da Idade Média, o contato da Europa cristã
com outras filosofias foi decisivo para uma mudança de pensamento.
Por uma fase, a tentativa da Igreja foi a de perseguir e de rejeitar o aristotelismo. No
entanto, ao tempo de São Tomás de Aquino (1225-1274 d. C.), então
definitivamente pôs-se a Igreja a dialogar com o pensamento de Aristóteles. Será
São Tomás o responsável pela grande síntese da teologia católica com o
aristotelismo.
A mais notável obra de São Tomás é a Suma teológica. Nesse livro, resume-se o
extrato mais importante das preocupações filosóficas e teológicas da Idade Média.
Sua envergadura é muito grande, lembrando também, nesse sentido, a amplitude da
própria investigação aristotélica.
O trabalho de São Tomás de Aquino alia, à exegese atenta das obras de Aristóteles,
uma ligação direta à teologia ortodoxa. Além disso, no que tange ao método, Tomás
é um expoente da escolástica. Tal escola de filosofia e teologia, no mundo medieval,
representou um método particular de leitura, compreensão e exposição dos textos
sagrados e das obras que gozavam de reputação e autoridade. Tomás de Aquino se
vale dessa grande tradição passada como meio de argumentação.
Fé e razão
Num ambiente intelectual dominado pelo agostinianismo, Tomás de Aquino
representou uma grande novidade intelectual. Para Agostinho, a fé é o meio
fundamental de acesso à virtude e ao justo. Num contexto filosófico neoplatônico,
somado à visão hebraica do pecado original, a Terra era o ambiente da corrupção
dos valores e atos do homem, e a plenitude da virtude somente era posta em Deus.
Tomás de Aquino, tendo em vista a tradição aristotélica das virtudes como atos do
homem para com os outros, dá um passo em direção à atenuação da dicotomia
entre fé e razão, consolidada já há muito no pensamento cristão. Se para Agostinho
a razão era um substrato menor no concerto da salvação, sempre ofuscado pela fé e
pela graça, para Tomás os atos e a razão passam a ter papel relevante.
Agostinho não deixava margem à ação política e social dos homens, na medida em
que lia o pecado original com tintas muito carregadas. Para ele, o homem, pecador
por natureza, estava eivado de um vício mortal. Tomás de Aquino, reabilitando os
atos, considera o pecado original não uma morte, mas sim uma doença,
da qual se pode conseguir cura. Assim sendo, os homens não estão
necessariamente condenados a produzir injustiça na vida terrena. Podem, ainda que
decaídos pelo pecado original de Adão e Eva, se soerguer tanto pela graça quanto
pelos atos bons e justos. Trata-se de uma debilidade, e não de uma condenação
fatal:
Como foi dito, o bem da natureza que diminui pelo pecado é a
inclinação natural à virtude. Esta inclinação convém ao homem pelo
fato de ele ser racional. É isso que lhe permite agir segundo a razão,
e isso é agir segundo a virtude. Ora, o pecado não pode tirar
completamente do homem que seja racional, porque já não seria
capaz de pecado. Por conseguinte, não é possível que o predito bem
da natureza seja tirado totalmente.5
Assim sendo, Tomás de Aquino, embora não retorne plenamente à filosofia das
virtudes do mundo antigo, atenua grandemente o afastamento teológico em relação
às ações do homem na sociedade. Enquanto Santo Agostinho enfatiza a fé e a
graça como fontes da salvação, Tomás de Aquino, ainda que as mantendo, chama
ao seu lado os atos.
Para Agostinho, em se considerando uma dicotomia invencível entre a vida em Deus
e a vida humana, com virtudes de um lado e vícios de outro, não havia espaço para
que se pensasse a justiça como um agir do homem para com os demais.
Além disso, a justiça divina era tida como um preceito da graça, revelada e
alcançada apenas pela fé. No pensamento agostiniano, fé e razão estão numa
relação ou de confronto ou de grande subordinação da segunda à primeira. Para
Tomás, por outro lado, vislumbra-se já, a partir da relação complementar entre fé e
razão, o espaço a uma racionalidade da justiça na própria ação dos homens para
com os demais.
O tratado das leis
Em termos jurídicos, também Tomás de Aquino atenua os preceitos agostinianos.
Em Agostinho, distinguiam-se a justiça em Deus e a injustiça nos homens – numa
vaga relação com o mundo das ideias e o mundo sensível de uma leitura platônica.
Há, assim sendo, para Agostinho, duas instâncias opostas nas quais a apreciação
do justo e do injusto se dão: Deus e os homens. Embora não maniqueísta,
Agostinho é dual quanto ao justo.
Tomás de Aquino refina o pensamento agostiniano e o da tradição cristã medieval,
trazendo-os mais próximos de Aristóteles e da base filosófica greco-romana. Sem
abandonar o pressuposto da graça e da fé, Tomás insiste no fato de que há a
possibilidade de o homem descobrir, na natureza, atos, comportamentos e medidas
justos. Tais apreciações da natureza são mensuráveis pelo homem, mas se devem
indiretamente a Deus. Assim, além dos mandamentos divinos obtidos por meio da
revelação e da fé, há um espaço das leis naturais, que são divinas porque a
natureza é criação de Deus, mas são passíveis do conhecimento humano.
No quadro da Suma teológica, São Tomás de Aquino dedica aos assuntos da
filosofia do direito duas grandes partes:
- o tratado das leis (I Seção da II Parte, Questões 90 a 108) e,
5
Tomás de Aquino, Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005, v. IV, p. 461.
- o tratado da justiça (II Seção da II Parte, Questões 57 a 80).
Na primeira, dá-se a discussão sobre as específicas leis, aqui entendidas não
apenas no sentido jurídico, mas, essencialmente, moral e teológico – lei eterna, lei
divina, lei natural e lei positiva.
Na segunda parte, então tratando especificamente do direito – que é o objeto da
justiça –, Tomás de Aquino chega à questão do direito natural.
A lei, para São Tomás, é uma regra e uma medida dos atos humanos. É um
princípio que orienta o homem e a natureza, e, por orientar, é passível de
compreensão pela razão humana. No pensamento tomista, somente se considera lei
aquela ordenação que visa ao bem comum. Diferentemente dos modernos, para os
quais basta a validade formal estatal para que uma lei seja assim considerada, e em
consonância com o pensamento dos clássicos, em Tomás de Aquino uma lei que
não é voltada ao bem comum não é lei:
Portanto, é necessário que, dado que a lei se nomeia maximamente
segundo a ordenação ao bem comum, qualquer outro preceito sobre
uma obra particular não tenha razão de lei a não ser segundo a
ordenação ao bem comum. E assim toda lei ordena-se ao bem
comum.6
Tratando das leis de Deus, Tomás de Aquino expõe:
A respeito da lei eterna:
- que é a razão divina, transcendente, que governa o mundo. A lei eterna é
praticamente ininteligível ao homem, na medida em que é da razão divina, e o
homem é a ela subordinado. A lei eterna nada é senão a razão da divina sabedoria,
segundo é diretiva de todos os atos e movimentos.
A respeito da lei divina:
- que é a regra de Deus anunciada aos homens por meio da revelação. A lei divina é
um mandamento revelado ao homem, que o alcança por meio da fé.
Tomados de longe, a lei eterna e a lei divina podem ser compreendidas num bloco,
na medida em que ambas se distinguem das leis naturais e das leis humanas. A lei
divina se manifesta como direcionamento moral e jurídico aos homens, e sua diretiva
é dada por Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
Ao lado desse bloco das leis eternas e divinas, inalcançáveis pela razão humana, há
uma lei que se comunica com os homens a partir da própria existência natural
destes. É a lei natural:
- se verifica na natureza, que é obra de Deus, mas que é inteligível à razão humana.
A lei natural é divina pela sua origem, mas passível de compreensão pelo homem.
Por isso, como todas as coisas que estão sujeitas à providência divina, são
reguladas e medidas pela lei eterna é manifesto que todas participam, de algum
modo, da lei eterna. Assim, por impressão desta (lei eterna), recebemos inclinações
para nossos atos e fins próprios. Isso porque como a criatura racional (homem) está
6
Ibid., p. 524.
sujeita à providência divina de um modo mais excelente, o homem se torna
participante da providência, provendo a si mesmo e aos outros. Portanto, no próprio
homem participa da razão eterna, por meio da qual tem a inclinação natural
(consciência) ao devido ato e fim. E tal participação da lei eterna na criatura racional
se chama lei natural.
[...] Daí se evidencia que a lei natural nada mais é que a participação da lei eterna
na criatura racional.7
A lei natural é considerada, para São Tomás, como uma participação da lei eterna
na criatura racional. Se ela é dada pela razão, mensurável pela natureza, a lei
natural não é conhecida apenas pelos crentes. Qualquer ser humano, pela sua
participação na natureza, dela pode extrair a lei natural. Ela também fala aos
pagãos, e é então por meio dessa lei natural que o que não conhece a fé pode agir
no sentido de sua salvação.
A lei natural, por se encerrar na natureza, atinge tanto aos homens quanto aos
animais. Nestes, a inclinação à lei natural advém do instinto. Nos homens, na sua
parte animal, também o instinto inclina à lei natural. Mas, além disso, há nos homens
uma inclinação racional à lei natural. Por isso ela é superiormente alcançada
pela razão, e o homem se posiciona em relação à lei natural a partir de sua
liberdade, porque não só pelo instinto se volta a ela.
Luis Alberto de Boni expõe a questão do conhecimento da lei natural em Tomás de
Aquino:
Quanto ao modo como o homem chega ao conhecimento da lei
natural, assemelha-se àquele pelo qual chega ao conhecimento dos
primeiros princípios da razão especulativa. Não se trata de um
conhecimento infuso, no sentido de inato, ou de dado ao homem por
uma graça especial – algo que contraria toda a teoria tomasiana do
conhecimento –, nem de um conhecimento dedutivo, o qual, a partir
de umas verdades conhecidas, vai descobrindo outras. Trata-se de
princípios evidentes, cuja retidão a inteligência percebe de modo
imediato. Assim como a razão especulativa apreende de forma
imediata que o todo é maior que a parte, ou que uma coisa não pode
ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, assim
também a razão prática apreende que se deve fazer o bem e evitar o
mal. Este é o enunciado supremo da lei natural.8
Ao contrário do que o senso muito conservador poderia entender, para Tomás de
Aquino – e diferentemente de Agostinho – a lei natural pode mudar. Sendo a
natureza voltada ao fim da plenitude de Deus, seu criador, essa própria natureza
não está inerte. Há novos tempos, novas situações, novas demandas, e, por isso, o
direito natural deve se adaptar, em grande parte acrescendo previsões novas às já
consolidadas. Quanto aos seus preceitos primeiros, a natureza não muda. Quanto
aos seus preceitos secundários, para Tomás de Aquino ela muda. A leitura teológica
7
Ibid., p. 531.
De Boni, Luis Alberto. De Abelardo a Lutero: estudos sobre filosofia prática na Idade Média. Porto Alegre,
EDIPUCRS, 2003, p. 95.
8
dos tomistas conservadores, posteriormente, interpretou a lei natural como um rol de
regras preestabelecidas. O próprio Tomás de Aquino, na lembrança de Aristóteles, é
mais flexível nesse ponto:
Pode-se entender que a lei natural muda, de dois modos. De um
modo, por algo que se lhe acrescenta. E dessa maneira nada proíbe
que a lei natural seja mudada: muitas coisas, com efeito, foram
acrescentadas à lei natural, úteis para a vida humana, tanto pela lei
divina, quanto também pelas leis humanas.
De outro modo, entende-se a mudança da lei natural a modo de
subtração, a saber, de modo que deixe de ser lei natural algo que
antes fora segundo a lei natural. E assim quanto aos primeiros
princípios da lei da natureza, a lei da natureza é totalmente imutável.
Quanto, porém, aos preceitos segundos, que dizemos ser como que
conclusões próprias próximas dos primeiros princípios, assim a lei
natural não muda sem que na maioria das vezes seja sempre reto o
que a lei natural contém. Pode, contudo, mudar em algo particular, e
em poucos casos, em razão de algumas causas especiais que
impedem a observância de tais preceitos, como acima foi dito.9
Além disso, Tomás de Aquino compreende, no quadro das leis, a lei humana,
positiva. Ela não é, necessariamente, algo injusto e corruptível, como o foi na visão
agostiniana. O homem, embebido da fé e da razão da lei natural, pode confeccionar
leis racionais, que portanto auxiliarão no bem comum, na paz e na virtude.
São Tomás de Aquino, assim sendo, postula um quadro das leis partindo de três
grandes quadrantes, e não mais de dois, como o fez Santo Agostinho, que tratava
apenas das leis de Deus, justas, e dos homens, injustas. Para Tomás, há três
grandes tipos de leis. As leis criadas por Deus são de dois tipos: eternas/divinas
e naturais. As primeiras são objeto de fé, reveladas e sabidas por meio da graça. A
razão não as alcança plenamente. Mas as leis naturais são leis passíveis da
descoberta racional pelos homens. Além disso, há as leis humanas, positivas, que,
podendo se orientar pelas leis naturais e pela revelação, não hão mais de ser
consideradas necessariamente injustas, como era a previsão agostiniana.
O tratado da justiça
Ao lado das leis, há a questão da justiça, cujo objeto específico é o direito. Tomás de
Aquino segue em linhas gerais, a esse respeito, o pensamento de Aristóteles na
Ética a Nicômaco. A justiça será por ele considerada o bem do outro, e sua
manifestação específica é distributiva e retributiva. Nesse ponto, Tomás de Aquino
ressalta o caráter casual e não taxativo do direito natural. Não é um direito cerebrino
nem extraído diretamente da teologia. É aprendiz da natureza. O justo natural, que
deveria ser por excelência o método do jurista, é a observação do que é da
natureza, dele concluindo objetivamente as consequências, ou então lhe extraindo
as melhores conveniências:
Como se disse, o direito ou o justo natural é o que, por natureza, é
ajustado ou proporcional a outrem. Ora, isso se pode dar de duas
maneiras: primeiro, segundo a consideração absoluta da coisa em si
mesma. Assim, o macho, por natureza, está adaptado à fêmea para
dela gerar filhos; e o pai, ao filho, para que o nutra. – Segundo, algo
9
Tomás de Aquino, Suma teológica, op. cit., v. IV, p. 569.
é naturalmente adaptado a outrem, não segundo a razão absoluta da
coisa em si, mas tendo em conta as suas consequências: por
exemplo, a propriedade privada. Com efeito, a considerar tal campo
de maneira absoluta, nada tem que o faça pertencer a um indivíduo
mais do que a outro. Porém, considerado sob o ângulo da
oportunidade de cultivá-lo ou de seu uso pacífico, tem certa
conveniência que seja de um e não de outro, como o Filósofo o põe
em evidência.10
Em pleno século XIII, Tomás de Aquino mantém, com o resgate de Aristóteles, a sua
ideia de direito natural como distribuição do justo entre os iguais.
O pensamento tomista abre espaço à razão e aos atos justos, sob a égide de um
direito natural, ainda que mantenha, coroando o sistema do direito e do justo, o
mando divino. Por isso, em termos de filosofia do direito, o tomismo é uma abertura
em relação ao agostinianismo, na medida em que permite ao homem,
novamente, conhecer a medida do justo. Mas é uma abertura parcial, porque
mantém o sistema jusfilosófico sob a égide teológica. Numa posição mais alta que a
razão ainda está a fé, ainda que a fé não negue nem se oponha à razão, já que esta
é serva daquela.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
De Boni, Luis Alberto. De Abelardo a Lutero: estudos sobre filosofia prática na Idade
Média. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2003, p. 95.
SANTO AGOSTINHO. A cidade de Deus. Parte II. Petrópolis, Vozes, 2001.
___________________. Confissões. Petrópolis, Vozes, 2001.
TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005. v. IV.
__________________ . Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005. v. VI.
10
Tomás de Aquino, Suma teológica. São Paulo, Loyola, 2005, v. VI, p. 50.