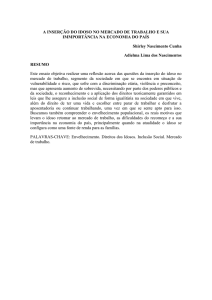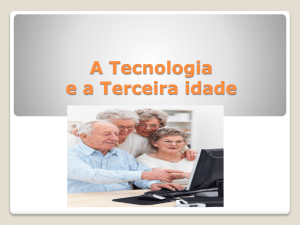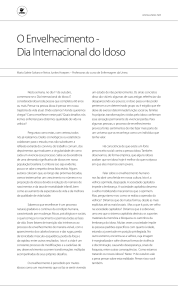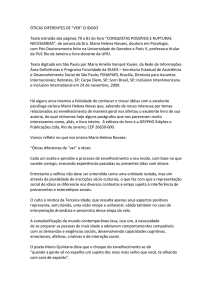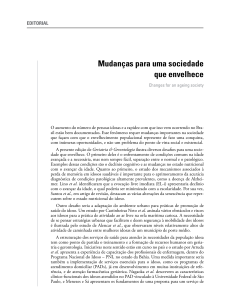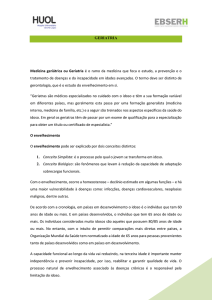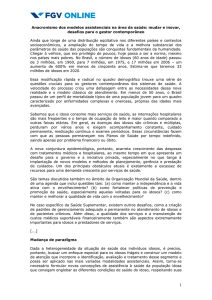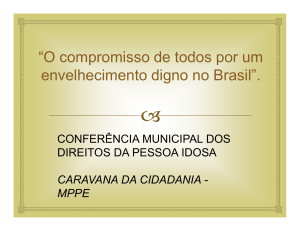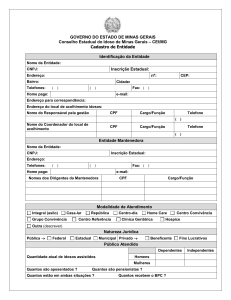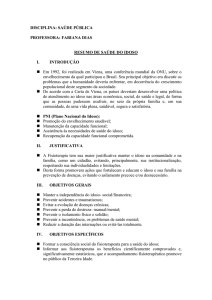A COMPREENSÃO DA REALIDADE SOCIAL
DOS IDOSOS À LUZ DA FENEMENOLOGIA
SOCIAL DE ALFRED SCHUTZ*
Clélia Peretti**
Rosangela Sturba***
Resumo: o presente artigo trata do fenômeno do envelhecimento na sociedade contemporânea e apresenta as contribuições do método fenomenológico de Alfred Schutz
na compreensão da realidade social do idoso no Brasil. Particular ênfase é
dada a categoria “mundo da vida”, ou seja, o mundo dos conhecimentos para
interpretar o mundo de relações, das vivências e os significados que estas adquirem para a vida presente e futura.
Palavras-chave: Fenomenologia. Idoso. Mundo da vida. Dignidade. Direitos.
A
presente pesquisa procura fazer um elo entre o método fenomenológico adotado
por Schutz com o tema atual do envelhecimento populacional, ou seja, apresenta
as contribuições deste método para a compreensão do fenômeno social em questão. Para Schutz (1979), o pesquisador precisar ter uma postura desinteressada
diante do objeto a ser pesquisado e contemplado sem se envolver subjetivamente, precisa manter-se neutro porque seu interesse é apenas científico.
Alfred Schutz parte do conceito de que a sociologia é “uma ciência que tenta compreender de modo interpretativo a ação social e atrás disso explicá-la casualmente
em termos de curso e efeitos”. Da sociologia Schultz adota o método interpre–––––––––––––––––
* Recebido em: 02.06.2014. Aprovado em: 13.06.2014.
** Doutorado em Teologia. Membro da Academia Internacional de Teologia Prática. Professora
no Programa de Pós-Graduação e Bacharelado em Teologia da PUCPR. E-mail: cpkperetti@
gmail.com.
*** Assistente Social. Especialista em Gestão de Políticas Públicas com centralidade na família.
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná, Campus Curitiba. E-mail: [email protected]
345
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
tativo da realidade (1979, p. 9). É o que objetivamos neste estudo: compreender o fenômeno ou a realidade social e oferecer pistas para o enfrentamento da
questão social do envelhecimento em nossa sociedade.
O fato social do envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que iniciou primeiro nos países desenvolvidos em razão da diminuição da mortalidade, dos
avanços na área da medicina, dos serviços municipais na área de prevenção e
saúde, da melhoria da qualidade de vida e do avanço da tecnologia.
Segundo Kalache (1987) o envelhecimento populacional começou a acontecer no final da
década de 1940 e início dos anos 1950 com o aumento das possibilidades de acesso
aos tratamentos das doenças como vacinas, exames laboratoriais, drogas potentes,
melhores condições de trabalho e higiene, dentre outros. Os avanços tecnológicos
na área da saúde, portanto, tem favorecido a longevidade dos brasileiros. Outro
fator que contribui para isso é a queda da fecundidade (IBGE, 2002). Indicadores
sociais constatam que a população idosa no Brasil vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas e tem provocado certa preocupação por parte da sociedade civil e do Estado para atuar no enfrentamento deste dilema. O Brasil de
acordo com a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística será até
2025 o sexto País mais velho do mundo com população de cerca de 34 milhões de
idosos. Atualmente, existem aproximadamente 15 milhões de pessoas com mais
de 60 anos no Brasil contra 10.722.705 em 1991 (IBGE, 2000).
O fenômeno do envelhecimento populacional brasileiro preocupa de certa forma pesquisadores, está sendo matéria de discussões e tem fomentado a realização de
estudos e pesquisas com o intuito de contribuir para o fortalecimento de políticas
públicas e programas específicos para essa parcela da população. Isto porque a
pessoa idosa requer cuidados específicos direcionados às suas particularidades
(MENDES, 2005). As políticas sociais de atenção à pessoa idosa devem, portanto, promover a vida dentro do processo natural do envelhecimento e não segregá-la da sociedade. Essas, por sua vez devem oferecer respostas positivas para que
o envelhecimento seja saudável e com qualidade.
A cada dia nos conscientizamos que o envelhecimento populacional ou a velhice é uma
das expressões da questão social presente na sociedade moderna. De acordo
com Cerqueira Filho: “a questão social tem sua origem no curso da constituição e desenvolvimento da sociedade capitalista, expressando o conjunto de
problemas políticos, econômicos e sociais que a formação da classe operária e
sua entrada na cena política desencadearam” (1982, p. 13).
A realidade social do envelhecimento está de certa forma ligada com a crise de identidade; a mudança de papéis; a aposentadoria; as perdas diversas e a diminuição
dos contatos sociais. Dados do IBGE de 2002 mostram que as pessoas estão
vivendo mais. O grupo de pessoas com idade acima de 75 anos teve o crescimento de 49,3% nos últimos dez anos, em relação ao total da população
346
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
idosa (IBGE, 2002). Contudo a sociedade moderna não está preparada para
enfrentar essa transformação no perfil populacional e, mesmo que as pessoas
estejam vivendo mais e com mais qualidade de vida, não estão conseguindo
acompanhar essa evolução.
ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DA REALIDADE
Para que haja compreensão do fenômeno do envelhecimento, sobretudo da realidade social
do idoso no Brasil, é necessário entender o aspecto da individualidade, como cada
idoso vivencia o seu mundo individual no contexto social e como interage com
os demais, qual a consciência que tem de sua essência e da relação com o mundo
à sua volta. O “mundo da vida” assim chamado por Schutz (1979) é o mundo de
conhecimentos já adquiridos por aqueles que nos antecederam, portanto, é um
mundo de relações aonde cada sujeito vai preenchendo de significados, de acordo
com seus interesses. Quando um idoso vive e se relaciona com os demais, de certa
forma, vai atribuindo significados à sua existência. A sociedade em que vivemos
é marcada pelo individualismo e ativismo na busca desenfreada pela autorrealização. Este “mundo da vida” está revestido de significados diferentes para cada pessoa e o método fenomenológico apresentado por Schutz (1979) ajuda a entender as
relações sociais dos indivíduos a partir de suas vivências dentro do grupo família
ou comunidade, e de que forma estes indivíduos estabelecem suas relações com os
demais e quais suas ações e projeções para o futuro.
O pesquisador ou observador deve se perguntar sobre o significado do mundo social,
daí a importância em estudar a gênese do significado que os fenômenos sociais
têm para nós. Schutz (1979) considera que a salvaguarda do ponto de vista
subjetivo é a única, porém, suficiente, garantia de que o mundo da realidade
social não será substituído por um mundo fictício, inexistente, construído pelo
observador (SCHUTZ, 1979 p. 262- 267). Sobre o assunto básico da sociologia ele assim se expressa:
O campo de observação do cientista social [...] tem um significado específico
e uma estrutura de relevâncias para os seres humanos que vivem, agem e pensam dentro dele. [...] São estes seus objetos de pensamento que determinam seu
comportamento, motivando-o. [...] Assim, os construtos das Ciências Sociais
são, por assim dizer, [...] construtos feitos pelos atores no cenário social, cujo
comportamento o cientista social tem de observar e explicar de acordo com as
regras de procedimento da sua ciência (SCHUTZ, 1979, p. 268-9).
Portanto, o ponto de partida da pesquisa de Alfred Schutz é a interpretação da compreensão do significado subjetivo atribuído aos fenômenos do mundo da vida.
347
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
Para entender os fenômenos do “mundo da vida” relacionados ao envelhecimento, partimos
do princípio de que vivemos numa sociedade ocidental profundamente capitalista
e individualista onde as bases deste sistema de fundamenta na ideia de produtividade e eficiência. O idoso por sua vez, costuma ser considerado como “desnecessário” porque inútil e não serve mais como força de trabalho; na família, pela
sua condição de dependência ou inatividade, o idoso passa a não tomar parte das
tomadas de decisões, acaba sendo muitas vezes excluído ou até mesmo esquecido.
Apreendemos do método fenomenológico, que para entender a realidade social do idoso é preciso observar como ele interage com os outros e com a realidade circunstante e, a partir daí, perceber as tipificações compartilhadas socialmente
como: a linguagem, os costumes, a moral, as regras e os rituais. Assim se
expressa o autor:
[...] a situação particular do indivíduo, conforme definida por ele, é sempre uma
situação dentro do grupo, seus interesses privados são interesses com referências àqueles do grupo, [...] seus problemas particulares estão necessariamente
no mesmo contexto dos problemas do grupo [...] (SCHUTZ, 1979, p. 120).
Com isso ele quer dizer que embora o indivíduo seja único ele faz parte de um grupo e de
certa forma seus interesses pessoais estão ligados aos interesses da comunidade.
Daí a necessidade de entender o fenômeno do envelhecimento a partir do próprio
idoso, de como ele percebe o mundo à sua volta, quais os seus interesses e de que
forma ele se relaciona com a comunidade. Construir uma política social para o
idoso, por exemplo, a partir dos interesses de pessoas que estão fora do contexto
e de suas vivências, é construir sobre bases instáveis. É indispensável acima de
tudo proceder com base aos direitos e dignidade da pessoa idosa enquanto tal,
compreender seus anseios e preocupações em relação ao mundo da vida.
A família é o espaço onde o idoso se identifica e vivencia suas experiências cotidianas. De acordo com Zimerman (2000) se o ambiente familiar for saudável,
de respeito às diferenças, que possibilita a inclusão do idoso, dando a ele seu
espaço, haverá equilíbrio e crescimento. Se por outro lado o ambiente for desarmônico, sem respeito para com as diversidades, o relacionamento entre os
membros será permeado de agressões. O idoso fica excluído ou ignorado nas
tomadas de decisões e cada vez mais se fecha para a existência, ocorrendo assim um retrocesso na sua vida. O idoso deve se sentir motivado para participar
e contribuir com a sociedade mediante os aspectos vivenciados e adquiridos,
chamados por Schutz (1979) de “mundo da vida”.
João Paulo II em sua “Carta aos Anciãos” de 1999 afirma serem os idosos guardiões
da memória coletiva e por esta razão são dignos de respeito. A este respeito,
assim de expressa:
348
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
Se nos detivermos a analisar a situação atual, constatamos que em alguns povos
a velhice é estimada e valorizada; em outros, pelo contrário, é-o muito menos
devido a uma mentalidade que põe em primeiro lugar a utilidade imediata e a
produtividade do homem. Por causa desta atitude, a assim chamada terceira ou
quarta idade é frequentemente desprezada, e os mesmos anciãos são levados a
perguntar-se se a sua vida ainda tem utilidade (JOÃO PAULO II, 1999, n. 9).
As palavras de João Paulo II acima citadas confirmam que a realidade social dos idosos
na sociedade atual e as dificuldades encontradas por este segmento é um fenômeno mundial. Se os anciãos são guardiões da memória coletiva, isto significa
dizer que são intérpretes dos saberes, dos ideais e valores humanos construídos e experimentados no passado que melhoram a convivência social.
Da mesma forma Schutz (1979) define o “mundo da vida cotidiana” como o mundo
intersubjetivo que existia muito antes do nosso nascimento, vivenciado e interpretado por outros que nos antecederam. Schultz afirma que toda interpretação
desse mundo se baseia “num estoque de experiências anteriores”. Este estoque
de conhecimento é como um código de interpretação da experiência atual em
curso e a referência a atos já vivenciados pressupõe memória, lembrança, retenção, reconhecimento (SCHUTZ, 1979 p.72-75).
Os idosos com sua bagagem de experiências e memórias podem oferecer aos jovens,
conselhos e ensinamentos valiosos. Quando a sociedade exclui os idosos, de
certa forma está rejeitando o passado, ou seja, sua memória.
O DIREITO À DIGNIDADE
Para entender o conceito de dignidade segundo Christiane Splicido, (2011) é preciso
saber que a palavra vem do latim “dignitas” e que representa integridade e
honestidade. A dignidade, portanto, nasce com a pessoa, está intrínseco em
cada sujeito, é definida a partir das experiências históricas. Mas como o ser
humano não vive sozinho e sim no ambiente comunitário, em determinado
momento seu pensamento terá que ser respeitado por outros sujeitos que por
sua vez também são dignos de respeito, isto significa que a dignidade de uns
será limitada desde que não viole a dignidade dos outros.
Segundo Culleton (2009), o conceito de dignidade humana depende do modo de como
se compreende a ideia de pessoa, está de certa forma associado às diferentes
culturas e às mudanças de paradigmas no decorrer dos tempos. A partir disso
concluíram que:
se a dignidade humana parte da ideia de que o ser humano é detentor de direitos, tem-se consequentemente, que admitir a necessidade de respeitar os interes349
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
ses básicos do ser humano na exata medida em que esses reclamarem proteção
e respeito, à revelia de qualquer sinal ou manifestação das propriedades especificamente humanas: consciência, entendimento, linguagem, sentimento, etc.
Porém, se a dignidade humana basear-se na concepção atualista de pessoa,
considerando moralmente relevantes aspectos de sua autonomia, não se poderá
reconhecer dignidade a todo e qualquer ser humano (CULLETON, 2009, p. 73).
A concepção “atualista” de que fala Culleton (2009), é quando o ser humano age de
forma consciente em detrimento da vida dos outros, considerando “direito”
pessoal, ações como o aborto.
Com base nos estudos de Schutz (1979) sobre a fenomenologia social e sua contribuição com as ciências sociais, cabe aqui destacar que o tema do direito à dignidade humana se enquadra precisamente com as ideias do autor. O conceito
de consciência pessoal do pensar e do sentir, tendo como ponto de partida o
“eu”, está em sintonia com a origem do direito. De acordo com Danuvola e
Monaco (1995), o direito nasce a partir da presença de outra consciência, ou
seja, da presença de outro sujeito que nos interpela com a pergunta: “Por que
me faz isso”? É esta a base onde se instaura o reconhecimento do outro como
aquele que faz parte da mesma natureza, não obstante suas diferenças, mas
com a mesma dignidade e direito de realizar o seu projeto de vida único e irrepetível. Considerar os outros como pessoas já é o começo de uma trajetória
dos direitos humanos.
Os idosos são um segmento da sociedade muitas vezes desprovido dos seus direitos
primordiais como a dignidade, a vida, a alimentação, o convívio familiar e
comunitário, a afetividade, entre outros. De acordo com João Paulo II (2009),
mesmo com tantos avanços positivos em relação aos Direitos Humanos Universais, proclamados nas declarações dos povos, e o aumento da consciência
comum do reconhecimento da dignidade humana, ainda há um longo caminho
a ser percorrido para amenizar as marcas do passado e as feridas do presente.
A CNBB em 2003 lançou a Campanha da Fraternidade como tema “Fraternidade e Pessoas Idosas” e o lema “Vida, dignidade e esperança”. Esta temática suscitou
muitas discussões porque fez um apelo à sociedade brasileira para ser construtora de novos relacionamentos na valorização integral às pessoas idosas e
respeito aos seus direitos (CF Texto Base, 2003). Os direitos de dignidade e
liberdade estão interligados. O respeito pelo outro é uma forma de aceitação
da individualidade, particularidade e modo de viver do outro porque, independente da condição social, raça, costumes, todos tem o direito a viver com
liberdade e dignidade. De certa forma, a falta de conhecimento das pessoas
sobre as necessidades específicas dos idosos causa preconceito e desrespeito
para com seus direitos.
350
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
O Estatuto Idoso (2004) foi um grande avanço na garantia dos direitos individuais e
coletivos dos idosos no Brasil. Esse vem reafirmar e regular os direitos dos
idosos previstos na Lei 8.842 que enfatiza o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à alimentação, saúde, trabalho, previdência, cultura, educação, lazer,
assistência, transporte, habitação, respeito e dignidade. A questão é fazer com
que esses direitos sejam assegurados e efetivados. O reconhecimento dos direitos da pessoa idosa vem evoluindo, no âmbito nacional, por meio do diálogo
com a sociedade e da coesão entre as políticas públicas. Nos últimos oito anos,
realizaram-se três grandes Conferências Nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa (2006, 2009, 2011), que propuseram a Rede Nacional de Proteção e Defesa
da Pessoa Idosa e contribuíram no processo de efetivação dos direitos da pessoa idosa previstos na Política Nacional da Pessoa Idosa, no Estatuto do Idoso
e no Plano de Ação Internacional contra o envelhecimento (ONU, 2002).
PERSPECTIVAS FUTURAS DOS IDOSOS
Observando do ponto de vista do mundo subjetivo, as perspectivas para o futuro dos
idosos estão em relação com os sentimentos positivos e de aceitação das mudanças físicas do presente, demonstrados por meio de opiniões a respeito do
significado do envelhecer. O sociólogo francês Bastide (1999) afirma que a
regra fundamental para viver bem o presente é jamais utilizar a expressão “no
meu tempo”, porque o melhor tempo é o “hoje” e este tempo deve ser valorizado e vivido com serenidade e flexibilidade. Isto significa que o idoso, embora
“seletivo” em relação aos seus interesses, precisa estar aberto sobre o futuro e
viver “presente” no presente. Para situar-se no tempo presente ou no mundo do
futuro requer-se que os idosos estejam atentos ao momento histórico em que
vivem e às mensagens das demais gerações.
A este respeito Alfred Schutz (1979) apresenta o conceito do voltar-se de dentro para
fora, da essência para a existência, ou seja, para o mundo da vida. O mundo
da vida constitui a base de sentido para toda experiência humana, e esta vida
deve estar preenchida de significados. A pessoa idosa se coloca diante da vida
como um sábio que reconhece as limitações da idade, que seleciona o que lhe
interessa e entende o sentido do seu existir tão fundamental quanto de qualquer outra pessoa.
Se por outro lado observarmos de fora para dentro, o mundo exterior e as realidades sociais que envolvem a vida dos idosos fazem-se necessário entender de que forma
a família, a sociedade, o poder público estão planejando o futuro para prover
uma vida digna para os idosos. Segundo Maria Helena Novais Mira (2009), a sociedade futura com seu crescimento exponente, com mudanças e transformações
científicas, tecnológicas e sociais, políticas e geográficas, precisa:
351
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
[...] preparar o idoso para enfrentar o imprevisível, as frustrações de suas expectativas, interligando a arte, a ciência e a técnica à prática do convívio social
e educativo contribuirá em muito para o processo da transformação cultural
(MIRA, 2009, p. 29).
A afirmação de Maria Helena Novaes Mira (2009) reafirma que a sociedade precisa
estar preparada para perceber e acolher os idosos, bem como auxiliá-los a se
tornarem participantes ativos em todas as esferas: social, política, esportiva,
artística, sanitária, científica, entre outras, independente dos contextos socioculturais.
APRENDER DO IDOSO A SABEDORIA
A visão fenomenológica de Schutz (1979) sobre a realidade social se deixa aplicar na sociedade contemporânea e em particular esta contribui na compreensão do objeto
de estudo, através do método interpretativo que valoriza a essência da vida. A
essência deste fenômeno é a visão subjetiva a partir do idoso. O idoso tem muito
a contribuir com a sociedade porque traz consigo uma grande bagagem de experiências, vivências, conhecimentos, culturas, memórias e sabedoria.
Papa Francisco em sua visita ao Brasil (2013) por ocasião da Jornada Mundial da
Juventude, relembrou aos repórteres que seguiam a comitiva papal sobre o
respeito que se deve dar aos jovens e idosos e condenou a chamada “cultura da
rejeição” que da importância às pessoas no seu aspecto material e produtivo e
desvaloriza os extremos: jovens que ainda não estão no mercado de trabalho
de maneira tão ativa, e os idosos que já não estão mais neste contexto econômico e industrial de maneira produtiva. Na Catedral do Rio de Janeiro, o Papa
Francisco mais uma vez ressaltou que “uma sociedade que esquece os seus
idosos tende ao fracasso”; é preciso que haja um diálogo intergeracional.
A valorização da sabedoria do idoso é um desafio a ser conquistado a partir de um
aprendizado que começa na família, no cultivo dos valores essenciais, na compreensão de que o idoso é um cidadão de direitos, com sua individualidade e
particularidade, digno de respeito e amor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou compreender a realidade social dos idosos na visão de Alfred
Schutz como um fenômeno social em evidência nos tempos atuais e que requer
uma atenção especial por se tratar do futuro da sociedade.
O pensamento de Schutz sintetiza enigmas colocados para as ciências humanas e apresenta contribuições originárias para a problemática da intersubjetividade na
352
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
sociedade contemporânea e contribui para compreender as expectativas do
idoso diante do seu ambiente familiar e social. Dessa forma, a fenomenologia
de Schutz voltada para a compreensão da subjetividade do idoso, conduz a
uma visão das necessidades e perspectivas de cuidado integral e aponta para
a necessidade de capacitação de agentes para o cuidado. O ser humano é um
ser social, na experiência de convivências e de relação consigo mesmo, com as
coisas e com os outros vai formando o seu “eu biográfico”, o qual vai motivá-lo para a ação.
Da mesma forma que o idoso precisa estar aberto às mudanças sociais e aos avanços
da tecnologia, a sociedade e em primeiro lugar a família, também necessita
acolher o idosos e fazê-los encontrarem seu espaço de protagonismo valorizando, sobretudo sua sabedoria e experiência de vida. As Políticas Públicas de
atenção ao idoso devem ser construídas, de dentro para fora, ou seja, a partir
do idoso, levando em conta os seus anseios e as suas necessidades, observando
o contexto social, histórico, cultural, econômico e seus significados.
É preciso oferecer aos idosos meios eficazes para sua convivência harmoniosa na família e na sociedade favorecendo a dignidade humana, fortalecendo os vínculos
relacionais, promovendo a saúde e a inserção no mundo da vida para que não
sejam excluídos e ignorados.
O tempo social do idoso é uma vivência com conotações históricas, baseadas em culturas específicas e tanto o idoso como a sociedade produzem expectativas em
relação ao envelhecimento que se configura na capacidade de flexibilidade e
adaptação do “eu” ao mundo criando um escudo contra as adversidades associadas como: a discriminação, exclusão, violência e abandono.
THE UNDERSTANDING OF THE SOCIAL REALITY OF THE ELDERLY IN THE
LIGHT OF THE SOCIAL PHENOMENOLOGY OF ALFRED SCHUTZ
Abstract: this article explores the phenomenon of aging in contemporary society. It presents the contributions from Alfred Schutz’s phenomenological method in understanding the social reality of the elderly in Brazil. Particular emphasis is
given to the category Lifeworld, that is to say, the world of knowledge to interpret the world of relationships, experiences and meanings that acquire for the
present and future life.
Keywords: Phenomenology. Elderly. Lifeworld. Dignity. Rights.
Referências
BASTIDE, Paul Arbousse. A ideia do tempo e do envelhecimento. In: A terceira idade. Serviço
Social do Comércio (SESC), São Paulo 1999; 5(29), p. 53-61.
353
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014
BERGOGLIO, Francisco, Papa. Papa fala sobre os idosos. Disponível em: http://larsjd.blogspot.
com.br/2013/07/papa-francisco-fala-sobre-os-idosos.html. Acesso em: 10.04.2014.
BRASIL. ESTATUTO DO IDOSO: Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília,
DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004.
CERQUEIRA FILHO, Gisalio. A questão social no Brasil. Crítica do Discurso Político. Rio de
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, Coleção Retratos do Brasil, v.162, 1982.
CNBB. Vida, dignidade e esperança. Fraternidade e pessoas idosas. Campanha da Fraternidade.
Texto Base CF 2003. São Paulo: Editora Salesiana; 2002.
CULLETON, A.; BRAGATO, F.F.; FAJARDO, S. P. Curso de Direito Humanos, Editora Unisinos, São Leopoldo, 2009.
DANUVOLA, Paolo, MONACO, Franco (a cura di). Diritti umani. Caritas Piemme, Casale
Monferrato, 1995.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil: 2000. Rio de Janeiro, 2002.Disponível em http://www.
ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/25072002pidoso.shtm. Acesso em abril 2014.
JOÃO PAULO, PP.II. Carta aos Anciãos do Papa João Paulo II. Nº 174, Edições Paulinas, São
Paulo; 1999.
KALACHE, A. ET. AL. O envelhecimento da população mundial. Um desafio novo. In: Revista
de Saúde Pública, São Paulo, 21, 200-210, 1987.
MENDES. Márcia Barbosa RSS, GUSMÃO. Josiane Lima, FARO. Ana Cristina Mancussi e,
LEITE. Rita de Cássia Burgos de Oliveira. A situação social do idoso no Brasil: uma breve consideração. Publicação eletrônica Acta Paulista Enfermagem, Unifesp, São Paulo 2005; vol.18
nº4: 422-6. Disponível em http://www.unifesp.br/acta. Acesso abril 2014.
MIRA, Maria Helena Novaes. O Idoso olhando para o futuro: “conquistas possíveis e rupturas
necessárias”. Edições e Publicações Ltda – Rio de Janeiro, 2009, p. 28 a 31.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plano de ação internacional contra o envelhecimento. Organização das Nações Unidas; tradução de Arlene Santos. Brasília, 2002. Série Institucional em Direitos Humanos; v. 1
SHULTZ, Alfred. Fenomenologia e Relações Sociais: Textos escolhidos de Alfred Schutz. Zahar
Editores: Rio de Janeiro,1979.
SPLICIDO, Christiane. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à prova em face à
Lei Orgânica da Assistência Social. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_
id=9662&revista_caderno=20>. Acesso em abril 2014.
ZIMERMAN, Guite I. Velhice: aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: Artes Médicas Sul,
2000.
354
, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 345-354, jul./dez. 2014